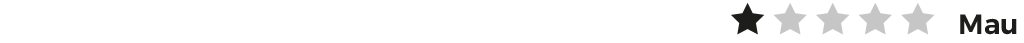“Un peuple et son roi”: povo ou Nação?

A palavra “nação” pertence a um grupo de vocábulos de índole política cuja pluralidade semântica por vezes gera choques entre os seus significados. Na sua aceção que concerne o conjunto de indivíduos de um determinado território ou cultura, este conceito adquire, conquanto se possa ver toda a linguagem como tal, um vincado caráter de palavra-fetiche. Não querendo adotar uma posição excessivamente pós-estruturalista, numa sociedade de classes e desigualdades, apenas através de uma lente idealista se pode ver a nação enquanto entidade una e burocraticamente representativa de um grupo de pessoas.
Para o discreto lançamento comercial português do mais recente filme de Pierre Schoeller – e, curiosamente, de igual modo para o seu lançamento em terras anglófonas -, os seus tradutores optaram por traduzir o seu título francês, Un Peuple et son Roi, para Uma Nação, Um Rei. Em teoria, nada de errado aqui. Todavia, “peuple” é mais versátil que “nação”, comportando significados que a última não contempla. Aliás, “nação” encontra na língua francesa um equivalente mais próximo, tanto a nível semântico, como etiológico: “nation”. Deste modo, o equivalente mais adequado para a situação em mãos seria “povo”. É evidente que “povo” e “nação” podem constituir sinónimos, porém, na medida em que o primeiro vocábulo pode referir-se a uma parte concreta, socialmente definida, de todo o povo, isto é, da Nação, melhor espelha aquelas que aparentam ser as preocupações de Schoeller na sua obra.

“Un peuple et son roi”
Sumariamente, esta multimilionária produção francesa relata, com o devido rigor histórico (leia-se: pompa), os eventos da revolução francesa desde a tomada da Bastilha ao regicídio. Contudo, como nos sugere o título original, o filme procura fazê-lo do ponto de vista do povo, procurando torná-lo o seu protagonista. Este conceito defeituoso está na base do grande problema do filme, que se vê no estranho impasse entre dar à Assembleia Constituinte o papel de voz do povo e mostrar o antagonismo entre estes dois, dado o facto de os deputados que dela faziam parte serem oriundos da burguesia. Como conciliar uma celebração do poder revolucionário do povo com a saudação de uma forma de governo que não só limita a sua participação ativa na vida política da Nação, mas também beneficia aqueles que detêm maior poder económico? Troca-se um tirano por outro.
Não se requer a um filme que represente da forma mais realista possível aquilo que podemos ler num livro de história, e, por isso, Un Peuple et son Roi bem poderia constituir uma narrativa que se apoia nalguns eventos da revolução francesa para construir uma ficção sobre o tema que melhor acomodasse a ideologia do filme, ignorando outros para o bem da coesão da obra – ainda que, convenhamos, a História seja um objeto a manusear com cuidado. Contudo, este não é o caso, pois ao reger-se pela fidelidade à documentação histórica, o filme acaba por encerrar em si mesmo o argumento contrário (e mais convincente), sem, no entanto, abdicar da tese geral, revelando uma falta de atitude crítica perante o seu próprio material.

“Un peuple et son roi”
Apesar das suas falhas, Un Peuple et son Roi não deixa de atingir alguns momentos de eloquência. De particular destaque é uma cena em que o casal popular que protagoniza a obra troca impressões sobre o rei. Ambos são membros bastante ativos na revolução e contudo falam sobre a figura real com grande admiração, como se de uma divindade se tratasse – efetivamente, era essa a crença sobre a qual se pretendia que a população vivesse. Contudo, tanto um como o outro tiveram contacto com um membro do casal real e é como se o toque divino que havia escolhido a família da monarquia para conduzir França tivesse sido agora passado para eles, tornando-os dignos de implantar o seu próprio governo. Esta curiosa cena ilustra a forma perversa como foram acordados para a revolução e como consciência de classe e saudosismo coexistem nas massas. Noutros momentos, Schoeller encontra a poesis da História: a destruição de uma torre da Bastilha faz incidir raios solares sobre as habitações pela primeira vez, à qual imagens de uma tempestade solar são sobrepostas – uma metáfora para a plenitude de ser que remonta à época medieval, quando se postulou que a luz era a substância estrutural do cosmos -; a invasão da residência real em Paris leva uma garota a dançar entre uma chuva de penas de almofada lançadas das janelas. Infelizmente, a subtil beleza desta segunda imagem é em parte afetada pela montagem frenética que permeia todo o filme.

“Un peuple et son roi”
Efetivamente, na montagem de Laurence Briaud, frequente colaborador de Arnaud Desplechin, eventos apressam-se uns sobre os outros sem grandes transições entre eles. Este período da História francesa é complexo, pelo que concessões tinham de ser feitas de modo a cobrir o espaço temporal a que a equipa se propôs num tempo adequável às muito atarefada vida e muitíssimo limitada atenção dos espetadores, mas ainda assim o resultado é abaixo de ideal. Esta massa ritmicamente amorfa dá a impressão de ser o resultado de uma montagem conservativa de um sem fim de horas de material. Porém, a situação é precisamente a oposta, sendo a presente obra apenas a primeira parte de um díptico, o que explica o casting de atores de renome para figuras que tiveram um papel fundamental nos eventos que sucederam a execução do rei – Louis Garrel como Robespierre e Denis Lavant como Marat; a este respeito vale a pena ainda referir a breve mas excelente prestação do jovem Neils Schneider como Saint-Just. Mesmo numa só cena, por vezes diferentes planos sucedem-se a um ritmo mais acelerado do que a narrativa pediria.
Um outro dos momentos altos é a cena da decapitação do rei, encenada da forma mais fria e metódica possível: num grande plano aéreo, vemos a guilhotina cair sobre o pescoço do monarca, o seu barulho seco precipitando a real cabeça, pequena como uma ervilha, para dentro de um cesto. Com a multidão ainda em silêncio, diante da esterilidade dramática do momento, um grito queixoso eleva-se: “C’était mieux avant!”, trágico prenúncio da deceção de um povo que descobre que esta revolução afinal não fora para si. Ainda em vida, Louis XVI, extraordinariamente interpretado por Laurent Lafitte, havia proclamado para a multidão: “Mon peuple… Mon bon peuple!”. “Povo” ou “nação”? A desconformidade entre o título original e a sua tradução refletem o engano de um filme que cai na falácia da crença na Nação-fetiche. Ninguém esperava de um filme como este uma perspetiva sobre a revolução francesa à altura de Albert Soboul, mas este nível de saneamento denigre Un Peuple et son Roi a pouco mais que propaganda burguesa.