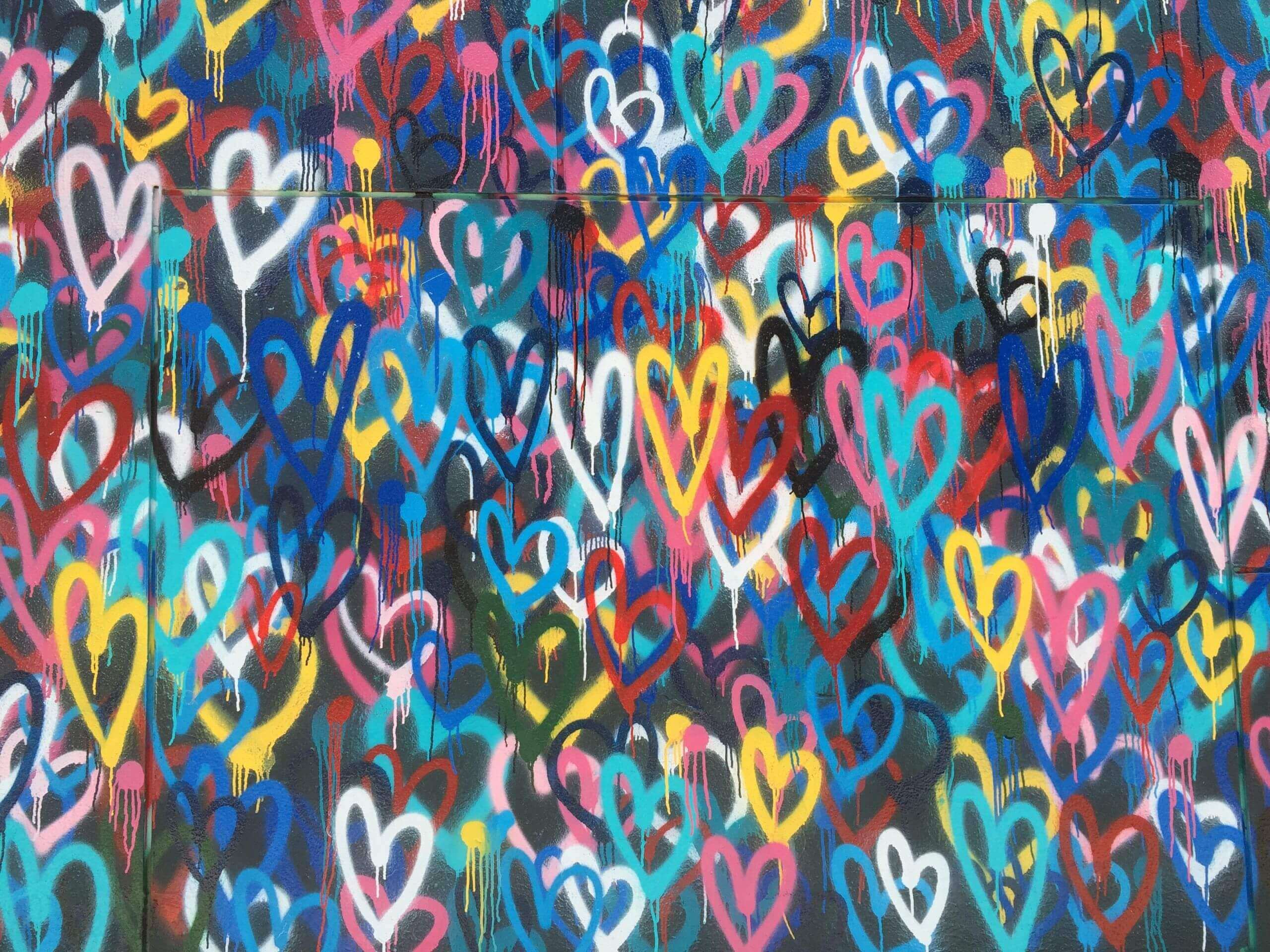É preciso reinventar o amor (e voltar à Grécia Antiga)

Há uns tempos, ao ver um filme manhoso na matiné televisiva, de cujo título nem sequer me lembro, retive uma coisa que disse um dos personagens, muito mal-amanhado, por sinal, tanto a nível do guião como da interpretação. Era algo do género: “Os budistas dizem que quando conhecemos alguém, se o coração bater forte, as mãos tremerem e os joelhos fraquejarem, significa que não é a pessoa certa. Quando conhecemos uma alma gémea, sentimo-nos calmos. Sem ansiedade, sem agitação.”
Não acredito em almas gémeas, provavelmente nunca irei acreditar, mas esta frase espirituosa recordou-me uma entrevista ao psicanalista António Coimbra de Matos, que li há uns anos.
Uma das coisas que me ficou das palavras de Coimbra de Matos foi que ao conhecer a sua mulher, Teresa (já falecida), soube que era amor porque “era uma relação diferente de outras namoradas que tive. Uma coisa calma, agradável, harmoniosa.” A mulher com quem esteve casado quase 60 anos trazia-lhe paz, harmonia, tranquilidade. Tudo características amorosas que parecem avessas ao paradigma do amor romântico.
A ideia do amor romântico, criada aproximadamente a meio do século XVIII, é ainda o modelo que persiste na maior parte das relações amorosas contemporâneas. Antes disso, os casamentos eram apenas contratos em que teríamos de aceitar o que fosse melhor para o interesse das famílias. Devemos perguntar-nos se o balanço da experiência é positivo, após tantos séculos de casamentos baseados no modelo romântico. Os casamentos são, de um modo geral, relações bem-sucedidas e felizes neste modelo romântico? Será que não somos dependentes da ideia de amor que as sociedades vão criando como aceitáveis? Teremos alguma liberdade nisto?
Somos actualmente herdeiros do romantismo, cujas regras determinam e nos querem fazer crer que, algures perdida no mundo, a nossa alma gémea anseia por se reencontrar connosco para se sentir completa e para nos completar. Segundo esta teoria, quando conhecermos a nossa alma gémea vamos reconhecê-la imediatamente porque nos dará um sentimento especial; uma faísca, uma chama, os tais joelhos que fraquejam. Se tal não acontecer, ficamos preocupados, não é assim que acontece nos filmes.
Sobre este assunto, recordo-me de assistir há uns anos a uma palestra do Alain de Botton (pensador light, a quem não acho muita piada, mas que neste discurso teve interesse e graça). Botton dizia que os românticos provavelmente não trabalham, ou só trabalham um bocadinho, porque, se pensarmos bem, os cenários românticos exigem tempo — longas tardes passadas no jardim ou em frente ao mar, passeios até de madrugada pelas cidades, e, claro, apanhar várias vezes o crepúsculo, aqueles segundos em que o sol se põe e aparecem os tons rosa, e os apaixonados trocam um olhar cúmplice em silêncio, sem se preocuparem com o que vão fazer para o jantar; tudo isto, segundo o nosso actual modelo, é muito importante para o amor (romântico).
Custa-me admitir, mas concordo com Alain de Botton nesta questão do amor. Seria bom recuarmos à Grécia Antiga. Os gregos tinham uma ideia mais sensata sobre o amor amoroso. Acreditavam que quando amamos alguém entramos num processo de educação mútua, ao contrário do amor romântico que nos quer fazer crer que temos de amar e aceitar tudo na outra pessoa, e se tal não acontecer é porque não a amamos. O romantismo fez com que esta questão da educação no amor amoroso nos pareça ilegal nos dias de hoje. Encaramos o processo de educação mútua como uma traição ao amor, porque o consideramos ilegítimo. É claro que a pessoa que amamos vai encontrar defeitos em nós (e vice-versa), mas não se ensina ninguém aos gritos ou a humilhá-la, que é o que normalmente acontece quando o processo de educar o outro surge demasiado tarde nas relações. E é este o cenário actual. Primeiro, fingimos que aceitamos tudo no outro, e só quando a intimidade se estabelece a sério é que ficamos histéricos a tentar mudar quem escolhemos para partilhar o projecto de vida.
Segundo Botton (e eu concordo outra vez, caramba), é preciso reinventar o modelo do amor. Não devemos apenas ser guiados pelo instinto quando conhecemos alguém, porque o instinto conduz-nos normalmente ao padrão errado, ao que conhecemos através da família (a psicanálise explica bem). Deveríamos aceitar e dar valor à educação numa relação — à nossa e à do outro. Ter noção de que só se ensina verdadeiramente alguém com calma e doçura, sem recurso a gritos ou à humilhação.
Termino voltando ao Prof. Coimbra de Matos: “Não é fácil amar, mas é bom. E se não se amar, não se vive.” Só quando começamos a amadurecer percebemos que o amor dá trabalho e que devemos escolher conscientemente a pessoa que nos complementa (e não completa) e não deixar algo tão importante nas mãos do destino ou do instinto, ou do que lhe queiramos chamar, que não passe por nós. “É preciso reinventar o amor, toda a gente sabe”, disse Rimbaud, e eu subscrevo.