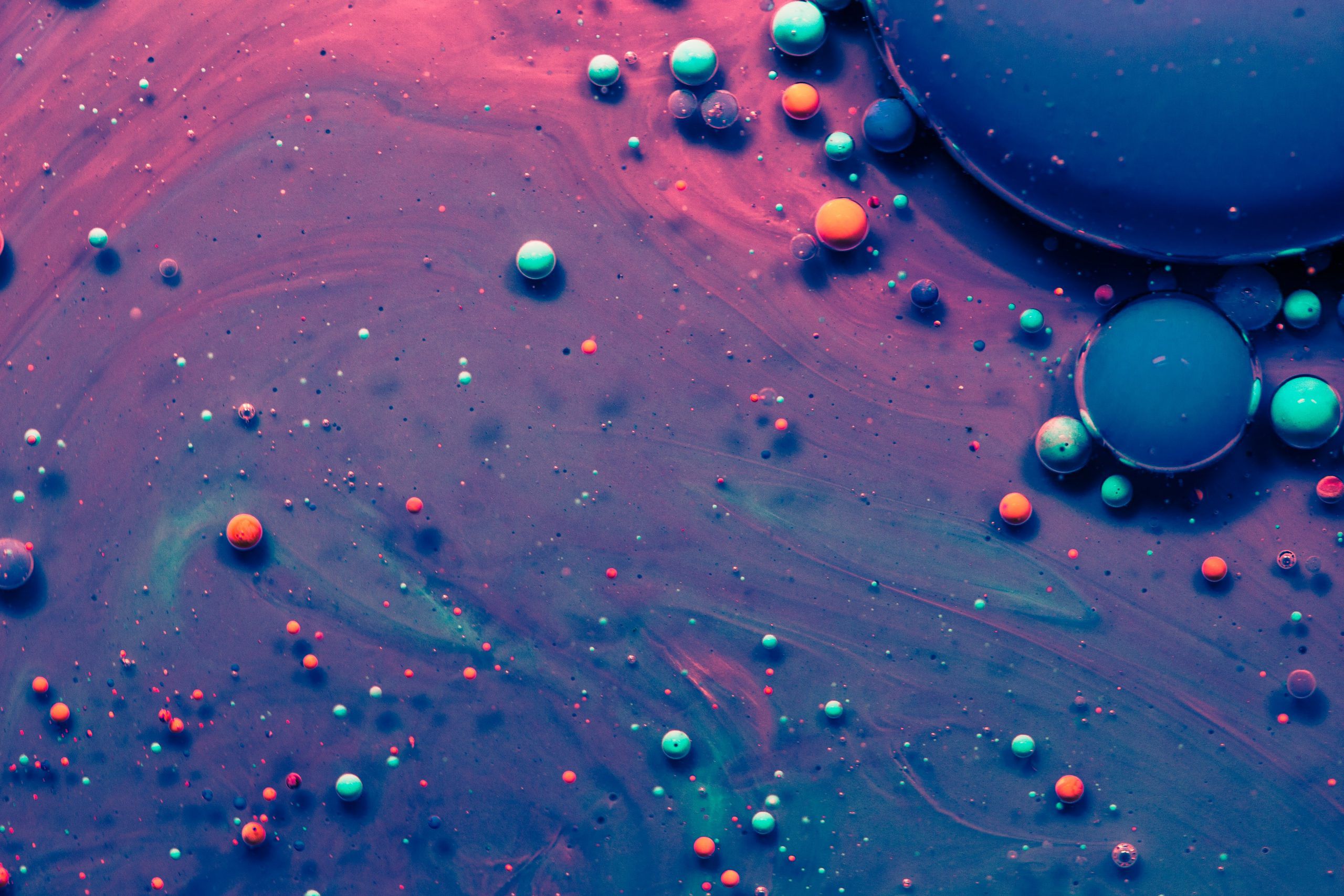“Cancel Culture”: a obra e o artista são a mesma coisa?

‘Cancel Culture’ ou, em português, a ‘cultura de cancelamento’ tem raízes mais antigas mas, durante o Verão deste ano, ganhou uma nova expressão. Contribuiu, para isso, o caso JK Rowling e os polémicos tweets sobre a menstruação que indignou a comunidade LGBTQ+ e a missiva assinada por mais de 150 escritores, académicos e figuras públicas, entre os quais Noam Chomsky, pela defesa do discurso livre. Já Nick Cave, Ricky Gervais e, no panorama nacional, Pedro Mexia também deram o seu parecer, dando os seus argumentos do porquê serem contra a onda do politicamente correcto e ‘cancel culture’ que é, afinal, uma espécie de boicote ao trabalho de um determinado artista ou intelectual por condutas de ordem pessoal impróprias ou mesmo criminosas, face à sociedade de hoje. É um assunto bastante complexo, muito já se escreveu e muita tinta já correu. A onda de vandalismo das estátuas de pendor colonialista manteve a discussão viva, embora num contexto diferente. No entanto, no caso nacional, a estátua do Padre António Vieira causou bastante celeuma e, logo por aqui, vemos que se trata de algo político, essencialmente. Não escrevo este artigo para impor a minha visão. Escrevo, passado algum tempo depois destas polémicas, este artigo para tentar organizar melhor a discussão do tema à luz de alguns tópicos que acho muito importantes, mas que não encontraram grande relevo na discussão tida ou que, então, não souberam tocar nos pontos que considero nevrálgicos. Irei, então, tentar olhar para a questão à luz da teoria da espiral do silêncio (que dei em comunicação), e, também, à luz da criatividade e sobre o que esta significa. Serão a obra e o artista a mesma coisa?
A Teoria da Espiral do Silêncio
Segundo esta teoria, e que explica na perfeição todo o ambiente que vivemos actualmente, o ser-humano tende, sempre, pelo menos na esfera pública ou quando sabe que a sua opinião vai ser pública, a defender a opinião dominante em detrimento do seu próprio juízo de valores. Numa esfera pública há o julgamento da nossa opinião e acarreta como consequências dois apectos com os quais o ser-humano não sabe lidar bem – a humilhação pública e, até, a exclusão social. Não estou a dizer que todo o ser-humano, em particular, tenha de agir desta forma, mas no cômputo geral somos levados a ter esta conduta quando se sabe que as nossas ideias, opções ou opiniões vão ser dadas a conhecer a terceiros ou a determinados grupos que nos interessam. Por esta mesma razão é que surge a discussão da verdadeira validade das sondagens, principalmente quando estas surgem muito tempo antes de uma determinada eleição. Em primeiro lugar, e dependendo do seu meio, o eleitor, mesmo que vote num candidato diferente, tenderá a dizer que votará no candidato mais bem visto da sua zona, o que pode levar a enganos, obviamente. Em segundo lugar, o próprio resultado das sondagens, uma vez que estabelece uma linha entre os candidatos mais populares e os menos populares, pode, por defeito, influenciar a decisão de voto, ou influenciar o tipo de candidato que digo apoiar publicamente. Por aqui podemos, também, perceber a razão pela qual vários epifenómenos nascem nas redes sociais. Muitas vezes, só o facto de um determinado título de uma notícia apresentar algo já como um fenómeno (mesmo que não o seja bem), chega para se criar o tal epifemónemo que circulará em cadeia, muitas vezes porque, apenas, determinado amigo (ou conjunto de amigos) também partilhou o conteúdo.
Nestes casos, não há uma verdadeira reflexão sobre o que é discutido. Gera-se, assim, a ilusão de que a informação e o conhecimento são mais quando, na verdade, a única coisa que estes fenómenos provocam é um sério efeito de bolha social – a dos amigos e conhecidos (ou influenciadores) que seguimos nas redes sociais. Se, paradoxalmente, temos a impressão de que estamos mais abertos ao mundo e com maior poder participativo, essas bolhas sociais, por conseguinte, restringem-nos a uma só única visão, ou a visão com a qual nos sentimos mais confortáveis. Se, cada vez mais, estamos inseridos nas nossas próprias bolhas (uma vez que a internet está cada vez mais individualizada e os motores de busca me direcionam para o que acham ser os meus próprios interesses) torna-se mais fácil assumirmos uma postura mais radical e agressiva no tipo de comentários feitos porque, em primeiro lugar, há uma falsa sensação de poder. Essa agressividade também serve para esconder a falta de reflexão proporcionada pelas redes mas, também, para demonstrarmos publicamente o quanto somos acerrimamente defensores de uma determinada ideia ou causa. Isto, lá está, porque não nos conseguimos abstrair de que estamos a criar uma determinada imagem para terceiros. Imagem, essa, que tem de ser apreendida de forma célere e instantânea. A minha tomada de posição tem de ser o mais clara e inequívoca possível.
Não podemos dissociar a ideia de ‘Cancel Culture’ deste tipo de fenómenos das redes e da ideia da teoria de espiral. A verdade é que situações que, a priori, até podem ser facilmente justificadas podem, também, ser facilmente confundidas com o que se passou, por exemplo, com ‘Game of Thrones’. Infelizmente, estamos num mundo tão confuso que, facilmente, tudo o que dizemos defender se pode virar, num instante, contra nós. A arte pode ser discutida? Claro sim. Pode ser discutida tanto por críticos cuja principal missão passa por familiarizar o público com a linguagem de uma determinada forma de arte e, a partir daí, fomentar a discussão sobre a obra de arte em questão, como pelo próprio público. Desde a filosofia – pelo estudo da estética artística e do belo – até à própria técnica administrada pelo artista, são vários os parâmetros que possibilitam uma reflexão sobre o objecto artístico. Mas quando, sob uma falsa noção de poder e sem o escrutínio necessário, os fãs chegam ao cúmulo de organizarem uma petição (tão antidemocraticamente banalizada) para exigirem a mudança do final de uma série, o que não faz sentido algum, chegamos a um patamar perigoso e de censura, sim. A série acabou de forma completamente atabalhoada? Acabou. Os episódios da última temporada, para a densidade da série, foram muito poucos, mais dados a efeitos especiais e pensados para criar aquela sensação de grandiloquência e espetacularidade. Como consequência, os diálogos e o próprio trato da história ficaram, completamente, descurados. É verdade. Mas também é verdade que passou ao lado de muitos a bofetada de luva de branca política que o final das personagens representou porque o que se quis fazer foi uma crítica contra a noção do herói salvador da pátria e à ascensão dos populismos. É tão simples quanto isto e este foi só um dos muitos casos em que a pressão social foi exercida sobre um determinado produto artístico. Se queremos pensar que algo tem de ser mudado ou cancelado, então temos de pensar sobre que prismas tal é decidido e aí é que reside o principal problema. Um autor deve ter a plena liberdade para meter os pés pelas mãos e manter a sua arte assim se o pretender. A partir do momento em que o artista realiza algo, a sua obra naturalmente encontrará o seu público. Quando determinada obra de um artista de que gosto ou gostava se afasta dos meus próprios gostos ou daquilo que é essencial para mim, é fácil, posso dar a conhecer a minha opinião, posso dizer que determinado artista não me agrada mais e discutir sobre as suas falhas, mas não sou eu ou um determinado público que decide se determinada obra se deve manter assim ou de outra forma. O que tenho é a liberdade de me afastar quando quero.
Sim, esta é só uma parte da questão e não reflecte o essencial – os casos de Louis C.K., Woody Allen, por exemplo, Harvey Weinstein, JK Rowling ou até o que aconteceu com determinadas figuras da nossa história com os protestos sociais recentes. Trata-se de uma crítica ao próprio objecto artístico em si, não tanto à conduta do artista. Serve, no entanto, para dar um enquadramento e dar a perceber como a pressão social das redes existe e é real, tanto sobre os artistas e, até, sobre a própria imprensa, e como tal pode influenciar a nossa própria noção de ‘Cancel Culture’, uma vez que também ela é indissociável das redes. Basta recordar o que aconteceu com o filme ‘E tudo o vento levou’ e a polémica que causou por constar no catálago da HBO. Quer queiramos quer não, independentemente do filme ser bom ou mau, a escravatura existiu e mais vale, portanto, auferir um contexto histórico ou olhar para o filme como um retrato da altura, sem esconder a realidade da segregação racial que marcou, igualmente, a cerimónia dos óscares da época. Por este prisma, esconder ou proibir não acho que seja o melhor, até porque limitaria o debate para uma melhor consciencialização e evolução social, mas sim tornar mais clarividente e não esconder a verdadeira história do que aconteceu. Isso não invalida ou não me tira a capacidade de reconhecer os casos de racismo recentes e de dizer que essa não é a sociedade que quero para mim como para os meus pares. No campo da literatura, outro livro que também esteve, sempre, envolto em polémica desde o primeiro ano da sua publicação foi ‘Huckleberry Finn’, de Mark Twain. O livro foi polémico por duas vias, o facto de Huckleberry se tratar de uma criança impossível de ser socializada e com vícios (vícios esses que seriam impossíveis de serem retratados, hoje-em-dia, em literatura infanto-juvenil) mas também pelo uso da palavra ‘negro’. Em 2011 a palavra chegou, mesmo, a ser retirada das novas edições, em conjunto com o antecessor ‘Tom Sawyer’. Mas há quem vá mais longe e quem queira, mesmo, banir o estudo da obra. O trabalho de Freud, por exemplo, também causou, sempre, polémica e acho curioso que, actualmente, mesmo aceitando-se as críticas e com a devida noção de que a psicanálise já mudou imenso desde o seu nascimento, haja quem compare a publicação de artigos sobre o próprio a publicação de artigos sobre homeopatia, partindo da premissa que o nome de Freud nem deveria ser focado, omitindo, assim, uma parte importante da história da psicologia e do início do século XX.
No caso do Padre António Vieira aconteceu algo interessante mas que considero, ao mesmo tempo, perigoso. Claro que o caso tem o seu contexto e especificidades. Aconteceu num momento social de contestação específico e, da mesma forma que não faz qualquer sentido, actualmente, monumentos ou estátuas de Salazar, também faz todo o sentido questionar estátuas de Leopoldo II. Mas quando a estátua foi vandalizada, a par da perplexidade que gerou, tentou-se fazer uma espécie de despersonalização porque, quer queiramos quer não, jamais se poderá comparar Padre António Vieira a esclavagistas ou a personalidades como Leopoldo II. Pode-se responsabilizar as expedições missionárias da igreja e as tentativas de cristianização, até aí tudo bem, mas também tem de ser relembrada a forma como o Padre António Vieira (independentemente das suas qualidades e defeitos) acabou por ser um crítico das instituições a que pertenceu e como não teve medo das consequências. Quem quiser conhecer melhor a sua história aconselho vivamente ouvir Viriato Soromenho Marques (completamente insuspeito) sobre o autor do sermão aos peixes. Se cairmos na ratoeira da despersonalização e apenas contra-argumentarmos que a figura de Padre António Vieira não interessa, como li, mas apenas a estátua (e sim, sei que foi construída recentemente) vamos, não só, apagar uma parte da sua história que nos ensinou a evoluir humanamente, como ajudamos a abrir uma caixa de pandora que vai proporcionar meter no mesmo plano personalidades que não têm mesmo nada a ver entre si. Nos mesmos moldes poderíamos, então, culpabilizar Fernando Pessoa, e até com uma responsabilidade muito mais acrescida. Ao invés da asserção, o que importa é a estátua e não a personalidade, eu digo o contrário, conhecer a personalidade é ajudar a reflectir melhor na estátua que foi feita e no seu propósito. É procurar reflectir melhor, sim, nas assimetrias no acesso à cultura e conhecimento de facto, e no porquê, efectivamente, (e nisso estou de acordo) de haver quem sinta necessidade de se insurgir contra uma estátua como a do Padre António Vieira. Mas essa discussão, atenção, só poderá ser feita se ligarmos, sim, à personalidade ou ao visado, nunca se partirmos da premissa da despersonalização – quem é atingido e porquê importa sim.
Este episódio fez-me relembrar a seguinte história que se passou comigo – uma espécie de ‘cancel culture’ e censura que fiz na adolescência com um livro que foi dado ao meu irmão mais novo. Quando esse meu meu irmão andava no infantário, veio para casa com o livro ‘os dez anõezinhos da tia verde-água’, oferecido no dia da criança e com a aprovação do plano nacional de leitura. Ele sempre gostou da expressividade, do modo como se conta uma história e, nesse âmbito, chateava-me sempre a mim para as leituras. Comecei a ler o livro despreocupada porque, afinal, que mal pode vir num livro infantil? Ora o que eu não sabia, era que o dito cujo narrava a história de uma senhora que não conseguia, sozinha, ter a casa sempre impecável, o jantar na mesa a horas e estar sempre bonita para o marido. Há até uma parte em que o marido lhe oferece um tabefe (violência doméstica) e, na história, tal é justificável pelo facto da senhora ser trapalhona e desorganizada (sob o ponto de vista do livro). Ora o que é que eu fiz? Nessa parte parei e sugeri ler uns livros do Noddy que eu ainda tinha. Quando o apanhei distraído, escondi-lhe o livro e nunca mais lhe pôs a vista em cima. Mais tarde, lembrei-me de ir pesquisar quem era a tal Ana de Castro Osório, a suposta autora, o nome que versava na capa, que eu tanto odiara naquele momento. Era, afinal, e para meu grande espanto, uma feminista republicana e autora do primeiro manifesto feminista português. Aquele livro foi completamente desfasado e despropositado, mas deveria a Ana de Castro Osório ser erradicada ou ser catalogada como machista quando entrou, até, em dissidência com Partido Republicano para defender o poder de voto para as mulheres? Relembro que a nossa primeira república voltou a trás com a sua intenção de auferir às mulheres portuguesas poder de voto. Não é uma questão fácil, compreendo, mas ajudou-me a compreender que é necessário mais cuidado na forma como avaliamos as coisas. Ninguém é suficiente ou chega por si só para decidir o bom ou mau ou determinado extremo da barricada.
A obra e o artista são a mesma coisa? O que é a criatividade?
Mas quando o contrário se dá? Quando morremos de amores pelos The Smiths e percebemos que o Morrissey não reflecte, de todo, a nossa visão do mundo? Quando percebemos, até, e aqui é que reside a dificuldade, que aqueles que tínhamos por heróis afinal não o são e cometeram actos socialmente criminosos? E deverá um fã acérrimo de Harry Potter deixar de amar a saga ou deixar de ler os futuros livros da autora, mesmo que goste? Começando por JK Rowling, mesmo que discorde das suas farpas à comunidade trangénero e concorde ou compreenda que as pessoas possam e devam dizer que discordam, a verdade é que não cometeu um crime constitucional. Os seus tweets não foram ingénuos, mas não ameaçou ninguém. Não é compreensível, portanto, a atitude da sua editora, que mais do que uma tomada de consciência honesta, apenas quis ficar bem aos olhos dos seus leitores. Quando lemos um livro que nos toca, uma música que nos emociona, achamos, sempre, que o artista tem de corresponder, ipsis verbis, à imagem que criámos dele. Podemos, até, incorrer no erro de achar que o artista tem a obrigação de corresponder a essa mesma imagem. Se sentirmos que determinada obra de arte, música ou livro, ou que quer que seja, nos representa, levamos sempre as coisas para o campo pessoal, e a ideia que criamos do artista acaba, sempre, por ser um misto de uma projecção nossa com os sentimentos que determinada obra de arte nos provoca. Não creio que o artista seja, por completo, dissociável da obra de arte. Pelo contrário. O que eu penso e o que gera, por vezes, confusão nos fãs, é que a arte, se for honesta, acaba por ser, muitas das vezes, uma forma de comunicação de nós para connosco mesmos que nos permite uma forma de liberdade e de entendimento além do que somos ou somos levados a ser no nosso dia-a-dia – um retrato do que se poderia ser além das limitações. Enquanto realizei o Terapia de Divã, na entrevista a Nuno C. Sousa sobre a criatividade, a principal ideia que ficou foi a seguinte, “a criatividade resulta, sempre, do lado saudável da personalidade”, e acredito que o mesmo aconteça com a arte. Ao boicotarmos a arte seja de quem for, estamos a limitar essa mesma liberdade ou esse mesmo lado saudável. Não é, por isso mesmo, que o valor de uma determinada obra ou que ela nos transmite vai ser menos verdadeiro, independentemente, das acções do artista. Essas acções, se realmente constituem uma forma de crime ou incitem ao dolo de terceiros, e já conhecemos bem os casos, devem ser julgados como tal e devem responder perante a justiça, consoante a gravidade da situação. Mas se a arte, em si, não for criminosa e não instigar ao dolo de ninguém, não há razão para sentirmos remorsos com a comunhão do que uma pessoa pode ter de melhor.