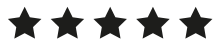“A Zona de Interesse” de Jonathan Glazer: a banalidade do mal em hipnótico detalhe voyeurístico

Este artigo pode conter spoilers.
Pela observação da curta filmografia do cineasta britânico Jonathan Glazer, sobressai de modo caracteristicamente desavergonhado a sua distinta natureza. Do apreço pelo taboo e o alucinante temático à sensação hipnótica e inquietante que transpira, com graus variados de sucesso, o trabalho de Glazer tem deixado a sua marca. Agora, após uma década, o britânico regressa à luz pública pela quarta vez, sob o holofote mais brilhante da carreira.
Num mergulho a pés juntos no insólito dos insólitos, em A Zona de Interesse (The Zone of Interest) o cineasta aborda o Holocausto sob o ponto-de-vista dos seus responsáveis, na forma de um extraordinário tratado cinematográfico. Abolindo quaisquer vícios dramáticos e pugnando por restrição total na exposição de dor e violência, o filme coloca o espectador como voyeur perdido no casual dia-a-dia da desumanização total. Uma obra-prima contemporânea e dos melhores filmes da década.

Com um início na senda de 2001: Uma Odisseia no Espaço, o filme abre no abismo do ecrã vazio, com um marasmo auditivo que perfura os ouvidos no fundo. Atmosfera asfixiante e tom desconcertante estão estabelecidos. Quando se pensa que o projetor tem receio em ir avante, finalmente surge imagem. De contrastante serenidade, verde de verão e cânticos da natureza rodeiam uma família à beira-rio. Seguidamente, o núcleo regressa ao seu querido lar — uma habitação de adequada dimensão para o número de almas, no seio de uma diversa e colorida planície floral. Podendo o espectador sensível talvez perder-se na beleza natural e ternura humana, a câmara vai revelando detalhes a mais que fazem toda a diferença. Homens fardados, com dois “S” em relâmpago a compor o emblema dos trajes, passam regularmente pelo quintal de modo intimidante e robótico. Criadas paralisadas em terror tratam das tarefas da casa. Escondido na escuridão do sujo que imunda o seu robe e cara, um rapazito débil cura pela forma e cores do jardim. Por fim, a partir da cabeça dos edifícios do lado oposto ao muro, com arame farpado, que delimita o recinto, verga o campo de Auschwitz.
Apesar da inconveniente vizinhança, a família aparenta viver banhada em feliz tranquilidade. Quando não está a estudar novos, mais eficazes métodos de limpeza dos “pacotes de carga”, Rudolf “Rudi” Höss (Christian Friedel), o comandante oficial de Auschwitz mas não-tão-oficial da sua família, leva os seus filhos a passear de cavalo pelos prados ou a navegar de canoa corrente abaixo. Orgulhosa matriarca e mais acérrima defensora do seu lar, Hedwig “Mutzi” Höss (Sandra Hüller) passa os seus dias a garantir a harmonia do espaço, inspecionando minuciosamente a maquinaria vegetal e humana que compõe o seu sonho.

Pelos esforços gestores de Mutzi, nem os incomodativos vizinhos perturbam com relevo a solarenga estabilidade. Gritos de suplício seguidos de barulhentos tiros em cadeia vagueiam inocuamente as ricas tardes de piscina e jogos. O vermelho infernal penetrante das pujantes fornalhas retira alguns roncos de sono aos membros da casa. As águas acinzentadas do rio, sujidade provocam com os restos esqueléticos nela deambulantes. Fatores de chatice sim, mas minoritários face ao grande construto da senhora Höss. Porém, inesperado evento coloca o paraíso terrestre em causa, desejos da matriarca suspensos — Rudi recebe uma indesejada promoção a inspetor-adjunto de todos os campos de concentração, obrigatória deslocação como condição. Ameaça instala-se nos radares da chefe.
Exibindo mestria na composição e minucioso foco nos detalhes, a fotografia opta por uma abordagem minimalista maioritariamente composta por planos fixos estacionados nos cantos dos cenários, com movimentos por dolly mais filtros infravermelhos como exceção. Tal tímida e precisa apresentação, próxima do cinema de Michael Haneke ou de filmes como Canino (2009) de Yorgos Lanthimos, permite um naturalismo dos acontecimentos quase-espontâneo, a base para o bizarro e perturbante clima que se instala. A montagem consistente nos cortes rápidos, ativados conforme os movimentos das figuras e mudanças de cenário, serve uma sensação labiríntica, colocando lume na fogueira que é a perdição do espectador. Os cenários plásticos e claustrofóbicos mais áudio de horrível pormenor no fundo são a cereja no topo. Assim, apesar de navegar um ambiente tão hostil, a execução magistral, intocável em absoluto, de toda a máquina técnica, tudo faz resultar, compondo o feroz organismo do hipnótico bicho.
“Um delicadíssimo mas furioso toque do artista que rapidamente progride em impacto e passa a assumir a forma de um balázio simbólico.”
Sem manobras cinematográficas como auxílio, o elenco desempenha os respetivos seres desumanos ao nível da credível e pormenorizada espontaneidade que se espera. Destaque vai para Sandra Hüller, a expoente maléfica do filme, com avassaladora presença em cada momento, entregas de diálogo e expressões faciais cicatrizantes. A escrita de Glazer trabalha em simbiose com a sua direção, precisão minimalista o seu foco, mostrando tudo sem revelar o que seja e com o ónus apenas sobre os pequenos detalhes e interpretação do espectador. Por sua vez, a mistura contrastante da comum vida familiar e pessoal com o tenebrosamente único contexto do Holocausto proporciona um tom para além de complexo, simplesmente intragável. Alucinação realista é a forma menos desadequada de descrição.
Por fim, a experiência conclui com o seu maior golpe, um delicadíssimo mas furioso toque do artista que rapidamente progride em impacto e passa a assumir a forma de um balázio simbólico, crítica gritante, uma surreal justaposição do passado e do presente que remata todos os pontos e qualquer dúvida fecha. Uma cena final de génio, puro e simples.
Não obstante a exaustão que provoca, A Zona de Interesse é uma incontornável obra, imperdível feito em cinema atual. Da sua riquíssima substância histórica, política e psicanalítica. Da quase perfeita manufatura cinematográfica, sediada em minimalismo, restrição e, fundamentalmente, respeito máximo para com a liberdade de reflexão do espectador. Do seu poder artístico como tour-de-force emocional, capacidade em prestar uma experiência hipnótica, e como promotor de fundamental debate sobre conformismo com injustiça e banalização do mal.