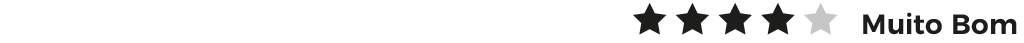‘A Quiet Place’, um medo chamado silêncio

O silêncio expressa o que o barulho não torna perceptível. A dicotomia entre som e a inexistência do mesmo foi desde sempre utilizado no mundo do cinema. Grandes filmes utilizaram o som para manter a tensão numa cena ou como um presságio para a seguinte cena. Porém, é o segundo (o silêncio), que utiliza melhor as capacidades de captar e manter a atenção no pico máximo por parte do público e como também consegue testar as qualidades dos actores, porque todas os sentidos estão direccionados neles. É desta forma que A Quiet Place consegue, de forma brilhante, diferenciar-se de tantos outros thrillers de suspense.
Num universo pós-apocalíptico onde o ser humano tenta sobreviver através da privação da fala, um casal e os seus dois filhos vivem o seu dia-a-dia numa constante tensão onde o mínimo erro pode causar-lhes a morte às mãos de monstros que reagem ao som, mesmo à distância. Vivem no subsolo e têm todos os cuidados para realizar todas as tarefas de forma mecanizada e meticulosa. Fora do perímetro de segurança são obrigados a viajar numa linha de areia para abafar o som. Claramente as suas liberdades foram substituídas pelo direito à vida.

Aqui, o espectador não pode respirar. Fazê-lo é sobrepor-se ao filme e ao silêncio total. Como as personagens, nós também nos contraímos para não sermos notados e até o engolir a seco pode ser perigoso. Não me lembro de um filme que me tenha colocado tão tenso durante tanto tempo. Poucos são os tempos onde as personagens podem descansadamente aproveitar o pouco que têm. Todos os sons são escassos e valorosos. Na maioria das vezes, o som está associado ao desespero e ao suicídio, como se de uma batalha a personagem tivesse saído, perdida e perdedora. O grito é a morte do próprio e o silêncio o desespero. E o medo que nos é transmitido deve-se ao facto de estarmos tão somente focados com os movimentos, não há sons que nos distraiam, estamos perdidos no desespero das personagens.
Por mais estranho que pareça, os momentos mais assustadores acabam por ser criados pelo próprio ser humano. Isso é visível, por exemplo, na cena em que Evelyn (Emily Blunt) tinha acabado de dar à luz e bate com a mão no vidro do banheiro. É como se o animal mais assustador fosse o ser humano que, ao ser obrigado a perder um dos seus sentidos mais importantes na comunicação, se tornasse no verdadeiro monstro, aquele que produz os mínimos sons para viver. E desse aspecto, o filme consegue ressuscitar a imagem clássica da mão sangrenta no vidro.

Para o género em causa, o filme acaba só por perder quando dá a conhecer a fraqueza do monstro, o aparelho auditivo da filha surda. Não invoco a impossibilidade científica do facto, simplesmente não o acho muito interessante. Na minha opinião, era preferível que as personagens nunca tivessem descoberto esse pormenor, que, no fim, deu azo a uma acção um pouco exagerada por parte de Evelyn em que ela fica mais destemida e enfrenta com uma caçadeira os monstros. Deu um lado heróico à personagem que me desagrada por ser demasiado hollywoodesco. Porém, de maneira nenhuma este aspecto afectou o prazer enorme que o filme deu. É uma hora e meia de controlo físico e emocional tanto por parte das personagens como do público. Agora, fico à espera da sequela e de como John Krasinski, o realizador, dá a volta à história.