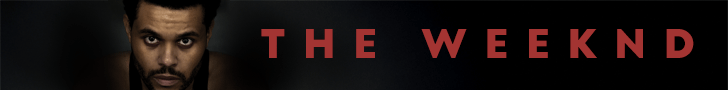A vergonha tem de mudar de lado

“A vergonha tem de mudar de lado” trata-se de uma troca de correspondência pública entre as escritoras Cláudia Lucas Chéu e Patrícia Portela. Cartas que pretendem colocar questões sobre a actualidade e reflectir em conjunto com os leitores. Sempre às terças na Comunidade Cultura e Arte.
Querida Chéu,
Perguntas-me que novos obstáculos teremos de enfrentar nos próximos tempos e eu releio o slogan que citaste na tua última carta: «CAN’T BELIEVE I STILL HAVE TO PROTEST THIS SHIT» e relembro Germaine Greer, autora australiana que publicou “A mulher eunuco” em 1970 e que em 1999 gritava: “Eu estava zangada há 30 anos! Mas hoje estou furiosa e por isso escrevi a sequela que prometi nunca escrever!” Entretanto, passaram-se mais vinte e cinco anos desde a primeira edição de “Whole Women” e duas das manchetes principais nos jornais europeus desta semana são:
– A aprovação de uma lei, no Iraque, que permite o casamento a partir dos nove anos de idade e atribui às entidades religiosas o direito de decisão sobre questões familiares como custódias, direito a divórcio ou herança;
– O caso de uma mulher francesa que aos 69 anos recorre aos tribunais europeus para corrigir o veredicto do seu processo de divórcio 12 anos antes, um verdicto que a culpa de “não cumprimento dos seus deveres conjugais durante o casamento”.
Se em relação à primeira notícia possamos facilmente imaginar uma reacção unânime de horror, fruto, apesar de tudo, de uma confortável distância geográfica e mental do local onde esta decisão tem o seu maior impacto, sobretudo nas mulheres, o mesmo já não se poderá dizer sobre a segunda notícia. Até porque a proximidade, mais uma vez geográfica e até moral da situação, não é, muitas vezes, sinónimo de uma imediata empatia por parte dos leitores e leitoras e sim de alguma incredulidade ou minimização do significado da relativa regularidade destas ocorrências nas agendas dos tribunais europeus (leia-se das nações europeias e instâncias comuns).
Como se fosse mais fácil admitir e até mais reconfortante chorar e penar por um mundo – longínquo – que julgamos perdido em ideais sem sentido.
Como se fosse difícil admitir que ainda vivemos com um sistema legal que continua a ser misógino na sua base; mesmo quando somos instruídas, temos voz e somos as suas primeiras vítimas ou vemos situações semelhantes a acontecerem ao nosso lado e até a vergonha alheia nos parece um lodo difícil de atravessar.
Temos vergonha de tudo, até da nossa coragem para pedir um divórcio, enquanto alimentamos o descaramento de um sistema que nos humilha nos mais pequenos gestos quotidianos como se fosse inevitável, ou até necessário. Uma mulher deixa de ter sexo com o marido “por motivos de saúde e por medo do comportamento violento do seu marido”, como era o caso desta mulher, ou simplesmente mesmo porque não lhe apetece ou não lhe dá qualquer prazer deitar-se ao lado de um homem que pode ter sido íntimo mas agora já não o é, e deve sentir vergonha e assumir a responsabilidade por ter vontade própria nestes affaires conjugais. Uma mulher pede um divórcio e o pedido vai a tribunal – o que denuncia, desde já, a recusa do marido em concordar com a separação, caso contrário o caso não seria litigioso e não chegaria a ser discutido legalmente – e um juiz (ou juíza) conclui que o divórcio deve ser consumado porque o casamento, por culpa da esposa, não o foi. Isto não te parece uma questão de um outro século, Chéu?
E tenho a certeza, Chéu, que durante estes 12 anos em que esta mulher batalhou pela ilibação desta culpa, ouviu comentários como: Deixa lá isso! Conseguiste o divórcio, não foi? Porque te preocupas tanto com isso? Eles que pensem o que quiserem! É só um papel! Estás livre dessa situação, aproveita a tua reforma e dá graças por teres saúde para viveres bem os teus últimos anos!
Eu leio esta notícia e apetece-me escrever a esta mulher e agradecer-lhe. Em 2007, e depois de uma viagem a Ramallah para apresentar o espectáculo Flatland I, aventura que te contarei numa outra oportunidade, percebi que a minha relação legal com a Bélgica, país de origem do meu companheiro, só se poderia “consumar” através… do casamento. Mais tarde percebi que “bastava” ter um filho ou uma filha. Eu explico. Em 2007, partilhava uma vida, um projecto artístico e uma casa em Antuérpia há meia dúzia de anos com um companheiro belga mas não podia ter um número de telefone belga, ou uma conta bancária belga, ou direito a residência oficial pois teimava em descontar em Portugal por uma questão de princípio, de voz, de voto e, veja-se, de exercício de uma verdadeira cidadania europeia numa europa que se diz comum, achava eu. Claro que o “capricho” só me poderia sair caro. Como portuguesa, eu poderia entrar e sair da Bélgica com facilidade por ter acidentalmente nascido numa geografia que já fazia parte da comunidade europeia, e poderia muito bem ter continuado este percurso invisível para os cadernos da lei e dos fluxos migratórios, exibindo um confortável estatuto de artista internacional sempre em trânsito, mas incomodava-me “não existir” legalmente naquele país (e de existir mais ou menos no meu). Investiguei os procedimentos de uma união de facto, e foi com perplexidade que constatei que, por ser estrangeira, uma união de facto só era possível com uma declaração de responsabilidade do meu companheiro por todos os meus actos. Sim! Não estou a exagerar. O documento até incluia algumas ilustrações sobre o assunto como: se a cônjuge roubar uma maçã, é o companheiro que paga a penitência; se a cônjuge morrer, o companheiro é responsável por todas as despesas relativas ao seu envio para a terra natal; em caso de compra ou venda de imobiliários e outros pertences comuns, o cônjuge autóctone deve dar o seu consentimento e assumir a responsabilidade de todo o processo, corra bem, e, sobretudo, se correr mal.
Como deves imaginar, este não era o tipo de contrato que eu queria ter livremente com um companheiro, muito menos com o seu país. Decidimos casar. Afinal de contas, o amor era a única razão legalizável que me prendia àquela geografia plana e chuvosa. A quantidade de gente que me perguntou se eu precisava de visto para estar na Bélgica quando anunciei a decisão, ainda hoje me faz hesitar se as reações se deviam a um total cinismo em relação à instituição do casamento (ou do amor) ou se simplesmente continuavam a achar que Portugal fica no Norte de Africa (ou se faz fronteira com a Rússia, como me chegaram a perguntar, “por causa dos shs shs shs da língua que lembram uma língua eslava”). Enfim, como não há ninguém que recuse uma boa festa, e nós estávamos decididos a fazer uma inesquecível com direito a cataplana cozinhada no então sétimo andar de um dos bairros noctívagos da cidade, marcamos a data e convidamos vinte amigos. Nem uma semana passara após o anúncio e soube que estava grávida (e, não, não escrevo no plural e perceberás num instante porquê). Soube eu e soube o Estado Belga, mais precisamente, a região flamenga, que em decrescimento há largos anos, logo correu a saudar-me, por carta e com presentes “tipicamente flamengos” – que incluíam uns caramelos de café intitulados mokatines embrulhados nuns papeis com a cara de um beduíno de turbante, uns produtos de higiene para bebé e cerveja de Konnick que, dizem os belgas, é óptima para quem amamenta- e uma conta num banco belga (que por acaso tinha acabado de falir e agora era alemão) onde me depositaram 1500 euros como agradecimento por oferecer uma flamenga ao mundo, e para depositar, a partir de agora, o abono de família, “sabe como é, se entra na conta do homem não se garante que vá para a educação da criança” (juro-te que o senhor no atendimento teve comigo esta conversa). De um dia para o outro, pouco importava se eu era portuguesa, se tinha trabalho, se partilhava ou não cama com o cônjuge que detinha em seu nome todas as contas que partilhávamos, da electricidade, à renda, passando pelo telemóvel: eu agora era uma generosa mãe de um ser que iria povoar a Flandres e contribuir para a sua glória. Até o dia em que me quis divorciar… e nesse dia…
Veja-se, Chéu, a situação não deve ser muito diferente em Portugal. Simplesmente teria acontecido ao contrário. Se acompanharmos as notícias que nos martelam diariamente com discussões efusivas sobre o regime da manifestação de interesse que tem como único objectivo diminuir a burocracia para imigrantes que já descontam, que já contribuem e que já estão a viver em Portugal, a pressuposição de que esse regime vai atrair muito mais estrangeiros (e não as melhores condições) não é muito diferente de uma Bélgica que acha que uma estrangeira pede uma união de facto, não porque ama o parceiro e quer construir com ele uma vida em conjunto mas porque, claramente, procura abusar do sistema maravilhoso da Flandres.
A Europa está cheia destes minúsculos, mas mui característicos procedimentos que confirmam o seu caracter misógino, conservador, xenófobo, cristalizado e perdido no tempo que nos prende a um modus operandi que não nos permite nem flexibilidade nem evolução, só suspeita.
Por onde começar a mudança? Pelo infinitamente pequeno ou pelo infinitamente grande?