Em busca da essência da História universal
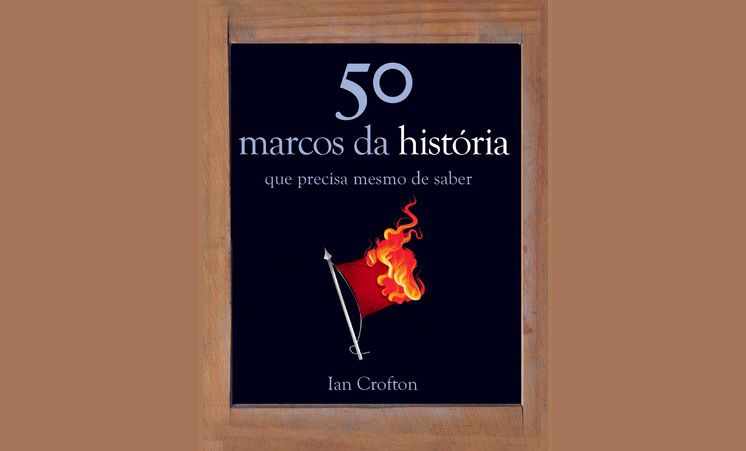
Por «marcos» não deve, aqui, entender-se estritamente acontecimentos pontuais e localizáveis, mas conjuntos (por vezes, vastos) de factos, ocorrências, datas e correlações. Daí que 50 Marcos da História Que Precisa mesmo de Saber esteja organizado por amplas unidades, como «Os Primórdios da Agricultura», com que abre, ou «Depois do 9/11», a encerrá-lo. De permeio, complexas dominantes como «O Renascimento», «O Iluminismo», ou «A Segunda Guerra Mundial» formam as etapas que perfazem as cinco dezenas do título, e deixam pouco de fora – tendo em conta todas as escolhas e omissões que livros deste género implicam.
Não sendo radicalmente diferente de um título como A História do Mundo para Pessoas com Pressa, 50 Marcos da História… segue uma metodologia ligeiramente diferente e organiza-se privilegiando outro tipo de prioridades. Os seus parágrafos são mais breves e, porventura, mais densos. No entanto, recorre também a momentos mais abreviados, dispostos por tópicos e contando com palavras-chave. Há chamadas em quadros, pequenos blocos de texto, entre outros expedientes gráficos e editoriais, que tornam este livro mais conciso e mais directo ao assunto. Porque os temas estão mais atomizados e mais fechados em si, remetendo uns para os outros de forma menos frequente do que acontecia em A História do Mundo para… Marcam mais presença as citações «directamente da fonte», isto é, um erudito medieval, um teólogo a escrever sobre as questões mais prementes do seu tempo, um estadista, ou um pensador, concentrados nas questões da sua actualidade. É, aliás, um dos aspectos que tornam mais vividos, nítidos e exactos os relatos é a inserção de documentos ou citações da época. Vistoriando, por exemplo, a complexa malha histórica das Cruzadas – a propósito das quais se cita uma passagem de Nietzsche, de uma acuidade terrível: «nada mais que pirataria em larga escala» (p.43) –, salientam-se as palavras de um cronista contemporâneo dos acontecimentos: «Se ali tivésseis estado, os vossos pés teriam ficado manchados até aos tornozelos com o sangue dos chacinados.» (p.41) O trágico saque de Bagdade pelas forças mongóis resultou, entre inúmeras atrocidades, na destruição das vastas bibliotecas dos abássidas, com livros arremessados ao rio Tigre em tal quantidade que se disse que «um homem podia atravessar a cavalo o rio» (p.59); nas palavras de um historiador árabe, «corria negro com a tinta dos letrados e vermelho com o sangue dos mártires» (id.). No entanto, e além de nomes como Lincoln, Reagan, ou Gorbachev, há algumas ocasiões para afinar por outros diapasões – muito mais aliciantes, diga-se. Como quando se cita o Ozymandias de Percy Shelley (p.15), a propósito das estátuas de Ramsés II, ou o Decameron de Boccaccio, ao estudar a Peste Negra (p.45).
Ao longo do volume, revelam-se especialmente úteis os momentos de comparação entre casos nacionais diferentes, mas aproximáveis por circunstancialismos históricos, ou de teoria política, como neste caso: «A maneira como os movimentos socialistas se desenvolveram dependeu em grande parte da atitude dos diferentes governos. Em lugares como a Grã-Bretanha, onde a actividade dos sindicatos era crescentemente tolerada e onde me fins do século XIX o voto tinha sido alargado à maioria da população masculina, era possível aos partidos socialistas – como o Partido Trabalhista britânico (que se diz que deve mais ao metodismo do que a Marx) – conseguirem representação parlamentar. Mas em países mais repressivos como a Rússia czarista ou a imperial Alemanha, parecia a muitos que a abordagem revolucionária marxista era a única opção.» (p.143)
O estilo de Ian Crofton é, com alguma frequência, informal, quase humorístico – «O seguro de vida dos antigos egípcios era o rio Nilo» (p.12). Consegue ser rigorosamente informativo, e fazê-lo de forma breve – «A Grande Pirâmide de Gizé, com uma altura de 138 m foi durante quatro milénios a mais alta estrutura do mundo.» (p.13) –, como é capaz de expansão sem sobrecarregar, nem (mais importante) desequilibrar as rubricas, deixando umas com muita informação, e outras com quase nenhuma – «O Crescente Fértil foi a primeira mas não a única zona a experimentas uma revolução agrícola: a lavoura começou a praticar-se em várias outras partes do Globo, incluindo ao Mesoamérica, a região andina da América do Sul, a Chona, o Sudeste Asiático e a África subsariana» (p.5). Mas Crofton é, ainda, capaz de, alargando o espectro, conciliar o adicional (muitas vezes, mais aliciante) ao essencial, como ao tratar da ascensão e esplendor do Islão – «A corte abássida atingiu um apogeu de magnificência em fins do século VIII sob o quinto califa abássida, Harun al-Rashid, que trocou presentes [não seria mais «idiomático» «oferendas»?] com Carlos Magno e que figura nas Mil e Uma Noites.» (p.33) Ou quando alude ao conhecido facto de Beethoven ter mudado o nome da sua Sinfonia n.º3, ao saber que Napoleão, a quem dedicara a obra, se coroara Imperador. O que permite a Crofton evocar as palavras do compositor: «De modo que também ele não passa de um homem. Agora também ele espezinhará todos os direitos humanos e só atenderá à sua própria ambição» (p.117). Extrapolar pode e deve ser uma das prerrogativas do autor deste tipo de livro. Especialmente, quando as ilações são tiradas de forma correcta e pertinente – «As consequências da Peste Negra foram muito além da devastadora mortandade. Foi um sério golpe para a psique colectiva da Idade Média. Estavam mortas as certezas e o optimismo da Alta Idade Média. Parecia que Deus estava a infligir um terrível castigo ai seu povo, nunca visto desde os tempos do Antigo Testamento.» (p.44) Acresce que há estudos científicos (provenientes das ditas «ciências exactas») sobre o passado remoto que Crofton chama à colação, e que parecem particularmente apetecíveis para a nossa actualidade. É o caso da referência a certos estudos de genética que concluíram que «0,5% de toda a população masculina do mundo» descendia de «um antepassado de Gengis Khan e dos seus parentes próximos masculinos» (p.57), ou ao facto de a intolerância à lactose ter sido uma dominante na generalidade dos seres humanos até que, «há cerca de 7 500 anos surgiu um novo gene no seio de uma tribo de guardadores de gado que vivia nos Balcãs e na Europa Central. Este gene», informa Ian Crofton, «capacitou-os para continuarem a digerir a lactose», para lá da amamentação, isto é. Um gene, como esclarece o autor, que «não existe em metade da população mundial, que continua a ser intolerante à lactose» (p.7).
O pormenor, onde está o diabo, como é bem sabido, pode ser a curiosidade histórica – «Kamikaze», por exemplo, era, originalmente, o «vento divino» (p.62) que impediu que os exércitos de Kublai khan invadissem as ilhas do Japão no século XIII –, ou tornar-se o essencial, que parece assomar de repente, de onde menos se esperava: o desvio na rota viquingue (grafia preferível à usada «viking») em direcção à Rússia acabaria por redundar na fundação do principado Rus, de importância crucial para a ulterior História russa. Em todas estas linhas rectas e desvios, porém, o poder de síntese é essencial, e Crofton, sem dúvida, exerce-o em pleno: «O espírito progressista do Iluminismo que tinha ajudado a alimentar as revoluções tanto em França como na América foi asfixiado por um renovado sentimento de medo e reacção.» (p.115)
Como tantas vezes sucede, escassos anos, mesmo meia década, fazem muita diferença. O original de Ian Crofton data de 2011, pelo que as últimas secções do livro se quedam no que nos parece, hoje, um distante ano de 2010: «Embora as últimas unidades de combate dos Estados Unidos tenham retirado em Agosto de 2010, o Iraque continua a ser um lugar perigosamente instável.» (p.203) Um mundo pré-Presidente Trump parece um conto de fadas, ou, pelo menos, a memória distante de um tempo frustrantemente passado.
Num livro de inegável interesse, e feito com uma destreza assinalável, é difícil não lamentar alguns lapsos de tradução e/ou revisão. A referência a «Tarquínio, o Orgulhoso» (p.24) ficaria mais «idiomática» caso se tivesse usado o mais conhecido cognome, consagrado pela tradição portuguesa: «Tarquínio, o Soberbo». O mesmo se diga «de Luís, o Piedoso» (p.37): mais comummente, o Pio. Do mesmo modo, gostaríamos de ter lido «Canuto», em vez de «Cnut» (p.38), para referir o norueguês rei de Inglaterra; «Otão», em vez de «Oto» (p.57), ao nomear o Imperador do Sacro Império Romano-Germânico Otão I; «Mogóis», em vez de «Mogoles» (p.59); «[os] olmecas», em vez de «[os] olmec» (p.65); Miguel-Ângelo, em vez de «Michelangelo» (p.73); «Erasmo», em vez de «Erasmus» (p.75) (tanto mais que, obviamente, se usa «Calvino» [p.85], e não «Calvin»). Há ainda grafias híbridas, como «Víctor Emmanuel II» (p.157) (onde deveria estar «Victor Emmanuel», ou «Vittorio Emmanuele»…). Por outro lado, há momentos em que traduzir o traduzível produz efeitos contrários e ambíguos, como quando se verte por «Índice» (p.90) o Index dos livros proibidos pelo catolicismo… E não seria «Massacre do dia de São Bartolomeu» mais adequado do que «Matança do dia de São Bartolomeu» (p.90)?![]()
