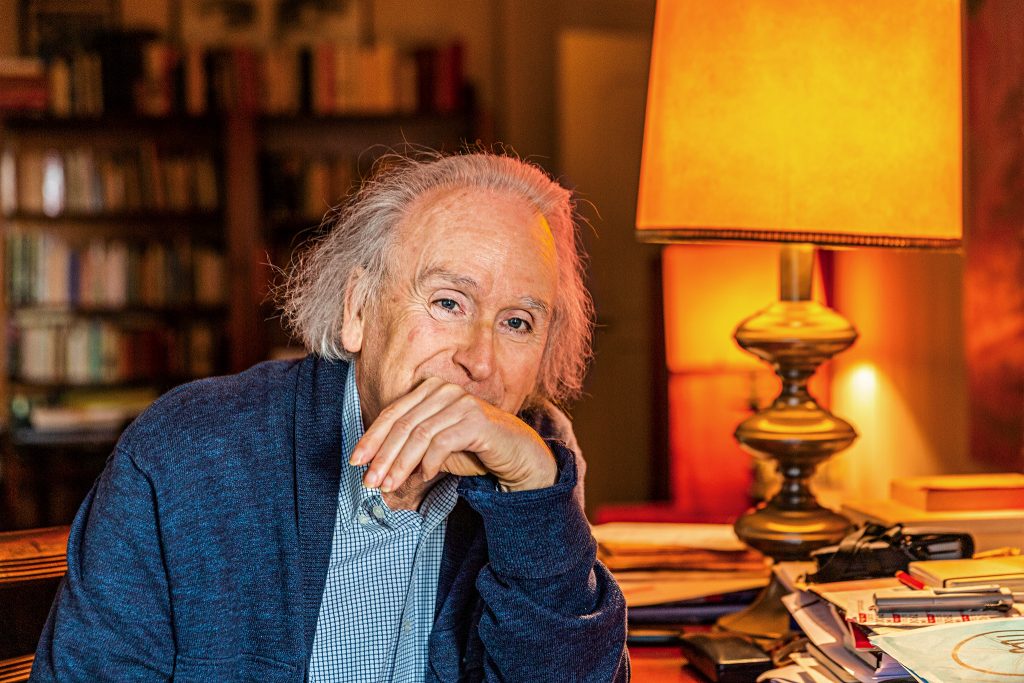Ensaio. Um deus a gesticular num palco o sem enigma do mundo
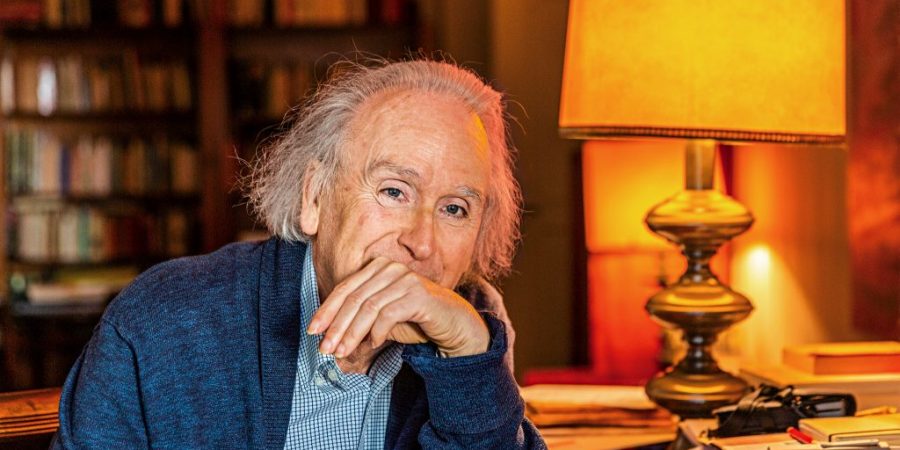
1.
A simultaneidade das coisas: enquanto se inaugura a dita nova era do turismo espacial, com toda essa galante excentricidade que apenas sob doses cavalares de falsa consciência pode falar de “olhar o céu” e “ir além das estrelas”, como se a inocência dos sonhos, plasmada em tão inocentes palavras, não fosse diariamente molestada pelo fosso abrupto do tardocapitalismo entre o luxo e o lixo, – ao mesmo tempo, cá na Terra (e assim cá como no céu dos crentes), no fim de um campeonato de futebol, três jogadores da selecção inglesa passam de bestiais a bestas, vítimas de toda a gama de boçalidade racista e patologias do ódio.
Entre os confettis do espírito visionário e a vergonha face à treva mais arcaica, o tempo colapsa no mais entorpecente intervalo. Como uma terrível pausa, tanto mais terrível quanto se mostra interminável: como se o momento presente aplacasse toda e qualquer possibilidade imaginante, a mais tímida esperança, a lembrança do dia de ontem. Ou, em alternativa, como dizem amiúde os actores na nave do Interstellar, o filme de Nolan (2014), quando aquele par de astrofísicos se põe a atravessar buracos negros em busca de novos lares noutras galáxias, tendo a Terra sufocado sob tempestades de pó: lá fora, ou lá para cima, há todo um universo à espera, mas moralmente vazio. Matar-nos-á sem culpa, impedindo-nos que o ar circule, que se solte um grito, mas só porque é da sua natureza desconhecer que não tem natureza. A haver um mal, o único mal, será aquele que levamos connosco.
2.
O mal, deus e o diabo, a perfídia, a malícia, a bondade, os afectos calculados em função das conveniências, um punho fechado, um pouco de água. Rui Nunes: “O simultâneo é a única ordem que consegues dar ao mundo. A ordem do mundo. Nunca a ordenação. Tens lá atrás deus a olhar pelos teus olhos, a fingir que os teus olhos são os dele.” (A Crisálida, p. 12). O risco destas amálgamas é tornar lasso qualquer intuito crítico, que persiga uma ideia de rigor ou objectividade, que se detenha na contabilidade dos factos, na sua imobilidade factícia, tautológica: isto é o que é, e sê-lo-á hoje como amanhã, e assim eternamente, enquanto este mundo for mundo. Como o cínico actual, hiperinformado, segundo o retrato de Peter Sloterdijk, só me resta “encolher os ombros ante a maior parte das coisas, pois a minha capacidade de participação, de revolta ou de co-reflexão é mínima relativamente ao que se me propõe e me lança apelo” (Crítica da Razão Cínica, 2011, p. 394).
Mas isso é, talvez, a grande dose de veneno em qualquer exercício que, olhando de frente os factos e destilando-os em busca de verdades nuas, tome o mundo como uma totalidade quase inamovível: o mundo enquanto puro exterior, em relação ao qual nos pudéssemos distanciar, levantando contra ele cercas sanitárias, confrontando-o com os ditames dos números, dos dados estatísticos, do cientismo implacável elevado à mais violenta fé.
Tal higiene – uma claridade doente, qual cegueira branca que empesta os olhos de todos, em todos os cantos do mundo, à imagem da catástrofe viral no Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago – constitui uma declinação mundana, a mais moderna possível, do mito da pureza adâmica: a nostalgia inventada para aveludar a inquietude da vida, esses arranhões no corpo que nos agridem a alma. Somos o Frankenstein que cria, em sonhos, em mitos ou em laboratórios, os seus próprios pais ou antepassados – e assim nos julgámos nesse outrora impoluto Jardim das Delícias, onde cada coisa, espaço ou animal coincidiria inteiramente consigo mesmo, dispensando a palavra e o seu ínsito tumulto. Sob o primado da origem, da pureza incorrupta que um dia existiu e depois fatalmente se perdeu, expulsos da luz para a errância das sombras, não poderíamos senão descair nesta tremenda barafunda, com palavras a mais para coisas que nunca chegam a ser nossas, um corpo efémero para tantos gestos, tantas imprecisões. Esta esmagadora ambiguidade, como uma herança maldita ou uma dívida eterna.
Será isto o mal, talvez, ou um dos seus matizes, na habitável mediocridade de cada dia. O mal que nos esmaga porque nos reconhecemos ambíguos, bífidos, mortais – num sistema que só nos admite unívocos, transparentes, máquinas empreendedoras. E não sabemos o que fazer com isso – porque não sabemos, ou sabemo-lo segundo um outro saber não subordinável à clareza explicativa, que nem tudo precisa de se fazer, ou que nem tudo é imperativamente fazível, à luz da operacionalidade técnica (ou da app. descarregável), para se dignar a existir, a irradiar sentido.
Por outras palavras: o mesmo mal que nos devora é ainda o dom que nos consagra, aqui e agora, sempre aqui e agora. Dom impuro, como são impuras, tangentes, feitas de luz e de lama, todas as coisas e todos os nomes, todas as formas de vida, todas as vidas a que as palavras dão forma, da escrita à música, de um tijolo partido aos girassóis de Van Gogh. Salvar a imanência, na sua desordem e multiplicidade, em cada minudência da vida tomada “como um acontecimento excessivo” (Herberto Helder), é não esquecer a terra debaixo dos pés, como um manifesto contra a desmaterialização do mundo e dos seus fenómenos (o convívio, o toque, o morrer, a aula presencial, …). É não esquecer, também, que o que cada um diz ser a sua verdade torna instável, vitalmente instável, a convivência na Terra. E só da solidão em comum pendem os gestos solidários, qualquer coisa que cada um reconhece em si de inacabado, de inacabável, e que só o outro, o próximo, agudiza e prolonga na orla da sua alteridade, da sua proximidade: “Eu sou Tu quando sou eu”, lê-se num poema de Paul Celan. É essa, aliás, a única condição que possibilita o diálogo (a linguagem é sempre bífida, o solilóquio é, desde logo, a expressão de um eu cindido), que deixa em aberto o futuro. Ou a possibilidade de ainda haver um tempo que seja futuro, imaginável e inimaginável como tal.
Como escreve Rui Nunes no seu livro mais recente: “Estar próximo é não saber chegar”. Uma página inteira, a página 41, de No íntimo de uma gramática morta (ed. Officium Lectionis, 2021) só com estas seis palavras, sem ponto final como manda a lei, cercadas pelo fundo branco e vazio da folha. Porque só esse “não saber chegar”, essa vacilação permanente, torna possível que nenhuma verdade se cristalize e se imponha com a violência dos consensos: dar a vida pela pátria, dar a morte pela pátria, sentir-se ungido por Deus, nomear-se a voz do povo – o lixo limpo destes dias cavos.
Qualquer palavra maligniza-se:
basta deixá-la crescer
e tornar-se-á a palavra única do mundo:
um fungo, um vírus.No falsete da voz, no indicador esticado: ouve-se:
a pátria não se discute.
(Clandestinos, os mortos
ainda nem sequer eram um número.
E nunca chegaram a sê-lo.)
(No íntimo…, p. 13).
A impureza – o erro, o desvio, o inesperado – é o mal, uma forma benigna do mal, a pequena anomalia que resiste a todos os reparos, restauros ou integrações forçadas. Não o mal necessário, porque o mal nunca é, nunca deveria ser, uma necessidade. Mas antes a consciência sombria, assombrada, de que esse outro mal pode ser libertador se o que nos vendem como o bem – isto, a ordem natural das coisas, o “é assim a vida” da resiliência programática – não é o bem de todos, nem o é para todos, mas é sobretudo o bem que melhor serve o poder, os poderes, para nos tornar inumanos e descartáveis.
Voltamos, assim, ao risco das amálgamas, de querer dizer tudo dizendo nada – no mesmo instante em que coabitam, sob uma falsa neutralidade aditiva, como é aquela que perfaz a linguagem dos factos e das notícias (isto e mais isto e aquilo e…), a leveza dos multimilionários comovendo-se no espaço sideral durante quatro minutos – e o peso morto dos racistas, da própria Terra como um astro exangue, que nem a preço de saldo aqueles ricos quererão comprar.
3.
A simultaneidade das coisas:
“Não mortas as palavras, mas quase-mortas, estremecendo como as patas de um cão moribundo, um cão na sua plenitude, o cão qualquer: vê-me aquele pêlo a perder o brilho, aqueles olhos a velarem-se, aquelas moscas que ainda não pousaram, equilibradas no seu zumbido, não deixes o cão morrer, mantém-no próximo da morte, e verás a vida, e não uma vida, verás a vida não de um cão, mas num cão, a vida anónima de todos os cães, um cão quase a morrer já não é o teu, nem o meu, é o cão de ninguém, como a palavra-morta é a palavra de ninguém, cada vez que a disseres não encontrarás o movimento de outros lábios nem a voz de outra pessoa,
despedaça-a ainda mais, até chegares à voz silenciada e não à voz silenciosa, a esse lugar que escapa a Deus, cuja veemência grita em todas as palavras […]”
É este o início de No íntimo de uma gramática morta, o referido livro de Rui Nunes. E quem diz início, fá-lo por mero impulso protocolar, segundo a conveniência doméstica que damos às palavras. No fundo, os livros de Rui Nunes (n. 1945) nunca começam, no sentido convencionalmente sequenciador ou cronológico do termo. Nem começam nem acabam, com ou sem catarses, com ou sem personagens mais ou menos discerníveis entre si, com ou sem enredos que possamos desalinhar para tecer ruminações hermenêuticas. Cada frase é simultaneamente a primeira e a última, como uma pedra num monte de pedras. Arrisquemo-nos um pouco mais, façamos um pouco como o próprio Rui – um zoom minucioso sobre as coisas até só restar das falsas totalidades “o pormenor levado à exasperação” (e por isso, no excerto acima, já não é de “um cão” que se trata, mas da vida anónima exposta no curso da sua desagregação, “o pêlo”, “as moscas”, o abandono a que um bicho morto se reduz) –, e talvez nem sequer sejam livros aquilo que o autor tem escrito. Sem pisar sequer as areias movediças dos géneros: nem romance, nem poesia, nem ensaio, tudo isso e nada disso. Segundo João Oliveira Duarte, em artigo recente no jornal i, Rui Nunes não faz outra coisa senão “[…] marginalia, este termo latino que designa o conjunto de notas pessoais, comentários, que se situam ao lado de um texto principal” (jornal i, 21-6-2021, em linha). Como se todos os livros de Rui Nunes se chamassem A margem de um livro, discreta edição publicada em 2017.
[Capa do livro No íntimo de uma gramática morta, 2021, de Rui Nunes]
Mais do que livros: escrita. O movimento desesperante que, no coração da vida, nos leva à escrita, ou que devém escrita. O próprio movimento de que a escrita constitui o lastro visível. Que arranca ao silêncio, a um silêncio atulhado de vozes silenciosas, a matéria iluminante que se dispõe por palavras, aproximações à noite mais escura. “Somos múltiplos silêncios / para onde quer que regressemos”, lê-se na página 35. Por isso, a escrita vai sempre a meio, qual animal insaciável, indomesticável, que na sua desrazão de existir irrompe furiosamente do nada, do acaso, da mais indefectível contingência. Qual acidente de percurso cujo abalo continua a precipitar-se sobre nós mesmo ao fim de muito tempo, qual gargalhada furtiva desmanchando os códigos da civilidade, é no desalinho impremeditável dessa fuga intempestiva que o gesto de escrever se distrai de si mesmo, se descola de quaisquer metas a traçar (a busca do sentido, a moral da história), num desinteresse contíguo à alegria malévola da liberdade, essa fonte do que é inacabável: “Digam que não faz sentido, digam, que eu vou ali e já venho” (p. 36).
Já em 1995, o autor anotava em Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado?: “não morrerei sem me tornar absolutamente incompreensível. / Para escapar a qualquer vigilância astuta.” (p. 100). (Ecos ou réplicas da reverberação herbertiana n’Os Passos em Volta fazem-se aqui sentir: “Meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro”, p. 163). Destruindo os nexos óbvios da sintaxe, tornando infamiliar a língua que assumimos ser a nossa – mas, em simultâneo, sem renunciar à imanência, ao chão sujo e comum destes dias, aqui na terra, vigiando acerrimamente os nomes para que nunca cedam à tentação evasiva dos eufemismos, da fátua eloquência, e mostrem as coisas na sua nudez desprotegida –, a escrita de Rui Nunes ladeia, por exemplo, a de Hermann Broch, o autor de A Morte de Virgílio e Os Sonâmbulos, e, de um modo muito especial, dialectiza a “obscuridade” e a “ininteligibilidade” entrevistas pelo escritor austríaco, respectivamente, na prosa de dois grandes vultos do modernismo europeu: Franz Kafka e James Joyce. Uma prosa, atenção, indiscernível do fulgor poético, tornando supérfluas as divisórias entre géneros. Cito, a propósito, esta súmula brilhante de Maria Filomena Molder, num dos ensaios do volume O absoluto que pertence à terra (2021):
“A braços com uma tradição que, como a mulher de Lote, se transformou numa estátua de sal, um, Kafka, desenvolveu o método literário da obscuridade, o outro, Joyce, o da inteligibilidade. Obscuro é o poeta que, não alterando a ordem sintáctica, obedecendo com aparente mansidão às regras tradicionais da pontuação e da composição, atendo-se modestamente aos usos comuns das palavras que todos podem entender, introduz uma perturbação quase insuportável, porque a estranheza do que ele está a comunicar […] transforma-os em carne viva, em fractura exposta. Por sua vez, a ininteligibilidade é própria dos poetas que anunciam, por intermédio de uma maestria da linguagem e de inúmeras línguas, a interrupção brutal da familiaridade com o jogo linguístico, impedindo qualquer empatia imediata. Tocados no íntimo pelo mutismo ruidoso que a servidão aos factos faz cair sobre os homens, coadjuvam o seu progresso, como se cavalgassem no seu vórtice. Joyce é um seu representante eminente.” (pp. 54-5)
Este título – No íntimo de uma gramática morta – parece irradiar, pelo menos, duas inquietações do autor. A primeira, a intimidade, o que é, ou se julga que seja, irredutivelmente seu. A segunda, a linguagem que se propõe dizer, quando não mostrar, o que dessa intimidade se desprende sob frágeis equivalências verbais. Mas está morta, a gramática. O cadáver, porém, já vem de longe. O deus morto de Nietzsche é, talvez, o mais carismático desse corpo inapreensível, espécie de ano zero para os ulteriores epílogos que há muito sentenciaram a escrita, ou a linguagem, como lugares desertos ou lugares de deserção. Rui Nunes não é sequer original nestas paragens. Simplesmente, reivindicou o seu lugar na longa marcha do exílio, de todos aqueles a quem a literatura, enquanto promessa rediviva, lhes soube sempre a pouco, ou a quase nada, senão como lugar solitário para assistir, numa atitude de sedição, a “um deus a gesticular num palco o sem enigma do mundo” (p. 39). Um exilado é a condição em que se descobre aquele que pensa, que olha extremamente nos olhos a face inexistente do real, a inexistência de deus, e assume ser incapaz de se esquivar ao terror medusante desse olhar, incapaz de desviar os olhos de tudo o que acontece à sua volta. Gesto irrecusavelmente político:
“(estou perto, cada vez mais perto, mais livre para a morte, foi o que aprendi: livre é não ter um sítio para implorar, é ninguém responder, é ser um leproso de todas as cidades, livre é não dizer: pai, pai, porque me abandonaste? livre é ser o abandono do pai, é serem verdadeiras todas as ofensas: o insulto é a tua natureza […]” (pp. 8-9).
A intimidade, à margem de quaisquer quadrantes confessionais ou liminarmente autobiográficos – ainda que estes se façam pulsar inequivocamente nos despojos verbais de Rui Nunes –, é esse movimento de escrita que se confunde com o desejo de aproximação às coisas, ou com o desejo enquanto aproximação, “o outro modo da ternura” (O choro é um lugar incerto, 2005, p. 37). E repare-se, aliás, como os gestos de proximidade irradiados pelo título No íntimo de uma gramática morta declinam outros movimentos da escrita ruiniana, espécie de obsessão inclemente e irreprimível do autor, reiterando-se, por exemplo, em insistências lexicais ou imagísticas que atravessam os seus livros – o caso deste parêntesis aberto a meio de Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado?: “(a profundidade virtual não tem equívocos: é o íntimo de um olho devorador)” (p. 77).
Quanto mais íntimo, mais lúcida se desprende a consciência do que é imperscrutável nas distâncias, nos vazios impreenchíveis que se abrem quer entre nós e as coisas, ou entre nós e o próprio de nós. A força maior desse íntimo reside na pura exterioridade de o afirmar como trunfo escondido: que haja essa vida secreta, essa hipótese simultaneamente clara e obscura de uma intimidade inegociável, será talvez a glória ingénua de um anacronismo desafiador, quando a simples possibilidade de haver enigmas é hoje instantaneamente aplacada pelo furor omnívoro de tudo ser transparente e rentável nos mercados da atenção (aquele “mutismo ruidoso que a servidão aos factos faz cair sobre os homens” de que falava Molder a respeito de Joyce). O íntimo, aqui, não é por isso o coração, nem é a alma, nem a genealogia familiar como alibi romanesco, nem esse motivo da literatura que, aos olhos do leitor, lhe serviria de espelho. A gramática é tanto mais defunta quanto menos imprópria se revela no desvelar desses falsos espelhos. Tal como se diz da fotografia, a “língua errada” de Rui Nunes equivale a “uma literal skiagraphia, uma escrita das sombras”, segundo Eunice Ribeiro (Boca, p. 11). Por isso, à falta de melhores termos ou de palavras mais exactas, o íntimo constitui essa falta, essa imprecisão. Sombras, sobras.
4.
A omnívora simultaneidade das coisas:
(assim nos perdemos:
abrimos um parêntesis que não sabemos fechar
(abrimos outro parêntesis
(quando se escapa ao princípio, talvez se comece
(o princípio é a bússola dos assassinos
(não. Não é. O princípio é esta mão cansada
que não sabe fechar um parêntesis
(
(p. 11)
É este outro bocado do livro No íntimo de uma gramática morta. Recusa dos princípios fundadores, da nostalgia pelas origens insondáveis, pelas fábulas estruturantes como modelos de virtude civilizacional. Nos últimos livros que tem publicado – sempre últimos livros, possíveis golpes testamentários, derradeiras missivas lançadas ao mar sem esperança de porto –, como Suíte e Fúria (2018) e O Anjo Camponês (2020), Rui Nunes propõe um Ulisses, o herói homérico, que rejeita o regresso a Ítaca, a lealdade de Penélope ou a consanguinidade de Telémaco: um Ulisses que se perde nas errâncias marítimas, que se despoja de todos os signos da individuação para devir a própria ondulação das águas, os ritmos difusos de uma vida insubordinável. Sem terra, sem casa, sem mapa. Repudiando as regras com que a identificação se joga, os nomes com que vestimos as coisas, os essencialismos revivalistas, o jogar pelo seguro que comprime a vida num plano de sobrevivência. Mas isto, em simultâneo, subverte todo e qualquer final feliz: pois ao Ulisses de halo mítico, num Mediterrâneo onde brilha “tão longínqua a transparência / na fuga dos golfinhos”, antepõe-se, “[o]paca, a água, manchada de óleo, / sacos de plástico à deriva”. De Argos, esse cão fiel que prontamente reconhecera o dono nas imediações do palácio, sobrevive apenas um animal que “abocanhava uma gaivota ressequida”, no refugo turístico de uma praia qualquer (do poema “Reminiscências”). Impedir que Ulisses regresse a Ítaca é, por fim, secar em Homero as vozes da inspiração que lhe terão ditado a Odisseia – “Fala-me, Musa, do homem astuto que tanto vagueou, / depois que de Tróia destruiu a cidadela sagrada”… (tradução de Frederico Lourenço) – e, nesse gesto, estilhaçar o manto diáfano desta e de todas as outras fantasias, deste e de todos os outros álibis.
Uma mão cansada que não sabe fechar um parêntesis – detenhamo-nos um pouco nisto, neste momento de espera, como se enchêssemos os pulmões de ar e, por uma razão desconhecida, não soubéssemos como nem quando expirar. Uma espera, portanto: se a esperança é um luxo retórico que nos assenta mal na boca, como aquela veemente palavra que nos sabe a falso, a slogan político, a rima fácil, então ficamos à espera. Sem saber de quê.
Uma mão cansada poderia nem sequer ter começado a escrever. Poderia ter desistido do texto, abandonando-o, deitando-o ao lixo. Porquê? Porque está cansada. Rui Nunes é, afinal, um raro escritor português por demais consciente destas inquietações, a ponto de se tornar indiscernível aquilo que pertence ao foro da literatura e aquilo que é a sua vida, a sua intimidade. Sabe como as palavras actuam: qual “ninho de vespas”, “desenfreadas, as palavras tanto dizem Heil como dizem amo-te” (No íntimo…, p. 38). Sabe que se continuou a escrever depois de Auschwitz, sabe o preço de todas as renúncias à palavra – Hofmmansthal, Adorno, Celan –, sabe o que no seu próprio gesto permanece irredimível face ao eterno retorno do mesmo, à devastação que o Anjo da História tem diante de si: os incinerados, os assassinados, os perseguidos, os apátridas. Barrados nas alfândegas, afogados no Mediterrâneo, desprovidos da mais elementar dignidade. Sabe, como Benjamin, à luz do materialismo histórico, que “a tradição dos oprimidos [nos] ensina que o ‘estado de excepção’ em que vivemos é a regra” (a oitava tese “Sobre o conceito de História”). E que a nenhuma palavra, absolutamente nenhuma, mais poética ou menos poética, se deverá a ressurreição dos mortos. Mas avança, ainda assim, ou por isso mesmo, pelo limite da página, por uma linguagem dos limites.
[Capa do livro O Anjo Camponês, 2020, de Rui Nunes]
E não só: pelo limite do seu corpo doente, da saúde há muito frágil, um pacemaker, uma perna manca, a arritmia. “No aeroporto”, contava ao Expresso em 2020, “sou conhecido por ser aquele senhor de cadeira de rodas que não devia andar de um lado para o outro” (8-3-2020, em linha). Pelo limite que lhe impõe a miopia severa desde a mais verde infância e da qual partem, ou proliferam, os imensos e despegados bocados na sua escrita, ou que constituem o tecido – desfibrado, sujo, rugoso, em farrapos – dessa escrita. “Ver é estranhar”, lê-se na primeira página de Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado?. “Avanço pela cegueira progressiva, nunca perda de visão, mas desvio dela. Afinal a cegueira é andar por uma terra que só eu conheço, a de palavras que outrora contaram uma história e hoje compõem, com os seus estilhaços, a absoluta opacidade do primeiro sentido” (p. 8).
Como um pé mantido em tensão sobre o pedal da embraiagem, o que ressoa nestes movimentos da escrita é a possibilidade de não se chegar sequer a escrever. Por tudo isto, há que considerar os mil e um motivos pelos quais Rui Nunes poderia não ter escrito o que efectivamente escreveu. Há que entrever, entreler, em cada um dos seus despojos, uma persistente ameaça, um inamovível cansaço, que repelem o trabalho da escrita, o movimento da mão segurando a caneta, o atrito da folha, os olhos indecisos perante o caos de haver tanta luz, a fúria do corpo contra a sua condição enferma. Ou os ritos da medicação, os efeitos secundários, os exames de rotina. Por tudo isto, e com tudo isto, se faz uma escrita de intermitências, de interrupções desmedidas, de escombros: “Daí serem as minhas frases uma espécie de respiração de asmático” (Que sinos dobram…, p. 21). E daí o parêntesis que se recusa a fechar, a dar a frase por terminada, para que a vida continue à espera, em espera, hesitando entre um silêncio e outro: “Cada momento da sua vida foi uma parede intransponível. Mas sobreviveu. Parece um absurdo. E no entanto. De interrupção em interrupção, ainda hoje não sabe como.” (No íntimo…, p. 15).
4.
Louvado sejas, Ninguém.
Por amor de ti queremos
florir.
(Paul Celan, “Salmo”)Como pode a vida passar a ser um livro? E o que é um livro em relação à vida? Não espero encontrar uma resposta; apenas proferir alguns estilhaços de realidade. Se os mortos pudessem escrever, nenhum vivo escreveria, mas porque fazemos nós de mortos?
(Bernard Noël, O Atentado às Palavras)
“Dura lição para escritores”, eis como se chama este pequeno poema de Albert Ehrismann:
Acredita que pode mudar o mundo?
Não.
Então por que escreve?
Porque não posso mudar o mundo.
(in Descida Brusca de Temperatura, 2020, p. 57).
A literatura não nos salva. Pelo menos isto, assim, caindo que nem uma pedra no chão, daí resultando nada mais do que um baque seco na sua esplendorosa pobreza. Essa salvação nimbadamente messiânica que, folheando páginas, regurgitando cultura a cada investida, elevando a humanidade à estratosfera dos arquétipos e recuperando neles os paraísos que fomos perdendo à medida que íamos cedendo a tentações menos livrescas, é a impostura de que se servem os mais intransigentes humanistas para fazer render o peixe que nem eles próprios estão dispostos a provar. Que escrever é um “acto de resistência”, que a poesia idem, com uma pose à Rimbaud bárbaro cheirando ao mofo dos ademanes, ou os signos da marginalidade luzindo por entre o código de barras. As humaníssimas buscas por altos refrigérios do espírito, misturando literatura e moral, acabam no mesmo inferno onde ficam a assar as boas intenções de sempre. Resta no ar essa propensão pavoneante para urdir mornos sermões, com a pose de um árcade entre nativos digitais, anunciando o apocalipse de cada dia, o apocalipse dos livros que mais ninguém lê, dos livros que se escrevem a mais, de todos os outros reduzidos a cinzas desde os tempos de Alexandria. E, por arrasto, o fim do que resta de humanidade nos humanos, ou da esperança na esperança.
Face a estes amuos estridentes que tudo amolgam sob um pessimismo antropológico e um optimismo imbecil, eis Rui Nunes, que já não tem promessas a cobrar à esperança, mas tão-só o indecidível momento da espera: “Há um livro que eles não leram e que estão sempre a citar. Lê-o tu. E espera. O apocalipse não terá túmulos a abrirem-se nem mortos a erguerem-se deles, já não haverá túmulos nem mortos, só um vento árido, limpo, sem um grão de poeira.” (No íntimo de uma gramática morta, p. 9).
Um livro que eles não leram. Primeira hipótese, de clave intertextual: “ler o que não foi escrito”, Hofmannsthal citado por Benjamin nas teses Sobre o Conceito da História (e foi à mesma citação que João Barrento recorreu para intitular a sua “conversa inacabada entre Walter Benjamin e Paul Celan”, ensaio editado em 2005 pela Cotovia, usando-a também como epígrafe: “Se quisermos olhar a História como um texto, então aplicar-se-á a ela o que um autor recente diz dos textos literários: em ambos o passado depositou imagens comparáveis às que foram fixadas numa chapa sensível à luz. […] O método histórico é, assim, filológico, e assenta sobre o livro da vida. Hofmannsthal fala de ‘ler o que não foi escrito’. O leitor que assim lê é o verdadeiro historiador”, anotou Walter Benjamin). Que livro não lido é esse, ou melhor, que livro pode ser esse? O incomensurável, porque em constante mudança, livro da vida como centro irradiante dos fenómenos. O cristal do tempo fazendo explodir o molde epistémico e determinista da própria história: não mais o tempo das datas, o da sequencialidade cronológica, o da teleologia do progresso que se desalinha como um fio, expondo supostos nexos causais entre os grandes acontecimentos, em detrimento dos pequenos. Mas antes o tempo cuja história é escovada “a contrapelo”, o tempo que coloca as “imagens dialécticas” no centro nevrálgico da vida histórica, o tempo dos clarões intempestivos que dinamitam a crença ingénua no passado enquanto sucessão de factos objectivos, propondo no seu lugar o passado enquanto instância da memória, aturdido por sintomas, deslocamentos, sonhos, fantasmas. Um tempo, enfim, cuja matéria reside, tal como o Deus de Aby Warburg, nos pormenores anódinos – nos restos, nos trapos, na escória inútil e impura do tempo, que “um vento árido, limpo, sem um grão de poeira” varre num turbilhão imemorial. Como sopra o vento do progresso empurrando o Anjo da História para o futuro, mantendo fixos os olhos no mar de ruínas do passado. Aí mesmo onde se fixam os olhos doentes, mas incisivos, de Rui Nunes.
E por isso escreve: “Recomeço a palavra, / torno-a impura, (imperfeita?)” (do poema “Reminiscências”). Eis a segunda hipótese, que de tão clara se mostra decepcionante. Uns fazem pão, outros fazem casas, uns dão aulas, outros cuidam – Rui Nunes escreve. Sem qualquer cintilação de génio, assombro aurático ou empáfia humanista: é este, é assim, o seu trabalho. A forma que arranja para tentar esclarecer o que vê, “o sem enigma do mundo”, sabendo de antemão que o esclarecimento, na sua completude hialina, não é menos que uma mordaça ou uma complacência sinistra. Tem livros cheios de nada, páginas onde os nadas da vida esfarelam a confiança residual com que um leitor julga pôr-se a salvo sempre que, ao fechar um livro, encerra nele o inferno que leu. Pois os infernos em que arde o texto ruiniano pertencem todos ao mesmo círculo: o da história, o do tempo, que são os nossos, por muito que nos custe admiti-lo. Ou se desiste de o lermos, com toda a legitimidade do mundo (fossem todas as provações da vida o deixar-se um livro a meio…), ou se aceita levar connosco, por dentro, o esplendor obscuro de um peso desmedido, sentindo que daí em diante não mais se verá a vida da mesma forma. Nem a vida, nem a leitura, mesmo a de outros livros e autores que pouco ou nada terão que ver com o que nos é mostrado em Barro, Cães ou Baixo Contínuo. Livros como estes prolongam o gesto ético e político de uma obstinação pessoal: o gesto de investir com o corpo – com a sua dureza física, a consistência opaca, o escândalo insensato da carne, “a ciência árida do peso” (No íntimo…, p. 30) – contra a progressiva desmaterialização do mundo, a supremacia do abstracto sobre o concreto, ou a redutibilidade da pessoa a meras “letras e números” com “a frieza de relatórios” (O choro é um lugar incerto, p. 38).
Dir-se-ia, até, em termos muito chãos, que escrever é a sua forma de resistir à morte mantendo-se vivo, insultando-a com a existência da vida, agarrando-se-lhe com unhas e dentes e uma lucidez extrema perante o acinte autofágico da contemporaneidade. Mas resistir à morte, no seu simplismo minguadamente heróico, soará esdrúxulo a quem chegou aos 75 anos de idade com o corpo a falir aos pedaços. A quem, de um modo tão pungente quanto intolerável por vezes, discorreu sobre a homossexualidade vivida como um flagelo estigmatizante no pós-25 de Abril, no pico da sida, o direito natural ao afecto tornado equivalente ao insulto e à humilhação pela moral do poder e pelo poder da moral (“a foda bem educada”). A um militante comunista heterodoxo, que a páginas tantas de O Mensageiro Diferido (1981) admite, apreensivo, vislumbrar “um futuro sem eco”, “nublado pelos crentes felizes de hoje”, e pressente “a fragilidade da minha ideologia”, com “os grandes mestres […] a apodrecer” e a “demência” de “colocarmos os seus cadáveres no horizonte dos projectos” (pp. 66-7) – que significa, então, a resistência à morte perante os caprichos interstelares de um Bezos ou um Branson, celebrando a gravidade zero, enquanto os pés que estão sobre a Terra “sabem que numa lixeira não há desvios: desviam-se do lixo e pisam lixo” (No íntimo…, p. 45)?
Em todo este diagnóstico ressoa a inquietude corrosiva, por exemplo – e é um exemplo entre muitos, entre outras vozes que transigem a complacência fukuyamista abafante e particularmente cínica destes tempos que se dizem “pós-históricos”, “pós-políticos”, “pós-democráticos” –, de um Bernard Nöel, o polémico escritor e poeta francês, que morreu aos 90 anos em Abril de 2021 e cujo maior medo fora sempre o de “fazer literatura”. Vejamos:
O bom-gosto é um dos polícias da moral. Aperta-a à volta do nosso pescoço e sobre os olhos. O bom-gosto é uma forma de temperar com o esquecimento a morte dos outros. E mesmo agora, não me sinto capaz de expulsar este bom-gosto totalmente. Como posso eu ordenar a minha frase para que ela se recuse à articulação do poder? Seria preciso uma linguagem que, por si mesma, fosse já um insulto à opressão. E mais do que um insulto, um NÃO. Como encontrar uma linguagem inutilizável pelo opressor? Uma sintaxe que tornasse as palavras aceradas e que rasgasse a língua a todos os Pinochets? Escritos: eis gritos reprimidos. (O Castelo de Ceia, 1997, pp. 130-1).
“[…] escreve-se para sobrepor uma deriva à deriva universal. Merda para a mensagem, aliás a mensagem é uma tentativa de censura porque tem como fim impor uma verdade. O significado é o fedor da carniça mental, o cheiro da decomposição. Mas no fundo disto, camarada leitor, será que ainda haverá corpo?” (idem, p. 138).
Mais do que uma resposta a esse último apelo de Nöel, a escrita de Rui Nunes constitui a sua deflagração: uma escrita-corpo. Retomando O Mensageiro Diferido: “não neguemos o presente em nome da ficção final, assumamo-lo, não neguemos a dor, mas presentifiquemo-la no espaço absoluto do corpo, que ela nos impeça de esquecer que este corpo é o nosso corpo e que tem um peso” (p. 67). Escrever é, sem dúvida, um adiamento simbólico da morte, do que nela há de absoluto e irreversível, e é uma afirmação da vida, mesmo que dela só tenhamos rastros e resíduos. Mas a morte tem sido sempre natural a Rui Nunes, uma consciência de que tudo morre, de que se morre, sem pingo de redenção ou luz ao fundo do túnel. A morte como a mensagem secreta na famosa parábola de Poe, A Carta Roubada: tão evidente, tão próxima e ao alcance de todos, que nem sequer a notamos. E Rui Nunes aí está, qual estóico tresmalhado, preparando-se em vida para o longo esquecimento que a morte somente tornará definitivo.
E por isso escreve. A escrita ilumina o informe, sem nunca procurar subjugá-lo à monotonia dos géneros ou das convenções. Fá-lo não por intrepidez, espírito de militância aguerrida ou vanguardismo literário (disso o acusa, de um modo bastante trapaceiro, Alberto Velho Nogueira, no volume Ensaios 3, catalogando o autor de Barro como exemplo da “literatura artista portuguesa”). Fá-lo, ao invés, porque a sua escrita e o seu olhar, a escrita e a visão imanente das coisas, a escrita e a falência do corpo, implicam-se fisiologicamente aqui. A um par de olhos míopes que, para saber da existência do mundo e da facticidade da vida, precisou desde sempre de colar o rosto às coisas, de tornear os veios, os poros, a superfície estriada e granulosa de cada objecto, nunca houve nada que se assemelhasse a uma “paisagem”, a uma “totalidade”, a esse sentido redondo e integrador, de propensão abstratizante, que têm estas e outras palavras, como “mundo”, “vida”, “beleza” ou “amor”. Tudo isto é pura melopeia, nada disto sobrevive aos olhos de Rui Nunes.
“O meu olhar, sem poder”, lê-se em Suíte e Fúria, “vê unicamente o que o poder rejeita: um escombro criador de escombros” (p. 69). Um texto, qual teia que faça jus ao étimo, não pode ser senão a fractura por onde o real se infiltra, inundando a mancha da página, contaminando-se mutuamente pela simultaneidade das coisas, como num anel de Möbius. Até chegares à voz silenciada e não à voz silenciosa, a esse lugar que escapa a Deus.
Referências
AA.VV. (2020), Descida Brusca de Temperatura. Alguma poesia suíça, selecção, tradução e nota introdutória de Luís Filipe Parrado, Vila Meã, Contracapa.
Barrento, João (2005), Ler o que não foi escrito. Conversa inacabada entre Walter Benjamin e Paul Celan, Lisboa, Cotovia.
Benjamin, Walter (2017), O Anjo da História, edição e tradução de João Barrento, Lisboa, Assírio & Alvim.
Celan, Paul (1996), Sete Rosas Mais Tarde. Antologia Poética, selecção, tradução e introdução de João Barrento e Yvette Centeno, Lisboa, Cotovia.
Duarte, João Oliveira, “Rui Nunes. O infinito trabalho de destruição”, jornal i, 21-06-2021, disponível em https://ionline.sapo.pt/artigo/738341/rui-nunes-o-infinito-trabalho-da-destruicao-?seccao=Mais_i.
Helder, Herberto (2009), Os Passos em Volta, 10.ª edição, Lisboa, Assírio & Alvim.
Homero (2003), Odisseia, tradução do grego e introdução de Frederico Lourenço, colecção Biblioteca Editores Independentes, Lisboa, Cotovia.
Molder, Maria Filomena (2020), O absoluto que pertence à terra, Edições do Saguão.
Nogueira, Alberto Velho (2020), ensaio sobre Barro, de Rui Nunes, Ensaios 3, Jaula ou covil onde se encerravam as feras, pp. 573-601.
Noël, Bernard (1997), O Castelo da Ceia seguido de O Castelo de Fora, O Atentado às Palavras e A Pornografia, tradução de Laura Lourenço & Marc-Ange Graff, Lisboa, Fenda.
Nunes, Rui (1981), O Mensageiro Diferido, colecção Ficções 7, A Regra do Jogo.
_________ (1995), Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado?, Lisboa, Relógio D’Água.
_________ (2005), O Choro É Um Lugar Incerto, Lisboa, Relógio D’Água.
_________ (2015), Mensageiro Diferido, episódio 1, projecto “Arquipélago”, de Diogo Vaz Pinto, Hugo Magro e Paulo Tavares, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pJciskT5mR8&t=38s.
_________ (2016), A Crisálida, Lisboa, Relógio D’Água.
_________ (2018), Suíte e Fúria, Lisboa, Relógio D’Água.
_________, “Reminiscências”, Telhados de Vidro, n.º 23, novembro de 2018, Averno, pp. 183-4.
_________ “Em Portugal, o racismo e o antissemitismo são fortes”, entrevista concedida a Cristina Margato, suplemento E, 8 de março de 2020, disponível em https://expresso.pt/cultura/2020-03-08-Rui-Nunes-Em-Portugal-o-racismo-e-o-antissemitismo-sao-fortes.
_________ (2020), O Anjo Camponês, Lisboa, Relógio D’Água.
_________ (2021), No íntimo de uma gramática morta, Porto, Officium Lectionis.
Sloterdijk, Peter (2011), Crítica da Razão Cínica, tradução de Manuel Resende, Relógio D’Água, 2011.
Vinagre, Valter & Ribeiro, Eunice (2020), Boca, Castelo Branco, Terceira Pessoa.
Nota: o autor agradece a Ana Baião/jornal Expresso a autorização concedida para o uso da fotografia principal.