Entrevista. Miguel Carvalho: “O Estado não pode fugir da sua responsabilidade no apoio ao jornalismo enquanto serviço público”

Entrevista realizada por Ana Monteiro Fernandes e Rui André Soares.
Para Miguel Carvalho, jornalista de investigação freelancer tendo passado pelo Diário de Notícias, O Independente e a revista Visão, as três medidas imediatas a serem implementadas para a salvaguarda do jornalismo são as seguintes: criar-se um conjunto de apoios estatais efetivos, a preservação dos arquivos da imprensa, e a dinamização da sociedade civil para a defesa da imprensa. O jornalista enfatiza: “O Estado não pode fugir da sua responsabilidade no apoio ao jornalismo enquanto serviço público.” E relembra que “a esmagadora maioria dos Estados da União Europeia apoia o jornalismo, concede verbas“, referiu à Comunidade Cultura e Arte (CCA).
Liga o crescimento do Chega, alvo das suas investigações enquanto jornalista e ao qual se refere como direita radical populista, também à crise dos média e enfatiza que “chegámos ao ponto mais frágil do jornalismo em democracia”, embora esteja bastante otimista com a nova geração de jornalistas que têm feito valer os seus direitos e com a última greve dos jornalistas. Quanto ao Chega, e até com a expressão das redes sociais, diz que o partido já nem sequer precisa dos média para fazer passar a sua mensagem, e declara: “Nós [jornalistas] vamos de trotineta e eles [o Chega] vão de Ferrari: daqui a nada não há trotineta, sequer.” A ascensão eleitoral do partido não foi para si uma surpresa e revela que conhece bem o eleitorado. Afirma que se pode acabar com o Chega, mas não com o país Chega, porque a narrativa do partido vai ao encontro do que esse eleitorado quer ouvir, mas não deixa de dizer que há, também, uma parte significativa de pessoas que estão no Chega por variadíssimas razões, entre as quais um Portugal esquecido também pela imprensa, e que ainda pode e deve ser resgatado.
Ana Monteiro Fernandes [AMF] – Como é que surgiu o jornalismo na tua vida? Desde 1989, quando começaste, até agora, quais são as grandes diferenças?
Desde a minha memória mais longínqua que me lembro de querer ser jornalista. Havia muitos jornais lá em casa, apesar de sermos uma família bastante humilde e bastante remediada. O meu pai comprava imensos jornais, mas aquilo não me satisfazia. Desde roubar os jornais da casa dos vizinhos a roubar jornais dos quiosques — felizmente já prescreveu [risos] — a fazer fanzines desde miúdo — lembro-me de, inclusive, fazer um jornal da família — posso dizer que estou na profissão que sempre quis. Quanto às mudanças, às vezes ponho-me a pensar nesse tempo e a evolução tecnológica é completamente diferente. As redações estão completamente mudadas e era um tempo em que a memória ainda estava muito presente nos jornais. Falo de jornais porque foi onde sempre trabalhei, jornais e revistas — fiz rádio, mas só rádio amadora e, quanto à televisão, só comentário — mas nesse tempo ainda não se tinham começado a afastar as pessoas das redações que traziam memória, que traziam um percurso sólido e que eram importantes para contextualizares uma série de coisas. Acho que essa é uma das grandes diferenças em relação a hoje, as pessoas que trazem essa memória e que podem ajudar a contextualizar percursos, histórias e protagonistas. Essa gente foi toda afastada e a revolução tecnológica é absolutamente avassaladora. Já nem sei, hoje, pegar numa máquina de escrever.

Rui André Soares [RAS] – Qual é a tua opinião sobre os cursos de Ciências da Comunicação?
Não tenho formação universitária. Fiz o 12.º ano e fiz um curso técnico-profissional de radiojornalismo, no antigo Centro de Formação de Jornalistas do Porto, muito bom, por sinal, mas técnico-profissional, demorou nove meses. Fui editor da Visão durante dez anos e quase todas as semanas vinham ter comigo alunos das escolas e dos cursos de Ciências da Comunicação e fiquei agradavelmente impressionado. Em primeiro lugar, porque eram pessoas que sabiam mesmo o que queriam, na maioria dos casos, e com os valores todos no sítio, os valores associados à integridade deste ofício, os valores associados ao serviço público que este ofício presta. As pessoas traziam tudo isso e traziam os seus sonhos. É um bocado aquela ideia de que a escrever também vão mudar o mundo, que é uma coisa muito importante por muito que não aconteça. Tenho uma amiga, a Cláudia Lobo, que foi até há pouco tempo diretora da Visão História, que me disse uma vez uma coisa que eu jamais esqueci: “Tu escreves como se fosses mudar o mundo, mesmo que ele não mude”. Devemos ter isso sempre presente. O eco, portanto, que me chegava dos cursos não era exatamente mau. Notava-se, isso sim — depois mantive algum contato com algumas dessas pessoas — que se queixavam, como consequência, do primeiro impacto ao chegar às redações. Ao fim de uns meses, achavam que não tinham aprendido nada ou, pelo menos, não tinham aprendido a lidar com aquele cotidiano e essa era uma fragilidade dos cursos da qual eles se queixavam com muita frequência.
AMF – Normalmente entra-se na profissão de jornalista com o salário nivelado pelo estágio do IEFP — hoje em dia estamos a falar de cerca de 900 euros —, e há jornalistas que têm 10 ou 15 anos de casa e que recebem o mesmo desde que começaram. Como é que se muda este paradigma, já que a precariedade condiciona o jornalismo de qualidade e livre?
Essa é a tal pergunta do milhão de euros. Tenho a noção da absoluta gravidade disso porque ganhava, em 1992, antes de entrar para o quadro no Diário de Notícias, o equivalente, mais coisa menos coisa, a esse valor, já nessa altura. Portanto, a degradação pode ser medida, desde logo, assim: passaram estes anos todos e há gente a ganhar o que eu ganhava, em 1992. Como é que se muda isso? Não sei. Só conheço, nos últimos tempos, más notícias: pessoas que veem chegar, mais depressa, o fim do salário do que o fim do mês. São pessoas que não têm, sequer, perspetivas de progressão; pessoas que são fragilizadas, diariamente, nos seus horários de trabalho, que estão cada vez mais frustradas. Ou seja, as mesmas pessoas que vi cheias de sonhos, cheias de vontade de vestir o jornalismo como ele deve ser e ao serviço da democracia e das liberdades, estão completamente frustradas em relação ao que se pode conseguir numa redação hoje em dia, em relação a esses objetivos. Muitas saem cedo para outras coisas porque não têm qualquer hipótese de se fixarem, eternamente, num trabalho destes que não compensa tudo aquilo que as pessoas lhe dão. Passamos a vida, de uma forma geral, a cumprir Abril e Abril não cumpre connosco uma data de vezes. Como é que isto se muda? Não sei. No último congresso debatemos bastante estas questões e ninguém chegou a uma conclusão. A única conclusão a que chegámos é que há margem de manobra para o jornalismo continuar a existir nos termos em que a gente o valoriza. Em diversos formatos, surgiram órgãos de informação que, com maior ou menor dificuldade, estão a cumprir esse papel: lembro-me, particularmente, do Divergente, que conheço melhor e que tem ganho prémios atrás de prémios com os seus trabalhos. Sempre na corda bamba, obviamente, mas a mostrar ao mainstream como é que as coisas podem ser feitas e podem ter um rumo. Tem de haver aqui um Estado, por muitos tabus que se gerem à volta disso. O Estado tem de ter aqui um papel, não pode fugir da sua responsabilidade no apoio ao jornalismo enquanto serviço público. Não me venham com a conversa de que as ajudas do Estado podem gerar perversidades, manipulação, controlo político, tudo isso, quando a esmagadora maioria dos Estados da União Europeia apoia o jornalismo, concede verbas.
“As mesmas pessoas que vi cheias de sonhos, cheias de vontade de vestir o jornalismo como ele deve ser e ao serviço da democracia e das liberdades, estão completamente frustradas em relação ao que se pode conseguir numa redação hoje em dia.”
RAS – Esse apoio devia ser direto ou indireto?
Há várias formas e não escolho uma. O Joaquim Fidalgo, que é uma pessoa que percebe disto e que estudou o tema a fundo, apresentou no último Congresso um estudo sobre os apoios públicos à imprensa na União Europeia e são muito diversos. Passa, por exemplo, por se criarem comissões independentes que decidam como é que se faz, em que termos e que tipo de órgãos é que se apoiam ou não.
RAS – Uma espécie de DGARTES?
Uma espécie, mas pelos vistos funciona melhor porque a ideia com que fiquei e que ele me transmitiu é que da esquerda à direita, se se pensava que isto iria gerar grande controvérsia, a verdade é que não gerou. Ou seja, mesmo entre partidos políticos muito diferentes esses apoios não são questionados. Mesmo em França, creio que no ano passado, quanto aos apoios à imprensa, desde os grandes jornais nacionais aos pequenos regionais, foram dados apoios muito próximos já dos trezentos milhões de euros e ninguém pôs aquilo em causa.
RAS – Há a falta de um grande debate geral.
Isso claro! Esta tecla anda a ser batida há muito tempo por muitos de nós. Foi um dos pontos essenciais do Congresso, houve os tumultos e as lutas na Global Media, houve a greve geral. A questão voltou a levantar-se e, depois, foste ver a campanha eleitoral e zero sobre este assunto. Claro que há exceções, mas duma forma geral a classe política continua a ignorar completamente esta questão. Quando me vêm com o papão do Estado, a pergunta que devolvo é esta: “Ai o Estado é que é o papão? Mas não foi o mercado que nos trouxe a isto?”
RAS – Uma das suas justificações para rebater o argumento da influência política e do Estado é, também, a influência dos grupos e corporações a nível económico que existe actualmente. É o poder económico que tem, actualmente, o jornalismo refém? Antes talvez fosse o poder político, mas os papéis inverteram-se agora?
Não é só agora, começou com a liberalização do mercado na área da comunicação social, em pleno período cavaquista. Não estou a dizer que foi tudo mal feito porque, de facto, existiam coisas muito enquistadas, em que o papel do Estado era absolutamente perverso. A RTP talvez seja o exemplo: todos os anos existiam filmes à volta do controlo político da RTP e essa questão, hoje, está bastante diluída. Acho que funciona, pelo que sei, com alguma transparência. Vamos ver o que é que vai acontecer agora, mas acho que as coisas nunca foram tão transparentes como atualmente. No entanto, esse papel do poder económico e do poder financeiro, começaste a senti-lo bastante, logo no início dos anos 90. Existe esse condicionamento, só que nunca se fala muito disto, como se pelo simples facto de ser o mercado a “regular”, todas estas coisas fossem relativamente pacíficas e corressem todas bem. A verdade é que chegámos aqui, chegámos ao ponto mais frágil do jornalismo em democracia. Acresce que temos vindo a assistir na última década — e agora, obviamente, agravou-se — à chegada a este meio, à área da imprensa, de empresários de vão de escada, tipos que são patos bravos, que andaram na sarjeta das campanhas eleitorais, que têm ramificações internacionais muito duvidosas. Aliás, isto é bastante visível nos últimos tempos. O jornalismo, portanto, a imprensa, de uma forma geral, está a atrair investidores cuja última coisa com que estão preocupados é com a sobrevivência da imprensa. Querem é, sobretudo, usar a imprensa como veículo de defesa dos seus próprios interesses e, portanto, até nesse aspecto, nunca foi tão mau.
AMF – Achas que as notícias se mercantilizaram para agradar a públicos despolitizados?
Sim, embora ache que a culpa não é só nossa enquanto jornalistas. Temos culpa no estado a que as coisas chegaram porque estivemos, durante muito tempo, demasiado anestesiados nas redações. Uns por anestesia, mesmo; outros porque, entretanto, tinham atingido um determinado estatuto e não estavam para se chatear; outros porque se acomodaram bastante ao seu poder pessoal, ao seu poder editorial e não estavam para se chatear muito. Nós, de alguma maneira, contribuímos para que não fosse dado, em tempo útil, um murro na mesa para evitar algumas perversões a esse nível. Agora é tarde. Temos entretenimento misturado com informação e, a dada altura, aquilo não é uma coisa nem outra. Ou seja, o que é que a crise do jornalismo faz? Faz com que estejas cada vez mais dependente de coisas que até, às vezes, são decididas pelas administrações e pelas direções nas tuas costas. Podes, perfeitamente, ir fazer uma entrevista à personagem X ou à personagem Y e vais absolutamente inocente, fiel à integridade do ofício e, depois, percebes que há um contrato por trás que o jornal negociou para fazeres essa entrevista. Isto é a pontapé, hoje em dia. As redações não têm, hoje, a força para reagir a uma coisa dessas. Uma coisa que pode parecer diminuta ou pequenina face às circunstâncias, mas que acho que é importante para se começarem a resolver alguns problemas destes, é voltar a dar aos conselhos de redação o poder de darem pareceres que fossem levados em conta. Hoje, se um conselho de redação dá um parecer sobre uma determinada matéria, esse parecer não é vinculativo.
“O jornalismo, portanto, a imprensa, de uma forma geral, está a atrair investidores cuja última coisa com que estão preocupados é com a sobrevivência da imprensa. Querem é, sobretudo, usar a imprensa como veículo de defesa dos seus próprios interesses e, portanto, até nesse aspecto, nunca foi tão mau.”
RAS – Deixaram de ser porquê?
Acho que foi no contexto desta ideia de que, enfim, essas coisas estavam esgotadas e a liberalização do mercado iria evitar que isso fosse uma questão absolutamente essencial. Isto vem, claramente, desde o final dos 80 até ao início dos anos 90, mas no último congresso voltou a defender-se o regresso dos pareceres vinculativos. Garanto que muita coisa não tinha passado.

RAS – Este ano aconteceu a primeira greve geral de jornalistas em mais de 40 anos. Mais de 60 redações pararam. Sentes que algo mudou ou mudará depois disto? Não é também um pouco estranho que seja a primeira greve geral em 40 anos, quando a classe jornalística tem sofrido tanto nos últimos anos?
É, e acho que tem a ver com isso que te disse, ou seja, com essa anestesia. Estivemos muito tempo a olhar para o balão e a acreditar, muitos de nós, que íamos cedendo em direitos, íamos cedendo nestas perversidades editoriais que depois deram às direções comerciais e às administrações um poder nas redações que não era imaginável quando comecei. Mas passava pela cabeça de alguém que um administrador pusesse um pé na redação? Jamais aconteceria, isso era o fim da macacada. Hoje passeiam-se alegremente e até, em alguns casos, se sentem com à vontade para dizer o que é que editorialmente deve estar em primeiro lugar, ao que é que se deve dar prioridade. Isso era completamente impossível. Isso contou com a nossa anestesia. Contou com a nossa falta de união. Estivemos muito tempo divididos, em certa medida ainda estamos. Esta greve teve um fator positivo, no entanto, e acho que aí vai ser difícil voltar para trás. Confesso que, sendo a favor de todas as matérias que foram discutidas e reivindicadas, e tendo votado a favor da greve, era daqueles que estava bastante receoso de que isto pudesse ser um fiasco. Há duas ou três razões que, no meu entender, fazem com que aquilo não tenha sido um fiasco. Primeiro, quem saltou para os cornos do touro, por assim dizer, foi a geração mais precarizada. Ou seja, as pessoas que mais tinham a perder. As pessoas que, mais rapidamente por causa da sua atitude, poderiam receber uma espécie de bullying laboral nas redações foram as primeiras a ir para a frente e arrastar alguns que estavam bastante acomodados ou continuam bastante acomodados nas suas posições: isso é uma mudança muito grande. Trabalhei com algumas dessas pessoas que, há uns anos, não podiam ouvir falar de sindicalismo: “Credo, sindicatos nem pensar”. Algumas desses improváveis, no entanto, estão hoje sindicalizadas por causa destas lutas e concluíram que não podem andar tão anestesiados e tão distraídos do cotidiano das redações, como andaram. Mais, além disso ter sido um sobressalto para as suas próprias vidas profissionais, porque acabaram por sentir na pele muito daquilo que ignoravam e que já vinha acontecendo há muitos anos são elas, hoje, a contagiar outros. Falo com gente que tem 20 e tal anos que está nas redações a passar por tudo isto que estivemos a descrever e são elas que hoje me contagiam a mim. São elas que já sabem tudo e mais alguma coisa sobre como é que isto não pode parar. Por outro lado, na greve, e nós sabemos isso de muitas conversas de bastidores, houve direções, alguma chefia e, até, algumas administrações, que achavam que tinham tudo mais ou menos controlado, que não se ia passar nada, que com mais um grevista, menos um grevista, a coisa ia-se fazer e, às 8 da manhã, estavam em pânico. Às 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, quando começavam a pensar em noticiários, estavam em pânico. Isso, portanto, significa também alguma coisa. Mas isto já vem de trás, quer dizer, a própria luta na Global Media foi absolutamente inspiradora a esse nível. Isto é completamente diferente, portanto, isto não é de hoje, há algo que se está a mexer e acho que há coisas que, dificilmente, voltarão para trás. Onde é que nos vão levar? É outra questão, vamos ver.
“Temos culpa no estado a que as coisas chegaram porque estivemos, durante muito tempo, demasiado anestesiados nas redações. Uns por anestesia, mesmo; outros porque, entretanto, tinham atingido um determinado estatuto e não estavam para se chatear; outros porque acomodaram-se bastante ao seu poder pessoal, ao seu poder editorial e não estavam para se chatear muito. Nós [jornalistas], de alguma maneira, contribuímos para que não fosse dado, em tempo útil, um murro na mesa para evitar algumas perversões a esse nível.”
AMF – Mas achas que o que aconteceu na Global Media deu um novo impulso para os jornalistas se unirem?
Sim, ou seja, tem a ver com tudo isto que estava a dizer. Acho que sim. Acho que o facto de ter sido gente nova, gente, em muitos casos, absolutamente precarizada, a recibos verdes, e a viver quotidianos laborais de autêntica escravatura sem poderem decidir nada ou tomar as rédeas da sua vida em relação a constituir família, a ter uma casa; o facto de ter sido essa gente e essa gente ter contagiado outros que estavam bastante acomodados e que são chamados de velha-guarda, acho que isso é e foi muito importante.
AMF – Mas porque é que achas que se diz sempre que a classe jornalística não é unida?
Só posso falar da experiência que conheço mais diretamente. Vamos lá ver, tal como na política há gente que começou no MRPP e acabou Presidente da Comissão Europeia, no jornalismo também há gente que começou muito revolucionária e que, entretanto, fez carreira e acha que tudo isto é muito excessivo e que não há motivos para estas revoltas e para estas lutas laborais. Obviamente que isso divide mas, se fores mais atrás, nem houve propriamente divisão a dada altura, porque tinhas quase toda a gente anestesiada: uns porque tinham chegado a um estatuto onde estavam, cada vez mais, a viver a vida que sempre sonharam com carro atribuído, cartão de crédito e a pôr e a dispor de duma redação mas, depois, tínhamos os outros que eram carne para canhão e que ainda estavam completamente deslumbrados. Operariado, entre comas. Portanto, o deslumbre de uns e o estatuto de outros permitiram que, a dada altura, nem houvesse muitas divisões. Como disse, temos relações muito frágeis, continuo a dizer que o jornalismo vive o seu pior tempo em democracia, e muitas vezes, quando me perguntam “mas não vês uma luz ao fundo do túnel?”. Cada vez que vejo uma luz ao fundo do túnel, é o próximo comboio. A esperança está reduzida ao mínimo, mas acho que isto foi um solavanco importante e até vi gente na rua que não esperava ver. Não só todo este contínuo — a crise da Global é absolutamente seminal nisto — sobretudo porque é um levantamento de uma geração que tu, apesar de tudo, achavas que comia e calava, mas não comeu nem calou. Acho que isso é um exemplo importante.
“O jornalismo vive o seu pior tempo em democracia, e muitas vezes, quando me perguntam “mas não vês uma luz ao fundo do túnel?”. Cada vez que vejo uma luz ao fundo do túnel, é o próximo comboio.”
RAS – O jornalismo regional está numa grave crise, por vários motivos. Há até Câmaras Municipais com grandes equipas de assessoria que por vezes tentam fazer o papel dos jornais e dos jornalistas, mas que na verdade é só marketing político. Como é que se faz o escrutínio jornalístico do poder político e económico locais, quando as redações vivem nesta concorrência da atenção mas que são trabalhos totalmente diferentes?
Não se faz. Isso foi uma das partes da minha intervenção lá no Congresso dos Jornalistas. Primeiro, esse é um território, em muitos casos, que só é lembrado pela imprensa mainstream quando há assuntos de faca e alguidar ou incêndios. Ou seja, aí tens o toca e foge habitual. Ninguém faz o trabalho contínuo sobre como é que se vive nessas terras, as dificuldades, porque é que o hospital foi à vida, porque é que a escola foi à vida. Se quisermos discutir, em parte — obviamente, não na totalidade — mas se quisermos discutir o eleitorado que deu esta votação extraordinária à direita radical populista, parte da explicação está aqui, no sentimento de negligência e de abandono destas regiões. Há problemas que a nível local ainda se tornam mais graves. Quando tentas ter uma imprensa minimamente séria, mas todos os dias encontras o gajo sobre quem tu escreves na mesa do café; quando os recursos estão praticamente entregues a dois ou três empresários e à câmara municipal, é quase um ato heróico teres um órgão de informação independente. Dos que conheço mais de perto, conheço um que é um exemplo de heroísmo a esse nível, que é Rádio Paivense, absolutamente decisiva na denúncia de uma série de coisas a seguir à queda da ponte de Castelo de Paiva. Conheço muito bem o Emanuel Damas que é um repórter de excelência e que, para que a informação continuasse a ser séria e íntegra no meio muito complicado para se fazer jornalismo, abdicou de muitos salários e recebia quando podia. Só que o jornalismo não pode ser isto. Para isso é melhor ter os boletins municipais, porque aí, lá está, mais uma vez, não é o mercado que vai resolver isto, é o Estado com regras claras. Podemos discutir toda uma panóplia de soluções, inspirar-nos em vários exemplos europeus e discutir a sobrevivência, também, deste jornalismo, porque foi isso também que levou ao afastamento de pessoas da sua própria região. E não devemos esquecer o papel da cidadania. Atenção! Nós falamos muito das nossas responsabilidades — ainda no outro dia disse isso em Penafiel, numa pergunta sobre jornalismo — os cidadãos, se é que valorizam isso e consideram que o jornalismo é importante para a preservação da democracia, do pluralismo, das liberdades, se é importante para escrutínio dos poderes, não se pode excluir disso.
“Agora é tarde. Temos entretenimento misturado com informação e, a dada altura, aquilo não é uma coisa nem outra. Ou seja, o que é que a crise do jornalismo faz? Faz com que estejas cada vez mais dependente de coisas que até, às vezes, são decididas pelas administrações e pelas direções nas tuas costas.”
AMF – Mas a partir do momento em que, por exemplo, há um assessor nas câmaras que, por acaso, até já foi jornalista, a fazer o controlo dos meios de comunicação que podem chegar ou não a essa câmara, ou ao presidente, o escrutínio torna-se difícil porque há um controlo. Até porque podem perguntar primeiro qual é o tema da entrevista ou quais são as perguntas. Não deixa de haver uma mediação. Relembrando que muitos desses assessores até já foram jornalistas.
E muitos estão a ir agora, mas eu não censuro que um jornalista, numa fase da vida, pelas mais diversas razões, possa optar por uma assessoria política no gabinete de comunicação do Governo ou de um partido. O que eu reivindico é o período de nojo porque, normalmente, é uma viagem sem regresso, ou devia ser, normalmente. Agora, isto não é só a nível local, como sabemos. Muitas das questões que estivemos aqui a discutir, por exemplo, em relação à Global, tem muito a ver com isso. Naqueles bastidores estiveram envolvidas pessoas que fizeram o seu treino na assessoria política. De jornalismo, tiveram uma pequena percentagem nas suas vidas, portanto, são essas pessoas que depois distribuem jogo, são essas pessoas que condicionam na sombra, muitas vezes — o seu nome, às vezes, nem sequer aparece em nenhum documento da empresa — que condicionam as narrativas que se produzem em determinado órgão de informação. Claro que nos meios pequenos isto é cortar qualquer tipo de oxigénio.

AMF – Os próprios políticos já não estão tão dependentes de fazerem passar a sua mensagem pela imprensa. Viu-se na última campanha que os líderes partidários acorreram mais a podcasts do youtube do que, por exemplo, à imprensa escrita. Podem as redes sociais serem, efetivamente, o quinto poder, sendo a comunicação social o quarto?
[Risos] Acho que já são, não é? Em certo sentido já são. O crescimento do Chega tem tudo a ver com isto. Sei por experiência própria, grande parte das vezes que escrevi matérias sobre o Chega e questionava a assessoria de imprensa sobre as matérias que estava a escrever, nunca vinha a resposta. Eles já nem sequer valorizam o que a imprensa escreve ou deixa de escrever. Não vinha nada, nenhuma resposta, nada. É quase dizer, escreve o que te apetecer que isso já não tem valor nenhum. Quando a Rita Matias faz um vídeo no TikTok com 300 e tal mil visualizações já não precisa disso.
“Quando tentas ter uma imprensa minimamente séria, mas todos os dias encontras o gajo sobre quem tu escreves na mesa do café; quando os recursos estão praticamente entregues a dois ou três empresários e à câmara municipal, é quase um ato heróico teres um órgão de informação independente.”
RAS – Também estive no Congresso dos Jornalistas e, a dada altura, uma jornalista disse que queria entrevistar alguém do Chega e essa pessoa disse-lhe que não dava entrevistas porque não precisava de aparecer, e o seu argumento foi que a sua página de Facebook tinha mais seguidores do que a do jornal…
Direta ou indiretamente, o Chega já não precisa. Precisou no início para fazer ruído e a verdade é que fomos atrás, de uma forma geral. Aqui falo com bastante conhecimento de causa, a minha principal área de investigação desde que o Chega nasceu, é o Chega. No início precisou para fazer ruído, para criar ruído, para ser assunto. Nós [os jornalistas] não investigámos, nessa altura, tudo o que víamos sobre aquele partido e, ainda hoje, somos muito poucos aqueles que conhecem o partido profundamente. A dada altura, protestávamos muito, mas lá íamos com o pé de microfone saber o que é que o senhor tinha para dizer. Inclusive, deixando que ele dissesse tudo e um par de botas. A partir do momento em que a manipulação começa, o microfone tem de ser recolhido e vamos à nossa vida. Não estamos ali para ser manipulados. Eu próprio vivi essa experiência: em 2020 o líder do Chega anunciou que tinha sido convidado para a Convenção Republicana do Trump e toda a gente viu isto. Foi notícia no I, já não me recordo se a agência Lusa fez uma notícia, mas foi divulgado. Entretanto, aquilo já andava a correr nas redes e eu demorei três semanas a confirmar aquilo, porque aquilo era uma anedota e nunca existiu nenhum convite. É um dilema com que nos deparamos hoje. Dou-te o exemplo da Argentina, que acho que é um exemplo que cai aqui que nem uma luva: todos os dias, durante a campanha do Milei, havia um vídeo ou um “Photoshop” qualquer a dizer que o Messi apoiava, direta ou indiretamente, a candidatura do Milei. Em alguns casos, era manipulando a voz, em outros casos era criticando o anterior governo induzindo o eleitor a pensar: “Pois, o gajo não gostava dos que estavam, quer este!” Todos os dias! A imprensa argentina, séria, fez o seu trabalho. Sempre que aparecia um vídeo deles, fazia-se fact checking, mas demorava dois ou três dias a desmontar e, entretanto, milhões de argentinos já tinham visto o vídeo do Messi a apoiar o Milei: é com isso com que estamos confrontados hoje em dia. A verdade não é uma coisa que interesse, particularmente, a André Ventura, portanto, como disse lá no congresso, nós vamos de trotineta e eles vão de Ferrari: daqui a nada não há trotineta, sequer.
RAS – Também se fala muito dos desertos de informação e de que a agenda mediática nacional é regida por Lisboa e pelo Porto. Estas poderão ser as razões pelas quais as pessoas se sentem esquecidas tanto pelo poder político como pelo jornalismo?
Sim. Quando andei a investigar em Portugal inteiro o crescimento do Chega, contactei com dirigentes e com militantes do Chega, porque almoço e janto com eles e quis, sempre, tentar perceber a perspetiva fosse no Porto e em Lisboa, ou fosse em Alguidares de Baixo. Esse sentimento de negligência, abandono, de que não contam para nada do que é decidido em Lisboa, isso existe. Vi isso em 2020, no início, depois veio a pandemia e foi mais difícil. Quando voltei ao terreno, voltei a ouvir esse discurso. Sentei-me muitas vezes com eleitores do Chega, militantes ou não, em que a conversa sobre ciganos ou sobre a imigração vinha ao fim de duas horas, porque as primeiras queixas eram sobre o hospital que fechou, a escola que está a não sei quantos quilómetros, os correios que fecharem, a agência bancária também a fechar e, portanto, até pelo facto das pessoas não se sentirem representadas por elegerem poucos deputados. Mais, até nisso André Ventura foi inteligente, porque sou testemunha que ele, já depois de eleito, foi a zonas do país onde não ia um político há muitos anos. Foi apresentar soluções? Não foi, mas foi servir de saco de boxe e oferecer um ombro amigo a esses protestos. Por isso é que não é estúpido pensar que muita gente, em zonas do interior que até toda a vida votou à esquerda, tenha ido parar àquilo. Posso prová-lo, não é de boca. Agora vejo, entre satisfação e alguma resignação, que a academia, em alguns estudos, começa a confirmar isso. O Pedro Magalhães, ainda recentemente, fez uma investigação em que mostra que o tal país rural tem mais propensão para canalizar o seu voto de protesto para este universo. E isso também está relacionado com os desertos informativos, porque em muitos sítios já não há, sequer, um jornal. Em muitos sítios não há, sequer, um jornal independente e as narrativas nacionais são aquelas que a gente sabe. Além de tudo, as pessoas são bastante críticas do jornalismo porque sentem que o sítio onde vivem só interessa se houver uma tragédia ou se houver um crime de faca e alguidar, uma vez que são esquecidas o resto do tempo.
“Hoje, se um conselho de redação dá um parecer sobre uma determinada matéria, esse parecer não é vinculativo.”
RAS – O livro de Didier Eribon, “Regresso a Reims”, é curioso e chega a uma mesma conclusão, pessoas que votavam no Partido Comunista Francês passaram também a votar na extrema-direita.
Sim, é isso. O livro é muito importante, mas estamos a falar de zonas industriais em que as pessoas tinham, permanentemente, o Partido Comunista Francês à porta de casa. O Partido Comunista unia laços, fazia com que a comunidade fosse um todo. Agora que a derrocada se deu, quem lá está é a Frente Nacional. Mas é como aqui. Aqui há outros fatores, a derrocada a leste, sobretudo em zonas do Alentejo, teve muita importância na forma como muitas pessoas que toda a vida votaram à esquerda começaram a ver o cenário político. As pessoas até perderam as suas referências em termos de laços comunitários. Portanto, vem um tipo que transforma em discurso público a narrativa frustrante de café, é a faca na manteiga!
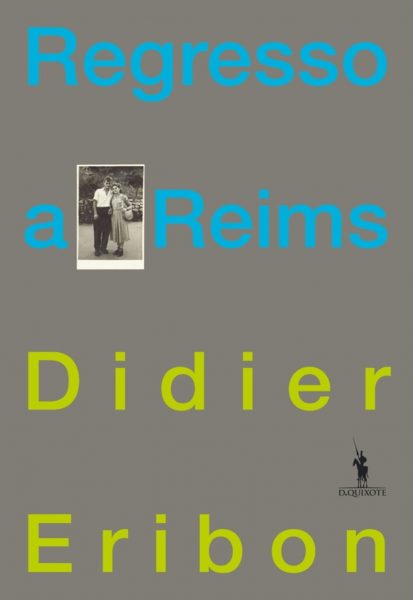
AMF – Tem focado muitas vezes que as zonas mais esquecidas só interessam à grande imprensa nos crimes de faca e alguidar. Mas isso, se calhar, é também porque, quem lá está mais vezes, é justamente a imprensa que se dedica só a essas notícias.
Sem dúvida. A questão é que esse abandono e a falta de preocupação com esses universos territoriais não é de hoje, e não tem só a ver com isso. No meu tempo, no Diário de Notícias, havia um suplemento chamado “Regiões”, que não é comum — agora faz-se uma coisa que é mais comercial do que editorial — mas acho que seria quinzenal ou mensal, já não me lembro ao certo. Uma parte da redação ia para aquela região fazer uma série de reportagens e garanto que aquilo era puramente editorial porque participei em algumas. Havia um interesse constante com realidades que não estavam ao pé de nós e as pessoas sentiam isso, sentiam que a grande imprensa estava atenta aos problemas. Lembro-me, no Diário de Notícias, de darmos grande destaque a fechos de hospitais, a problemas de habitação no interior, às pescas e muito mais. Hoje, foste perdendo isso. A rede de correspondentes do Diário de Notícias nessa altura era brutal. O Público, no início, chegava a ter duas pessoas por região e tinha delegações espalhadas pelo país. Quando o Jornal de Notícias — não quero exagerar, mas isto tem 15 anos, 20 anos, no máximo — andava no país inteiro a fechar delegações, ao mesmo tempo, andava o Correio da Manhã a abri-las. Tinha o JN feito um despedimento coletivo e estava o Correio da Manhã a fazer a festa de inauguração da sua delegação em Coimbra. Alguma coisa aconteceu aqui. Se hoje existe uma televisão sensacionalista que vai em busca dos casos que têm mais impacto pelas piores razões, a verdade é que é a única que lá está muitas vezes. Depois, tínhamos de discutir outras coisas, com que meios é que ela é feita e com que massa salarial. Aí estamos a entrar num mundo já bastante complicado e precário. Gente a fazer reportagens por valores mínimos.
“A verdade não é uma coisa que interesse, particularmente, a André Ventura, portanto, como disse lá no Congresso dos Jornalistas, nós vamos de trotineta e eles vão de Ferrari: daqui a nada não há trotineta, sequer.”
RAS – Hoje em dia há aquela expressão, “ah, se ninguém faz nada, ligo logo para o Correio da Manhã”.
Quando entrei no DN falava-se muito da importância que o JN tinha em termos regionais. O jornal era tão importante — e nós admirávamos isso, mesmo sendo o DN um jornal absolutamente centralista — que se houvesse um incêndio, dizia-se isso muitas vezes, em Figueira de Castelo Rodrigo, as pessoas ligavam primeiro para o JN e só depois para os bombeiros. Isto perdeu-se completamente. Hoje, provavelmente, fazem o mesmo com o Correio da Manhã. O Correio da Manhã ocupou um espaço que estava livre, de desinvestimento dos órgãos de informação considerados mais de referência, digamos assim, mas a verdade é que ao pé da porta, na esquina, são eles que lá estão.

AMF: O JN ainda tem a sua cobertura regional, o problema é que essa cobertura já não é feita por jornalistas mesmo da casa, ou afetos à casa. São jornalistas, em primeiro lugar, de outros órgãos regionais.
Nasci no Porto, sempre trabalhei no Porto — já levo quase 35 anos disto — e fiquei sobressaltado, aí tive a noção de que alguma coisa estava a mudar, quando comecei a notar que o Correio da Manhã estava na mão dos taxistas, era oferecido aos taxistas, e estava na mesa dos cafés, onde antes estava o JN. Alguma coisa estava a mudar. Havia de um lado desinvestimento e do outro, ainda que com situações muito precárias, havia investimento. O Correio da Manhã foi à conquista do território, numa altura em que ele estava a ser abandonado por outros órgãos de informação. Portanto, não se queixem.
AMF: A figura do comentador é cada vez mais proeminente nos canais televisivos. O tempo que se dá ao comentário, em detrimento do tempo que se dá aos jornalistas, não danifica a imagem do jornalismo? Até porque se confunde muito a figura do comentador com a figura do jornalista, embora existam jornalistas que também são comentadores.
Essa é uma das perversidades. Na generalidade, devíamos ser mais prudentes, mais previdentes na forma como passamos essa imagem que dá um bocado a ideia às pessoas lá em casa que podemos ser tudo e mais alguma coisa, e não podemos. Gostava de falar um pouco das fronteiras que defini para que isso não me acontecesse. Acho que irá responder à pergunta, mesmo tendo muitas vezes cometido erros. Sou regularmente convidado para ir à televisão — então, nesta fase, bastante, para falar sobre o Chega — e sempre tive como princípio que não devo comentar. Era muito solicitado quando saía alguma coisa à quinta-feira, na Visão, que tinha algum impacto, para ir à SIC falar sobre isso. Recusei sempre porque considerava que o meu trabalho estava feito e, por conseguinte, o escrutínio tinha de ser feito em relação ao que tinha publicado e não em relação ao que ia comentar por cima do que tinha publicado. Há muito essa tentação. Não sou contra a presença de jornalistas nesse espaço público de comentário, o que acho é que devia haver um pudor imenso na forma como nos apresentamos nesse espaço. Fiz revista de imprensa, na RTP, durante três ou quatro anos, creio que uma ou duas vezes por semana. Mas aí era um comentário de um jornalista sobre a imprensa do dia, apesar de tudo, são coisas diferentes. Não ia fazer comentário político e só aceito ir à televisão quando o meu trabalho possa estar a ser posto em causa, o que nunca aconteceu, ou quando o tema está associado à cobertura jornalística de determinado assunto. Mas também já meti a pata na poça e ficou-me de aviso. Fazia, semanalmente, um programa que era coordenado pelo Carlos Daniel, na RTP3, com o Ricardo Jorge Pinto, do Expresso, e o Manuel Carvalho, do Público. Era um programa de comentário, de análise da semana. O programa era à sexta e tinha saído na Visão, na quinta-feira anterior, uma reportagem minha em Alvaiázere, o concelho que tinha dado a votação mais esmagadora ao Cavaco Silva nas presidenciais. Era uma terra que, além dessa votação, tinha várias cerejas no topo do bolo. Vários ex-ministros dele moravam lá ou tinham alguma ligação à terra, era um local onde estava quase tudo por fazer, apesar de muito investimento, e havia duas agências do BPN, que era uma coisa que nunca tinha encontrado em lado algum. Estava ali, por isso mesmo, um contexto delicioso para uma reportagem. No programa, no dia seguinte, quase a terminar, o Carlos Daniel pergunta-me: “Então, que impressões trouxeste da tua reportagem em Alvaiázere?” Houve, ali, um momento do qual não tive noção em que fui para além da reportagem, ou seja, pus-me a fazer juízos de valor sobre o próprio Cavaco Silva, o próprio cavaquismo. Passado uns dias, recebi um e-mail de um leitor que dizia mais ou menos isto: “Miguel, respeito muito o seu trabalho, que sigo há muitos anos. Sigo o programa do Carlos Daniel, às vezes estou de acordo consigo, às vezes não estou de acordo consigo, mas na última sexta-feira você borrou a pintura toda. Porque você tinha feito uma reportagem que li, impecável, sobre Alvaiázere, e foi para a televisão cavalgar todo o seu ódio de estimação em relação ao Cavaco Silva.” Não era o caso, não tinha, propriamente, ódio de estimação, mas pus o pé para além do chinelo, na verdade. Disse-lhe: “Tem toda a razão!” Isto é a tal fronteira que acho que o jornalismo deve ter. Uma coisa é discutirmos, no espaço público, os critérios que servem de base àquilo que andamos a fazer. Acho, até, para a compreensão das pessoas e para melhorar minimamente a literacia mediática das pessoas, que o devemos fazer. Confundir isso com, “acho isto, acho aquilo”, já me parece uma coisa que vai além disso.
RAS: A precariedade também não potencia o erro do jornalista, após um trabalho de investigação, ir para a televisão comentar?
A televisão sempre exerceu fascínio em jovens estudantes de jornalismo. A gente lembra-se aqui, no Porto, da Escola Superior de Jornalismo que teve um professor jugoslavo com muito mau feitio, e eu cheguei a entrevistá-lo, uma vez, a propósito da guerra da Jugoslávia e ele, antes de concordar em me dar a entrevista, disse-me que não. Respondeu-me: “Primeiro, quero saber o que você sabe sobre a Jugoslávia e, só depois, é que lhe vou dizer se fazemos a entrevista ou não.” Disse-lhe “ok”. Quando lá fui, continuava com o seu mau feitio. Quando lhe dizia, “então, os seus alunos”, ele respondia, “não tenho alunos, tenho cervejeiros. Só querem ir para a televisão andar de avião e tal.” O sonho de muita malta que entrou — não vou agora fazer julgamentos morais sobre isso — nessa altura, para esses cursos, era ser pivô de televisão. Esse fascínio já existia. Admito que passe pela cabeça de alguns, tal como passam outras formas mais rápidas de compor o salário mas, normalmente, os que estão nesse patamar já são pessoas que têm um estatuto considerável e que têm poder negocial que lhes permite dizer: “Vocês querem que eu vá comentar, constantemente, a guerra da Ucrânia. Vamos aqui fazer um contratozinho e vocês pagam-me tanto, cada vez que vou lá comentar”. Simples.
RAS: Achas que a seleção dos comentadores e a representação de diferentes ideias está equilibrada nos canais televisivos?
Não, de todo. Para já, nas últimas eleições, viu-se pelo completo absurdo de se fazerem debates de meia hora, quando se passa hora e meia a partir pedra sobre o debate. É a inversão de tudo, principalmente quando se diz, durante essa hora e meia, que não se debateram todas as questões. Pudera! Essa é outra das perversidades e isso não está, de todo, equilibrado. No país que põe, no lugar de excelência do comentário, figuras como Marques Mendes e Paulo Portas, absolutamente comprometidos com os seus partidos — por muito que de vez em quando se lhes note uma pequena divergência — levar este tipo de gente ao patamar do comentário de excelência é um sinal do fundo em que caímos. Não vais buscar, ou pelo menos não vais buscar tanto como deverias, as pessoas que podem ali estar por direito próprio porque investigaram, porque se formaram naquela área, porque acrescentam uma mais-valia plural àquele assunto. Vais buscar porque é mediático, porque é conhecido e porque tem influência. Chegámos ao patamar que, por si só, já é mau, de escolheres os protagonistas pela sua cor partidária: escolhes quatro e achas que está tudo minimamente representado, o que já de si é uma perversidade, mas não tens uma mais-valia para o debate, porque as pessoas estão ali a defender as suas cores. É a mesma coisa que fazer “Os donos da bola”. Não há, propriamente, debate porque o penálti não é penálti, o fora de jogo não é fora de jogo e, portanto, ninguém vai discutir com independência. Outra coisa são pessoas como Ana Gomes, que quer se goste ou não, conquistou o seu espaço crítico dentro de uma área política. Ninguém pode dizer que Ana Gomes foi alguém que deixou de pensar pela sua própria cabeça consoante as lideranças que o PS foi tendo. Pessoas, no entanto, que queiram pensar pela sua própria cabeça são raras, não há muitas Ana Gomes, goste-se ou não. Estamos, por isso mesmo, a fazer comentário político com figuras que são do mainstream partidário e não estamos a chamar tanto figuras que, pelo seu percurso profissional, pelo seu percurso académico, podem trazer uma mais-valia ao debate e pluralismo sobre os temas.
AMF: Surgiu, recentemente, a notícia de que o António Costa iria comentar no novo canal da Medialivre. Uma cacha de Marques Mendes, precisamente.
Estamos a reproduzir, mais uma vez, essa perversidade. Se há pessoa que devia manter recato, nesta fase, era ele.
RAS: Como é que olhas para o desenvolvimento do jornalismo de investigação em Portugal? Agora, como freelancer, sentes que há investimento?
Do ponto de vista dos leitores, sim, do ponto de vista das chefias também acho que sim. O que há é cada vez menos recursos para pagar isso. Aqui tenho de sair do lado pessoal. Mal ou bem, nesse género de jornalismo consegui um estatuto e ao contrário do que pensava, quando saí da Visão, surgiram convites de vários sítios, alguns bem interessantes. Achei que me ia faltar algum chão e não faltou. Normalmente, quando me convidam para fazer coisas — algumas tenho de recusar porque não tenho tempo — são relativamente bem pagas, mas porque reconhecem, através do que tenho feito desde há alguns anos, o trabalho sério e íntegro. Sofri muito com isso, foi a pulso. Quando, em agosto passado, decidi pôr termo à minha relação de 24 anos com a Visão, houve necessidade, da minha parte, de pôr para trás das costas uma série de confortos — tinha um ordenado e cotidiano bem confortáveis, não pensava duas vezes quando entrava numa livraria e agora penso — mas isso foi em nome daquilo que queria. Tinha de resgatar em mim o que já estava adormecido há muito tempo. Precisava de fazer escolhas mais criteriosas, não me apetecia, de todo, andar uma semana a escrever três páginas sobre Luís Montenegro, não me traziam nenhuma satisfação. Quem diz Luís Montenegro diz outros, digo Luís Montenegro como um exemplo. Mas estava a fazer coisas com as quais já não sentia qualquer estímulo e já não sentia que contribuíssem, o que quer que seja, para o dia a dia. Era muito a espuma dos dias, mesmo sendo uma revista semanal, como a Visão, e mesmo sendo o melhor sítio onde trabalhei, de longe. Deu-me um estatuto de privilégio que, atualmente, não é comum à maioria da classe; a Visão sempre me deixou, de uma forma geral, fazer o que me desse na real gana. Essa justiça também quero que seja feita e, na hora da saída, a Visão, de uma forma muito razoável, reconheceu todo esse contributo que dei à revista, mas já não era estimulante, portanto, a liberdade de escolha agora é minha. Não sei onde é que isso me vai levar, 2024 acabará por correr mais ou menos bem, quanto a 2025 não sei. Nesse sentido é um tiro no escuro, só não é um tiro no escuro porque fiz um determinado caminho.
RAS: Mas ponderas deixar de ser freelancer a partir de dado momento?
Deixar o jornalismo não, de todo! Mas no estado em que as coisas estão, vejo como muito difícil o regresso a uma redação. Aliás, na prática, nos últimos anos, já não estava muito nas redações. Foi uma liberdade que também exigi para mim mesmo porque, às vezes, pedia dois meses para chegar a uma coisa — é óbvio que pelo meio ia fazendo outras — mas na redação não há esse contato, quer dizer, o que a realidade te devolve, hoje em dia, é andando na rua e falando com as pessoas. Hoje, não teria as fontes que tenho no Chega se não tivesse olhado olhos nos olhos para elas, se não lhes tivesse dado tempo para falarem comigo. As pessoas que mais me insultavam, no início, e mais me ameaçavam, são algumas das minhas melhores fontes, hoje. Isso tem a ver com muito contato pessoal. Quanto mais impessoais as coisas forem, piores são.
AMF: Mas os jornalistas freelancers que fazem investigação são mais livres ou são mais permeáveis a pressões sem o apoio de um grande grupo? Ou seja, o grande grupo não poderá dar aqui uma proteção especial, caso algum problema aconteça?
Até isso está acabar. Tenho dois processos ainda relacionados com os meus trabalhos na Visão. Só não vou referir nomes porque, para isso, tinha de perguntar ao meu advogado se posso referir isto numa entrevista, mas um desses processos é de um empresário açoriano que foi cônsul honorário nos Estados Unidos e financiou o Chega. Ele meteu-me vários processos em Portugal, e desistiu de todos — ou foram arquivados. E meteu-nos um processo nos Estados Unidos que, como vocês imaginam, é caríssimo. Esse é o tipo de processo que hoje é muito frequente vermos usado por empresários que querem, rapidamente, levar à falência um órgão de informação porque sabem, precisamente, o que custa a uma empresa defender um jornalista nessas circunstâncias. Não tenho razão de queixa em relação ao que o grupo tem feito para me defender nestes processos, mas sei de muitas situações, noutros lados, em que de uma forma mais ou menos dissimulada, ou de uma forma até bastante aberta, é recomendado aos jornalistas que não se metam por caminhos complicados porque, depois, a empresa não pode assegurar a defesa em tribunal. Portanto, começas a entrar no caminho da autocensura: “Porque é que vou estar dois meses a investigar isto se, depois, levo um processo em tribunal?”. Isto vai acontecer cada vez mais. Hoje, começas a ter advogados, em barda, especialistas em combater isto. Sei que a minha ex-diretora [Mafalda Anjos] falou bastante com organizações desse género nos Estados Unidos — tens organizações e associações de advogados que te defendem pro bono nestes processos. Só para terem uma ideia, a queixa que foi metida nos Estados Unidos, creio que em Los Angeles, só para contestares — quer dizer, aquilo nem sequer devia ter sido aceite pelo tribunal porque está, completamente, fora da jurisdição — mas vamos supor que, sendo aceite, só para contestares a decisão são milhares e milhares de euros e ela ainda nem chegou ao Tribunal e, provavelmente, não vai chegar. Agora tens, do lado de lá, um empresário que diz assim, e disse-o: “Não me interessa. Os meus bolsos não têm fundo. Se não resultar em Los Angeles, vamos para Washington, se não resultar em Washington, vamos para Nova Iorque, portanto, é-me completamente indiferente. Vocês é que vão ter de gastar dinheiro.” Isto também é bullying em relação ao próprio jornalista, é uma forma de intimidação e tentativa de silenciamento como, em parte, a legislação que existe para o direito de resposta também o é. Nos Estados Unidos, a questão do direito de resposta não existe.
RAS: Tendo-te dedicado a investigações de fundo sobre a direita radical populista, como olhas para o resultado das últimas Eleições Legislativas?
Tinha ganho alguns jantares se tivesse feito apostas. Aliás, eu disse-o. Em plena campanha eleitoral, vários órgãos da imprensa Internacional quiseram falar comigo por causa dos meus trabalhos sobre o Chega e o que lhes disse foi: “O que vem aí é um terramoto político.” Além de conhecer muito bem o eleitorado do Chega, porque falo com ele regularmente, inclusive gente que está e que já saiu, porque abarco os dois universos, tenho muita documentação interna do Chega e vou recebendo muita informação de sítios, mais ou menos, privilegiados, e era altamente previsível. Senti isto no terreno (em 2020, 2021, 2022) porque naqueles 18%, acho que 8 ou 9% estaria lá sempre, porque é uma direita que andava por outros sítios, e seria previsível que, havendo um partido com esta força, ali estivesse, porque o Chega preenche a narrativa que lhes interessa e sempre lhes interessou. Mesmo estando, essas pessoas, dispersas por uma extrema-direita mais de franja ou por uma direita mais mainstream, sempre pensaram aquilo, portanto, o Chega não se infiltrou. Quando se diz que o Chega se infiltrou nas Forças de Segurança, não, é exatamente o contrário. O Chega não se infiltrou em lado algum. Já existia aquele pensamento e a narrativa que o Chega vende é a narrativa que interessava a pessoas que já pensavam aquilo. E creio que 8, 9% é o tal eleitorado que encontrou, no Chega, uma forma de protesto por várias coisas. Um erro que, normalmente, se comete tanto a nível político como a nível jornalístico, e aqui confesso que me sinto ainda em minoria, porque mesmo entre os meus camaradas, creio que estou em minoria, acho que chamar àquilo extrema-direita — para além do ponto de vista formal achar que é errado, mas isso é outra discussão — acaba por estigmatizar uma data de gente que nós ainda podemos recuperar para o lado bom da democracia, porque há pessoas que estão lá por diversíssimas razões.
“Conheci-o muito bem [Pedro Passos Coelho], no tempo em que ele era presidente da JSD. Conversámos muitas vezes, conhecia-o muito bem do ponto de vista profissional, falávamos amiúde e o Pedro Passos Coelho dessa época era o dirigente político que queria que a JSD fosse a esquerda do PSD na altura.”
AMF: Achas, então, que pelo facto de, muitas vezes, se dizer que esse eleitorado é fascista e, também, disseminar essa ideia, poderá dar-lhe mais força ainda?
O que é que vimos, até hoje? Um, 12, 50 [referindo-se ao número de deputados que o Chega foi ganhando no parlamento, por ordem]. A psicologia social explica isto muito bem. Há uma psicóloga amiga que me diz isso, tu insultas e, para algumas pessoas, chamar extrema-direita é um insulto. Para a gente que está no Chega isso é um insulto. Estás a evitar que essa pessoa, a dada altura, tenha um sobressalto e faça um percurso rumo a uma outra via.
RAS: Mas vimos, recentemente, com o próprio Pedro Passos Coelho, na apresentação do livro “Identidade e Família”, onde referiu várias vezes “Se disser isto ou aquilo sou logo acusado de ser de extrema-direita”…
Pedro Passos Coelho é o pai de André Ventura. E em relação a Pedro Passos Coelho tenho, aqui, uma grande dificuldade, porque é assim: conheci-o muito bem, no tempo em que ele era presidente da JSD. Conversámos muitas vezes, conhecia-o muito bem do ponto de vista profissional, falávamos amiúde e o Pedro Passos Coelho dessa época era o dirigente político que queria que a JSD fosse a esquerda do PSD na altura. Estamos a falar de um Pedro Passos Coelho, no início dos anos 90, em que a liderança era Cavaco Silva e, em algumas matérias, estava, de facto, muito à esquerda do PSD. Ele era o rosto disso, portanto, ver aquilo em que ele se transformou é uma coisa que é completamente surpreendente para mim. Não sei o que aconteceu ali. Mas falando do jornalismo propriamente dito. Não devemos, além de tudo, deixarmo-nos contaminar com aquilo que é a narrativa da trincheira política. Eu consigo compreender melhor que o confronto político, “ah os fachos, a extrema-direita”, mesmo aí acho que foi, em parte, esse discurso que cavou o resultado que tivemos. O jornalismo não se pode deixar contaminar por isso e, muitas vezes, deixa. Nós não servimos para estigmatizar o eleitorado. Temos de fazer o nosso trabalho de fact checking, de investigar e acho que as investigações ao Chega têm de ser o mais profundas possíveis. Se é um partido que reivindica, para si, uma ética e uma moral sobre a política, então ainda mais tem de ser escrutinado para ver se, no seu interior, existe essa ética e essa moral que eles reivindicam para o exercício político. Agora, não vamos confundir, do ponto de vista informativo — não devemos, porque senão, aí, ainda pior vai ser — o que é a liderança do Chega, o que é, digamos assim, a sua estrutura dirigente, com o seu eleitorado. São coisas muito diferentes e, antes de tudo, o papel da imprensa é perceber porque é que algumas populações foram parar ali. Nós temos a tal parte de culpa nisso, porque não estivemos, ou há muito tempo que não estamos nos sítios onde as pessoas se sentem negligenciadas, abandonadas, e em que foram acumulando frustrações. O jornalismo frágil que estivemos aqui a discutir não tem, hoje em dia, condições para ir em busca dessa realidade ou para a traduzir.
AMF: O jornalismo já cometeu o erro, no início, de ser o mensageiro daquelas frases de choque do André Ventura, porque aí não estava em causa tanto o valor notícia, mas o interesse de André Ventura em chocar e ver essas frases publicadas, comentadas e faladas. Mas um aparte: estamos a assistir a um fenómeno curioso em relação ao Chega porque parece que, independentemente das investigações que se façam, de se descobrirem feitos questionáveis, isso parece já não chocar na opinião pública porque a resposta é, geralmente, esta: “Os outros fazem o mesmo”. Como é que se desmonta isto?
Acho que, inevitavelmente, não é ainda o momento, mas acho que o facto do Chega ter 50 deputados e, alguns deles, de baixíssima qualidade, e o facto de aparecerem mais aos olhos do eleitorado, ao escrutínio do eleitorado, isso vai trazer consequências. É uma afirmação problemática nos tempos que correm mas, se a legislatura, ao contrário do que é previsível, durar os 4 anos, acho que o Chega atingiu o seu teto, mas é uma opinião pessoal. Até porque uma coisa é ter os 12 deputados, outra coisa é ter 50 e sendo, na realidade, um partido sem quadros, faz com que atraia gente que não tem propriamente boas qualificações para o ser, mas isso é outra questão. Agora, isso é verdade, mas estamos a falar de um mundo em que as pessoas não aderem, exatamente, àquilo que faça sobressaltar o seu pensamento ou àquilo que as faça repensar uma série de estereótipos ou de convicções que têm. A linguagem futebolística, os termos do debate futebolístico e do confronto futebolístico tomaram, definitivamente, conta do debate político. Estás numa determinada trincheira: quem apoia a invasão russa da Ucrânia só lê coisas que vão nessa direção, portanto, tudo o resto é externo e vice-versa. Aqueles que no meio ousam dizer não sei, é já um problema, “mas tu não tomas posição?”. Estamos neste patamar, as pessoas estão, cada vez mais, a funcionar como rebanhos. Leem, ouvem e veem aquilo que já vai ao encontro das suas próprias convicções. Mesmo que seja mentira, não interessa, é o debate futebolístico puro e duro: tu és do Sporting, para ti é penálti, para mim já não é. Toda a gente viu que é penálti, mas nós divergimos, e isto está a contaminar todo o debate político. Não sei se isto vai acabar porque temos, hoje, um Presidente norte-americano que vai ser sujeito a um julgamento histórico e a verdade é esta: podes acabar com o Trump, podes impedi-lo de se candidatar a todas as eleições e mais algumas, mas a verdade é que não acabas com o Trump country, ele existe e está lá.
RAS: Também se pode pegar nessa lógica americana e trazê-la para cá, se o André Ventura deixar de ser o líder do Chega?
Acho que se o André Ventura deixasse de ser líder do Chega, não havia Chega. Há uma pessoa que está na calha para o poder fazer mas, obviamente, não teria o mesmo impacto, pelo menos nesta fase, que é a Rita Matias, nem o mesmo arcaboiço. Podes acabar com o Chega, mas não acabas com o país Chega. O país Chega existe, mas não valerá 18%, porque acho que, metade disso, são pessoas que estão lá por outras razões e que, daqui a nada, podem ir para outros territórios. Mas acho que o país Chega vale 7 ou 8%, sem dúvida alguma.
RAS: Como é que se justifica também o que haja um eleitorado jovem no Chega? Terá a ver com a forma como o partido está nas redes sociais ou será mais do que isso? Como o facto de ir às universidades, por exemplo.
Isso é uma coisa posterior porque, antes disto, o Chega inaugurou uma narrativa muito simples, muito eficaz, que qualquer criança compreende. O meu filho ao regressar da escola, em plena campanha eleitoral, já me mostrou coisas muito importantes. A primeira, muito assustado, porque ouviu colegas de turma a falarem sobre deportar os imigrantes. Ele tem 12 anos e a palavra deportar fez-lhe alguma confusão, já vai lendo algumas coisas sobre o nazismo. Umas semanas depois, era um grupo de alunos que tinha sido chamado à direção da escola porque tinha sido acusado por uma colega negra de racismo e xenofobia e, uns dias depois, um colega de turma dele tinha sido expulso da sala de aula porque se tinha virado para uma aluna venezuelana e tinha-lhe dito, “latina de merda, vai embora.” O Chega, portanto, junta uma narrativa simples, eficaz, sobre muitas destas questões da imigração e até dos ciganos. Há algumas coisas divertidas e, um dos vídeos mais vistos do Chega, de poucos segundos, é a Rita Matias e os André Ventura com os óculos escuros. É “divertido”, parece um tipo com quem podes ir beber uma cerveja, ou podes ir para os copos à noite. Isso eles souberam fazer, mas o Chega já era líder nas redes sociais, em 2020. O discurso mais visto do primeiro 25 de Abril, em confinamento, é o do André Ventura, na Assembleia da República. Uns foram ver porque gostaram, outros foram ver porque odiaram.
RAS: Os outros partidos não souberam acompanhar essa forma de estar?
Não souberam, nem sabem. Não sei se tens TikTok, mas se abrires, hoje, uma página no TikTok, as primeiras quatro ou cinco coisas que te aparecem são do Chega e é a primeira vez que estás a entrar. Portanto, eles souberam fazer este terreno, depois, só para terminar, há ainda quem, subtilmente, no ambiente escolar propicie isto. Uma amiga minha que é professora na Escola do Cerco, dizia-me há tempos: “Mas o que é que achas que vai acontecer, quando alguns manuais têm na capa, ou nos seus conteúdos, ainda aquelas imagens do Portugal épico, as caravelas?.” Vai tudo, portanto, ao encontro da narrativa do Chega. Alguns professores não conseguem, por muito que se esforcem, leccionar o 25 de Abril. Passas ao de leve pelo Salgueiro Maia e siga. Mas estás três meses a dar os descobrimentos, ou que chamam de descobrimentos. Quais são as visitas de estudo? Belém, Padrão dos Descobrimentos, Jerónimos, ou seja, tudo ajuda. E aquela linguagem é uma linguagem que toda a gente percebe. Tenho um primo em Viana do Castelo que, em 2020, quando comecei a investigar o Chega — ele está ligado a grupos motards mas é dos bons [risos], dos que só gostam de motas — e perguntei-lhe: “Então, o que é que os teus amigos dizem do Ventura?” Isto em Janeiro de 2020. E respondeu-me: “O que é que dizem? Não leem um jornal, mas já estão a dizer que o gajo está a dizer as verdades e já o querem calar”. Isso eles sabiam porque, isso, eles souberam passar muito bem. Quando comecei a cobrir o Chega, eles davam dez a zero a qualquer partido, com mentiras, com desinformação, com os ciganos são isto ou os imigrantes são aquilo. Trata-se de uma narrativa simples, muito eficaz e, agora, com a Rita Matias ainda mais. A Rita Matias, raramente, recusa um convite de uma escola. Mais, condiciona os debates políticos em que não está. Na última campanha eleitoral, comprometeu-se com vários debates políticos e, à última da hora cancelou, mas a claque estava lá. No dia a seguir às eleições, creio que logo pela manhã, havia um vídeo dela no Instagram e no TikTok, uma coisa que nem tem cinco minutos, e ao fim de umas horas já tinha não sei quantas visualizações. Mais nenhum partido fez isto. Segunda a seguir às eleições, ela diz basicamente isto: “É um vídeo dirigido para os alunos do secundário. Hoje, provavelmente, vais chegar à tua escola e o teu professor vai-te dizer que, ontem, o partido fascista elegeu 48 deputados [ainda eram 48, na altura]. Não acredites nisso. Se fossemos um partido fascista não estávamos autorizados pela constituição.” Toda a gente entende isto. Onde é que estava à esquerda, nessa manhã?
AMF: Mas fazendo um apanhado de tudo aquilo que já falámos, é verdade que, se calhar, partidos como o Chega já não precisam da imprensa em si, de notícias da imprensa, mas precisam de uma certa imprensa que publique notícias de faca e alguidar, ou não? Imprensa que transformou essas notícias em entretenimento, feito por não jornalistas.
As palavras não são minhas. Cito Octávio Ribeiro, antigo diretor do Correio da Manhã e diretor do Correio da Manhã TV, em determinada altura: “André Ventura foi uma criação nossa.” Palavras dele, o resto está mais que escrito.
RAS: Entrou em funções um novo governo. Se Luís Montenegro, ou a ministra da cultura Dalila Rodrigues, lhe telefonasse a perguntar três medidas para a Comunicação Social, a implementar de forma imediata, quais seriam?
Definir, desde logo, um conjunto de apoios estatais efetivos, seja através da criação de uma comissão independente para decidir de que forma é que isso se faria. Essa é a primeira: é o Estado definir, já, os apoios e, consequentemente, canalizá-los para a imprensa para garantir efetivas condições de prestar um bom serviço público, com condições mínimas de integridade para o ofício e para quem nele trabalha, contribuindo para a democracia. O segundo ponto é a preservação dos arquivos, uma espécie de SOS memória. Também falámos nisso no congresso. Há arquivos que já foram perdidos, há coisas importantíssimas para a nossa memória coletiva que foram à vida. Não sei onde é que param alguns arquivos de alguns dos mais importantes jornais deste país. Portanto, corremos o risco de, a cada dia que passa, de perdermos memória, e sabendo nós a importância que essa memória tem, hoje, para combater a desinformação e para combater esse Ferrari das mentiras. O terceiro ponto está intimamente ligado ao primeiro e é mais uma pergunta do que propriamente uma ideia. É assim tão difícil o Governo encontrar forma de dinamizar a sociedade civil em defesa do jornalismo? Porque é que digo isto? Miguel Poiares Maduro, que até é uma pessoa próxima deste Governo, que teve a pasta da comunicação social e a quem reconheço um conhecimento aprofundado nesta área, não conseguiu, há uns anos, convencer, sequer, as maiores fundações privadas deste país a investir no jornalismo. Reuniu à mesa as maiores fundações privadas, ofereceu-lhes um bolo anual do Estado português para que eles entrassem com a sua quota parte para financiar a imprensa e os trabalhos jornalísticos de fundo, portanto, não eram apoios às empresas — aí sabemos que podem ir para outras coisas — eram apoios aos jornalistas e apoio às redações, nos termos que eles, entretanto, definissem: todos recusaram. Bateram-lhe com a porta na cara. Quando ele perguntou porquê, todos disseram: “Pois, é tudo muito bonito mas, depois, esses trabalhos jornalísticos trazem-nos problemas. Acabam por fazer investigações e reportagens que podem colidir com o nosso interesse no mercado.” Portanto, onde é que está o tão elogiado e tão incensado capitalismo português no apoio à democracia? Onde é que ele está? Ninguém questiona isto em outros países. Há fundações e organizações internacionais a financiar órgãos portugueses como o Divergente e o Fumaça. Onde é que está o capitalismo português que passa a vida a encher a boca com a liberdade e com a democracia financeira? Onde é que está? Ainda não vi um apoio efetivo dessa gente. Sendo este um setor, convenhamos, mais próximo, até ideologicamente, deste governo, será assim tão difícil, finalmente, com este governo, mobilizá-los para o jornalismo em defesa da causa pública? Espero para ver.


