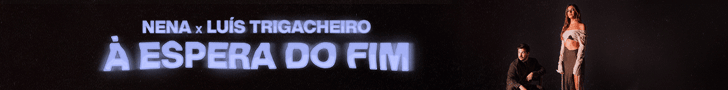Entrevista. Rui Couceiro: “Tentei que ‘Morro da Pena Ventosa’ fosse suficientemente igual ao livro anterior para ser meu, mas suficientemente diferente para não ser o mesmo”

Autor e editor, Rui Couceiro desdobra-se nestas duas facetas. Neste episódio, o autor portuense apresenta-nos o seu segundo romance, “Morro da Pena Ventosa”, que se desenrola precisamente no Porto invicto.
Em entrevista a Magda Cruz, o autor explica que objetivos tem ao escrever, reflete sobre a evolução entre romances e revela que já tem a ideia para um próximo livro.
Há ainda tempo para falar do que abarca a função de editor na Contraponto e do sucesso que tem sido a coleção de biografias da chancela, recentemente com uma nova adição: “Fortuna, Caso, Tempo e Sorte – Biografia de Luís Vaz de Camões” de Isabel Rio Novo.
Magda Cruz: Quando a biografia de Camões, editado pela Contraponto, e o “Morro da Pena Ventosa” estão no top de vendas ao mesmo tempo, quem é que festeja primeiro: o editor ou o autor?
Rui Couceiro: O editor festejou primeiro. Até porque a biografia de Camões estava em primeiro lugar e o meu livro estava apenas no quarto. Portanto, foi muito bom, fiquei muito contente. Mas o editor prevalece – sempre ou quase sempre.
MC: Sempre?
RC: Sim, tirando uns momentos em que o autor está a escrever ou está a apresentar o seu livro. Mas, na maior parte do tempo eu sou editor. Não estou editor. Eu sou editor. Sinto que sou. Claro que, muitas vezes no decorrer do trabalho do editor, aparece lá a espreitar o autor com uma ideia, uma ocorrência. E o que eu faço nessa altura é tomar nota de imediato e não deixar que aquilo contamine o tempo que eu devo dedicar ao meu trabalho. E depois, nos momentos de pausa, normalmente aos fins-de-semana de manhã, eu pego nesse material, nesses apontamentos, e procuro desenvolvê-los, fazer alguma coisa com eles. Aquilo que não posso fazer quando estou a trabalhar como editor.
MC: Trabalhas num ambiente que fervilha imaginação, curiosidade. Como é trabalhar num ambiente assim?
RC: Ser editor é uma coisa muito boa. Porque nos permite conhecer muitas pessoas, quase todas elas muito interessantes, com muito para ensinar. E eu gosto muito de aprender. Esse é o maior privilégio de ser editor: é a possibilidade de, a todo o instante, nos estarmos a aperfeiçoar a partir daquilo que os outros têm para nos oferecer. O facto de a edição ser uma indústria criativa também é uma coisa que me agrada. Mas interessa-me mais esta natureza humana, do contacto com os autores. Eu gosto de pessoas e fico muito facilmente seduzido pela inteligência de outrem, pelas capacidades extraordinárias das outras pessoas. Isso são coisas que mexem comigo. E, portanto, eu procuro trabalhar com os melhores autores não só para oferecer o melhor resultado à empresa que represento, mas também porque tenho um genuíno interesse por conhecer pessoas interessantes e que tenham algo para acrescentar. Se a vida não for uma construção eu não a sei viver. Gosto dela assim: todos os dias a acrescentar mais alguma coisa ao dia anterior, ao que nós ontem fomos e não somos hoje. E portanto, ser editor tem essa clara vantagem: a vantagem de me propiciar isso a cada dia.
MC: É engraçado porque a função de editor pode passar um pouco ao lado ao leitor. Ninguém pensa que o livro passou por outro par de mãos. Nessa perspetiva, como é que se faz um bom livro e o que é um bom livro?
RC: Eu sou um editor na lógica do publisher e não tanto na lógica do editor. Ou seja, o meu trabalho tem muito que ver com uma intervenção muito direta no livro, por um lado, mas também com uma componente estratégica. Portanto, uma grande parte dos livros que nós publicamos na Contraponto são livros que foram idealizados por mim ou por elementos da equipa que dirijo. E foram, digamos, quase integralmente concebidos do ponto de vista do conceito por nós. Depois, o que fazemos é encontrar autores para dar corpo a esse conceito. Portanto, temos uma ligação muito estreita com os livros que publicamos porque, para nós, a edição não pode ser apenas…Ou é menos interessante do que se for apenas a seleção, a escolha, a curadoria.
MC: Esperar que o livro chegue.
RC: Não tenho interesse nenhum nisso, para ser muito franco. Claro que, se eu escolher um livro estrangeiro que se torne num grande sucesso em Portugal é evidente: eu vou ficar satisfeito. Mas não me dá gozo. O que me dá gozo é poder contribuir de uma forma mais criativa, mais ativa. Tenho uma ideia, ora eu acho que se poderia fazer um livro sobre isto; acho que fulano de tal poderia dar corpo a esse projeto; acho que o deveríamos estruturar desta forma; que os capítulos deviam ser feitos deste modo; que o livro deveria ter este tom; que a capa deveria ter estas características…E quando tudo isso se reúne e o livro acontece é um motivo de satisfação, de realização, porque eu gosto de inventar, gosto de criar coisas novas, e este trabalho permite-me fazê-lo a miúde. Eu todos os meses ponho cá fora coisas novas. Isso entusiasma-me muito.
MC: Acabas por captar talentos.
RC: Adoro fazer isso. Porque, como disse há pouco, eu gosto muito de conhecer pessoas que se distinguem nas suas áreas, tenho – quero crer – uma certa sorte por gostar de admirar os outros. Não sei o que é inveja. Nunca tive. Nunca senti. Não consigo compreender.
MC: É admiração?
RC: É a única coisa que me interessa. Eu trabalho com escritores e nunca disse: “Epá, caramba, que porcaria… Este tipo escreve melhor do que eu”. Não. Quando escreve melhor do que eu, eu aceito. No limite, digo: “Deixa-me tentar ser tão bom quanto ele ou melhor do que ele”. Mas tenho de tentar. Não quero que ele não seja bom. Esse tipo de inveja é uma coisa que me faz muita confusão. Eu poderia, no limite, dizer: “Quem me dera escrever como o Saramago ou como o Lobo Antunes”, mas eu sei medir as diferenças. Eu sei que não sou o Saramago nem o Lobo Antunes. Não tenho aquelas características. E ainda bem, já agora. Porque eu também não queria ser. Eu gosto de ser quem eu sou. E quero ser o melhor possível dentro deste embrulho que é o que eu tenho.
MC: E maximizas essa….
RC: Sim, fazer o melhor que sou capaz de fazer. Quero chegar um dia e dizer: “Este livro foi o melhor livro que eu fui capaz de escrever”. Eu sinto que estes livros que eu escrevi até agora não são o melhor que eu sou capaz de escrever.

MC: És capaz de melhor?
RC: Eu tenho a certeza absoluta de que é possível fazer melhor. Porque mal seria se eu aos 40 anos não tivesse margem para evoluir. Eu sei que posso evoluir porque há muito para treinar.
MC: E o “Morro da Pena Ventosa” é melhor do que o anterior, “Baiôa sem data para morrer”?
RC: Em certas coisas, acho que é um livro mais maduro. Noutras, gosto mais do “Baiôa sem data para morrer”. É como a questão dos filhos. Uma pessoa não tem um preferido. Mas, nos filhos isso não acontece. A educação dos filhos pode depender da experiência dos pais, mas no momento em que nascem não sabemos se são melhores ou piores do que o outro. E mesmo o conceito de melhor ou pior num filho é uma coisa muito discutível. Nos livros é um bocado diferente. Nos livros, nós sabemos que, tecnicamente, podemos ter evoluído de um livro para o outro. E, portanto, eu acho que estou mais maduro agora, como autor.
MC: Sentes essa evolução.
RC: É evidente. E quero acreditar que, daqui a dez anos, estarei mais maduro ainda e ainda não cansado o suficiente para fazer pior.
MC: Achas que se fazem livros piores pelo cansaço?
RC: Acredito que um autor, sim, no fim do seu percurso é um autor que está cansado. E se calhar este cansado é um eufemismo. As pessoas têm dito muita coisa sobre o livro póstumo do Gabriel García Márquez, “Vemo-nos em agosto”, que eu li com muito gosto, mesmo. Gostei muito. Acho que é muito melhor do que muita gente já disse. E se calhar vão dizer o mesmo deste livro do Vargas Llosa. Eu acho que nós temos uma tendência muito cruel para menorizar o trabalho dos outros. Aliás, veja-se o que se tem dito de Cristiano Ronaldo, que eu acho que é absolutamente inenarrável.
MC: Só porque lhe correu mal um jogo…
RC: Sim, quer dizer. Ainda noutro dia, num amigável, tinha feito dois golos bestiais. É o mesmo jogador. Abramos um pouco os olhos e percebamos o que é que aquele homem representa. E esta época, mesmo jogando numa liga menor, fartou-se de marcar golos. É o maior goleador do mundo. Portanto, ele de um momento para o outro pode resolver um jogo.
MC: Mas quando não o faz caem-lhe em cima.
RC: Caem-lhe logo em cima. Mas o que eu quero dizer é que há esta tendência para depreciar quem já está a exercer a sua atividade numa idade avançada, o que é apenas estúpido. Não tem sentido. Porque, de facto, nós perdemos, algumas qualidades – e era a isso a que eu me referia – mas isso não deixa de fazer de nós aquilo que nós fomos. Pode deixar de fazer de nós aquilo que já fomos. Mas não nos transforma em indivíduos ou profissionais, escritores, jogadores de futebol, o que quer que seja, menores e que devem ser desprezados. Depois, o que me irrita é a tendência para desprezar. E para dizer: “Epá, já não é o que era!”. Pois com certeza que já não era o que era… Eu aos 80 ou aos 90 anos vou caminhar mais devagar do que agora. É normal. E temos de saber ler o que cada um faz nessas idades à luz desta noção. E se não somos capazes de o fazer alguma coisa, acho eu, está a falhar na nossa construção enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Nós só entendemos o outro se formos capazes de calçar os seus sapatitos, as suas meias, mesmo que sejam umas meias um bocadinho esburacadas. Isto é La Paliciano. Mas é que nós não vamos terminar a vida com os sapatos a brilhar. Quem acha que vai deve estar a dormir. Ainda não percebeu o que é a vida.
MC: Este teu primeiro romance, “Baiôa sem data para morrer”, passa-se no Alentejo e a rosa dos ventos trouxe-te agora para bem mais perto de onde vives. O livro tem o Porto como pano de fundo. Queria te perguntar porquê o Porto, desta vez?
RC: Porque o Porto é um coração que bate em mim. Eu nasci no Porto, depois fui criado em Espinho. E embora eu goste muito de Espinho e tenha lá os meus amigos mais importantes, a cidade em si nunca foi uma cidade especial para mim. Foi especial por esse lado afetivo, mas eu sou um indivíduo muito visual e preciso de paisagem, preciso de contexto. E o contexto da cidade do Porto mexeu sempre muito comigo. Para além disso, a cultura, uma certa hiperidentidade de que o Porto sofre – e eu estou a usar o verbo “sofrer” de propósito – é muito sedutora para mim. Eu acho muita graça à forma como o Porto se comporta. E o Porto aparece não só como cenário, mas também como personagem. É por isso mesmo. Porque eu acho que é uma cidade que tem um comportamento. E esse comportamento vem de há muitos anos. Por alguma razão o Porto é a cidade invicta. E a parte da cidade que é efetivamente invicta é o Porto primitivo, o Porto que está instalado no Morro da Pena Ventosa. E portanto, eu quis que a ação deste livro se passasse ali, no Porto que é mais Porto. Ou que durante mais tempo foi mais Porto e que agora, eventualmente, vê essa sua cultura e essa sua identidade…
MC: Ameaçada.
RC: Sim, um pouco perigada. Porque, enquanto até aqui ou talvez duas décadas aquele era um Porto fechado, e foi esse fechamento que fez daquela parte da cidade uma parte invicta, hoje é um Porto aberto, como é a cidade de Lisboa e muitas outras cidades. Aveiro, por exemplo. Aberta à entrada dos turistas, aberta à entrada de outras pessoas que vêm morar para estas cidades. E eu não acho isso necessariamente mau, atenção. Mas é uma alteração. E era sobre essa alteração – que é uma alteração que se dá muito rapidamente, quando a identidade anterior foi alicerçada em séculos e séculos de história – e era portanto sobre esta diferença de ritmos que eu queria escrever. Portanto, a protagonista é uma guia turística e o facto de eu a ter criado como guia turística permitir-me-ia abordar este assunto.
MC: Porque ela até passa a levar os turistas para mais perto da sua casa, e mais perto dessa zona invicta, para poder ir ter com a avó mais regularmente durante o dia. Ou seja, mesmo a área onde ela trabalha começa a alargar-se e a entrar no Porto.
RC: Isso é bem observado. Porque a dado momento, ela percebe que a única pessoa que tem, que é a avó e que foi avó, mãe, pai, irmão, amigos…foi tudo para ela, iria desaparecer. Nós, a dada altura das nossas vidas, deparamo-nos com a perda. Ela depara-se com a perda iminente de uma pessoa que era tudo para ela e com a necessidade – e isto é um ligeiríssimo spoiler – de ter de deixar a casa onde cresceu, a única que conhecia e a única casa que a própria avó conhecia. E portanto, ela sente nessa altura que a atividade que lhe dá o pão – ela diz isso mesmo – é também aquela que lhe tira a casa, que lhe está a tirar o tapete debaixo dos pés. E isto obviamente, este dilema, leva-a a refletir a propósito desta circunstância. “Que mundo é este que, com a mesma mão que nos alimenta também nos bate?”
MC: Ela oferece copos de vinho do Porto aos turistas que agora estão a ameaçar a própria habitação dela.
RC: Isso mesmo. Eu quis colocar este paradoxo no livro, este dilema, para que o leitor possa refletir acerca deste assunto. Não me interessa produzir reflexão na Literatura. Eu acho que o romance não serve para isso. Não é que eu não tenha lido, e li muitos, romances com pendor filosófico-reflexivo muito vincado e não tenha gostado. Gostei de muitos. Mas eu acredito que não é essa a natureza do romance. A natureza do romance é a natureza das histórias ainda que, e eu defendo isto completamente, o romance seja uma espécie de género total, na medida em que permite tudo. Dentro do romance pode haver uma dimensão mais reflexiva, pode haver uma dimensão poética, pode haver uma dimensão histórica, pode haver até texto jornalístico. Tudo cabe aí. E eu também quis fazer isso com este livro. Porque há segmentos do livro que são do foro do guia turístico, do guia histórico, do guia cultura. Há outros que são pedaços de textos jornalísticos. Há partes que são profundamente lírico-poéticas. Há outras que são diarísticas. Há outras que são apenas narrativas. Tudo isto junto procura demonstrar as possibilidades do romance enquanto género, que é uma coisa que me interessa muito: estudar os limites e as possibilidades deste que é o género mais interessante no meu entender.
MC: Pegando aí no género diarístico, no início do livro, a personagem principal, a Elisabete escreve os seus pensamentos num caderno, numa forma de diário, e vai falando connosco. Queria te perguntar se escrever salva: se a salva a ela e se te salva a ti.
RC: Eu acho que o leitor é que vai ter de tirar as suas ilações. Agora, é evidente que a escrita tem um papel na vida dela. Quem ler este livro vai perceber que a escrita tem um papel na vida dela. E mais do que a escrita eu quis que – e isto remete até um pouco para as epígrafes do livro – a imaginação ou a fantasia fossem alvo de atenção por parte do leitor. Porque eu acredito que elas desempenham um papel efetivo nas nossas vidas. E na vida desta protagonista desempenha-no de uma forma muito visível. E quem ler o livro e chegar ao fim do livro e perceber o desenlace deste romance vai perceber aquilo que estou a dizer. Não quero revelar demasiado, mas acho que a imaginação tem um papel muito importante neste livro. Eu não o digo no sentido em que o autor investiu aqui uma enormíssima carga imaginativa. Não é isso. É a própria personagem principal. É a própria protagonista que faz uso da imaginação durante todo o livro e quem o ler vai perceber isso.
MC: Vê-se por exemplo nos episódios com O-da-Pastinha.
RC: Por exemplo.
MC: Nos teus romances tens uma coisa engraçada que é falar com o leitor. Tens essa vontade de comunicar com quem lê?
RC: No primeiro livro, “Baiôa sem data para morrer”, havia isso de forma mais evidente. O narrador dirigia-se ao leitor. Aqui, a Beta, personagem principal, não se dirige propriamente ao leitor, mas a uma outra personagem misteriosa, que quem ler vai perceber quem é. E a dado momento entende essa parte. Mas eu gosto desta lógica da interpelação direta. É uma coisa que me interessa na Literatura.
MC: E engraçado também é que neste segundo romance tentas uma voz feminina. Como é que foi esse desafio?
RC: Foi isso mesmo. Foi um desafio. Tenho interesse em não fazer mais do mesmo. Eu tentei que este livro fosse suficientemente igual ao anterior para ser meu, mas suficientemente diferente para não ser o mesmo. E, à partida, quis que a personagem principal fosse uma mulher e falar na voz dela e tentar, de alguma forma, sair de uma zona de conforto que seria uma voz masculina, que não só é por natureza a minha, mas também a da personagem principal do livro anterior. Tenho esse interesse de fazer diferente. Não tenho interesse em fazer a mesma coisa. Porque a tendência para fazermos a mesma coisa é muito grande. Nós já dominamos, já conseguimos, portanto é fácil. É como aquela coisa de quando aprendemos uma música no piano ou na guitarra depois tocamos sempre essa, não é? (risos)
MC: Sim, a “Dunas”, dos GNR. (risos)
RC: Exatamente, toda a gente sabe tocar a “Dunas”. Até eu, que sou péssimo em música.
MC: E desta vez tentaste “A Minha Casinha”, dos Xutos.
RC: Tentei fazer uma coisa diferente.
MC: E como é que achas que te saíste?
RC: Eu fiquei satisfeito com o resultado. De outra forma, não o teria publicado. Acho que é um livro diferente daquilo que se tem feito na Literatura Portuguesa contemporânea. E eu queria que fosse diferente.
MC: Em que medida?
RC: Não tentei que ele fosse diferente, mas queria que, a fazer alguma coisa, fosse diferente. Uma das coisas que eu acho que me distinguem de vários autores é o facto de eu ter uma preocupação grande em trazer para o que escrevo temas hipercontemporâneos, como são, por exemplo, o tema da gentrificação ou das alterações climáticas, que está muito presente na segunda parte deste livro. Mas entrecruza-los com os temas clássicos da Literatura, como por exemplo….
MC: O amor, a solidão…
RC: O amor, a perda, a solidão. São os temas de sempre da Literatura, que hão de estar sempre e que têm de estar sempre se nós quisermos continuar a fazer Literatura, porque senão vamos fazer outra coisa. Porque sem estes temas não acredito que seja muito fácil escrever romances.
Ouça a restante entrevista no episódio do “Ponto Final, Parágrafo”: