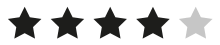“Légua”, de Filipa Reis e João Miller Guerra: a força de um filme sobre gestos delicados

Depois de Djon Africa (2018), a dupla de realizadores Filipa Reis e João Miller Guerra junta à sua filmografia a segunda longa-metragem, Légua. O filme estreou-se na 55.ª Quinzaine des Cinéastes do Festival de Cannes e o elenco conta com Carla Maciel, Fátima Soares, Vitória Nogueira da Silva, Sara Machado, Paulo Calatré, Manuel Mozos.
Em Légua, uma aldeia no Norte de Portugal, situada em Marco de Canaveses, Ana (Carla Maciel) e Emília (Fátima Soares) cuidam de uma grande casa senhorial desabitada pelos seus donos. Após Emília ser diagnosticada com mieloma múltiplo, cabe a Ana cuidar da governanta de setenta anos e manter a grande Casa da Botica em ordem. Mónica (Vitória Nogueira da Silva), filha de Ana e estudante de engenharia no Porto, questiona e contraria as decisões da mãe, deseja-lhe uma vida melhor, junto do seu pai que, por necessidade, teve de emigrar.

A poética das imagens de Légua, frias, ternurentas, sensuais, graníticas e melancólicas, pintam uma história do que “poderá um dia ser” para uns, e do que “simplesmente foi”, para outros. A beleza deste filme encontra-se naquilo que cada espetador projeta de si no filme. Se, por um lado, é possível que muitos se revejam na posição de cuidador, como Ana, outros podem pensar que, eventualmente, poderão ter que assumi-la e existe, ainda, quem se coloque nos sapatos de Emília e pense que pode precisar, um dia, talvez em breve, de cuidados. Acredito que, na maior parte dos casos, e conforme a sequência do filme, cada espetador se coloque em cada uma destes contextos e se veja como filho, sobrinho, pai, tio, avô e neto. Légua é, deste modo, um filme de gestos que percorre, a dedos leves, temáticas de filmes como Amour (2012), de Haneke ou de Away from Her (2006), de Sarah Polley, numa roupagem arthouse portuguesa sem anseio de mostrar o que exige o verdadeiro cuidado e sem mergulhar na angústia ou no drama destes pequenos-grandes momentos.
“Todas as personagens são suficientemente ambíguas para serem reais, autênticos “labirintos de aparentes contradições”, nas palavras do dramaturgo Lajos Egri.”
Os diálogos, que ficaram a cargo dos realizados e de José Filipe Costa, Sara Morais e Letícia Simões, são trabalhados com rigor para cada personagem e a entrega dos atores é familiar a quem conhece o espírito e a autenticidade nortenha. A câmara capta e percorre, a seu tempo, a humanidade dos olhares, o vazio dos locais e a intensidade dos rostos. Se o ambiente é de festa, comoção, dança e música, temos também a reação de Emília que, em repouso, apenas assiste com o brilho do olhar apagado. As pessoas que foram, durante toda a sua vida, movimento, encontram-se agora paradas, fixas num ponto da sala e num momento da vida enquanto veem tudo à sua volta a movimentar-se, é inevitável e cíclico, como trautear um refrão (“peguei, trinquei e meti-te na cesta”).

O ritual da arrumação e das limpezas, em movimentos de Jeanne Dielman, é a pontuação na gramática audiovisual do filme, como se todas as inquietações e eventos da vida ficassem em suspenso durante os arranjos e asseios. As camas são feitas de fresco, os móveis limpos, toalhas de banho e de mesa arrumadas com primor, mas tudo isto são zelos para fantasmas, anfitriões que noutra casa habitam. Com o decorrer do filme e com o passar das estações do ano, Ana recorda-nos, sem palavras, apenas com gestos, que tratar de alguém não é o mesmo que cuidar de um casarão desabitado. Por outro lado, Emília parece acreditar num elo imaginário entre a velha casa e os seus patrões. Essa força quimérica, que amarra, com vigor, alguns dos anciãos em Portugal, surge com vários apelidos, mas é mais conhecido por “respeitinho”. Há um momento em que Ana prepara um lanche a Emília na louça da casa, sofisticada e cara, mas a governanta mostra alguma resistência em aproveitar a refeição, com receio de comer e beber naquele esmalte, como se não fosse digna, “isto é um disparate”, diz Milinha (assim carinhosamente apelidada por Ana), “não devíamos usar estas coisas”.
Légua acentua os contrastes de quem nasce durante o fascismo, no Portugal dos velhos costumes e da subserviência, de quem cresce durante o PREC, o período das nacionalizações, e vive as grandes mudanças sociais e estruturais dos anos 80, e de quem atinge a maturidade numa contemporaneidade e se entrega ao desapego de uma era de identidade fragmentada e à dança solta de uma subjetividade fluída na esperança de que exista rumo certo para o ato de viver. Filipa Reis e João Miller Guerra desenham, assim, o feminino em traços distintos, com contornos elegantes, poéticos e únicos para cada geração. Todas as personagens são suficientemente ambíguas para serem reais, autênticos “labirintos de aparentes contradições”, nas palavras do dramaturgo Lajos Egri. Fátima Soares entrega o coração à sua personagem, é a fragilidade, mas, em simultâneo, a emancipação, o medo e a resiliência. Maciel tanto é fogo como brasa morna, enérgica como uma canção pop de Dina, mas também calma como uma suite de Debussy numa tarde pachorrenta de verão. Já Vitória Nogueira da Silva, atriz principiante que interpreta Mónica, entrega-se com ligeireza ao seu papel, ao adotar a árdua tarefa de interpretar os jeitos, costumes, ambições e inquietações de uma nova geração de jovens adultos. Cada uma destas mulheres está entregue às suas escolhas, mas vão muito além das mesmas, o seu rumo é diferente, porém o mesmo, como todos nós.
Neste filme a sensação de “eterno retorno” é colocada com enorme beleza, sensibilidade e vitalidade. A paisagem da aldeia de Légua nasce, floresce e morre, como as colheitas e as estações, mas também como as pessoas. Nos rasgos labirínticos da condição de efémero, nas entrelinhas da temática da emigração, leia-se na indecisão “clashiniana” entre o ir e ficar, Légua entra em espiral. O tempo e as horas consomem as personagens através de uma trajetória cíclica e perene que as imagens convocam pontualmente, mas cujo enredo e os diálogos sempre recordam. Sem mais rodeios, Légua é uma sonata do anti material que faz pulsar a veia existencialista do cinema português contemporâneo, um filme que ensina, com movimentos alternantes e elípticos, que as coisas são feitas para se usarem e as pessoas para serem estimadas.
O filme foi produzido pela produtora portuguesa Uma Pedra no Sapato, em coprodução com a Laranja Azul, KG Productions (França) e Stayblack Productions (Itália) e estará em exibição nas salas de cinema portuguesas a partir de 29 de junho.