Livro que “matou o colonialismo” do neerlandês Multatuli editado em Portugal

O romance neerlandês “Max Havelaar”, de Multatuli, um clássico sobre a desumanidade da colonização, que inspirou o comércio justo e “matou o colonialismo”, tem mais de 160 anos, mas “perdura e perdurará como inspirador para quem luta pela justiça social”.
Publicado originalmente em 1859, este romance da autoria do neerlandês Eduard Douwes Dekker (1820-1887), que assina com o pseudónimo Multatuli (expressão em latim que significa “Muito sofri”), sobre a colonização, e que foi cunhado como “o livro que matou o colonialismo”, teve apenas uma edição em Portugal, em 1976, pela antiga Civilização, com tradução de Daniel Gonçalves, e é agora reeditado pela Penguin Clássicos, com uma nova tradução, de Patrícia Couto.
“Max Havelaar ou os leilões de café da Companhia Neerlandesa de Comércio” foi escrito no auge da ocupação colonialista da Indonésia (então Índias Orientais Holandesas) pela Holanda, tendo ficado como um livro revolucionário, que provocou importantes reformas sociais na Companhia das Índias Holandesas, e que inspira, ainda hoje, movimentos de comércio justo.
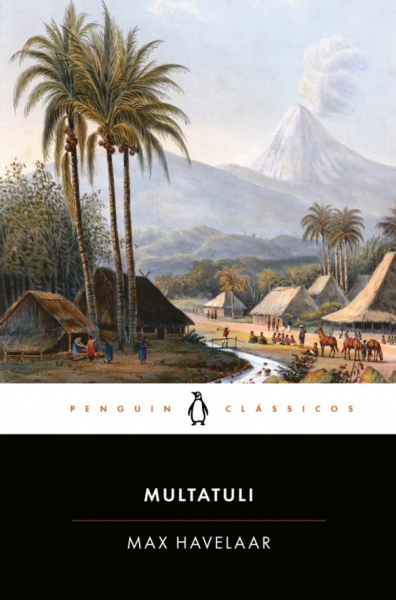
O duplo título – cuja primeira parte se refere ao protagonista e a segunda a uma instituição, a Companhia Neerlandesa de Comércio (sucessora da Companhia Holandesa das Índias Orientais) – sugere uma obra de “grande complexidade e ambiguidade: será que se trata de uma história ficcional ou de uma argumentação comercial e/ou política?”, anota Patrícia Couto, no posfácio da obra.
Para Ana Gomes, antiga embaixadora de Portugal na Indonésia, que escreve a introdução desta nova edição, “Multatuli não escreveu apenas a obra-prima da literatura holandesa. O seu ‘Max Havelaar’ perdura, e perdurará, como inspirador de quem luta pela justiça social, pelo desenvolvimento sustentável, pela proteção ambiental e pelo comércio justo, num mundo hoje inexoravelmente transformado em aldeia global”.
Durante boa parte da sua vida, Eduard Douwes Dekker trabalhou como funcionário da administração colonial neerlandesa, tendo testemunhado em primeira mão a exploração brutal dos nativos pelos colonizadores e o sistema de cultivo forçado imposto pelos holandeses, que obrigava os agricultores a cultivar café, açúcar e outros produtos para exportação, enquanto passavam fome.
Revoltado com as injustiças que presenciava e incapaz de mudar o sistema, Eduard Douwes Dekker renunciou ao cargo e voltou à Europa, não para os Países Baixos, mas para a Bélgica, onde escreveu “Max Havelaar”, com o objetivo de expor os abusos coloniais.
Max Havelaar, inspirado no próprio autor, é um funcionário das Índias Orientais em Java, que testemunha com horror a violência a que a administração colonial submete os povos nativos, e essa crueldade com que agricultores e comerciantes de café são tratados leva Havelaar a lutar contra a corrupção e imoralidade do sistema colonial.
Ao ser nomeado administrador numa aldeia em Java, o idealista Havelaar tenta reformar o sistema colonial, batendo-se contra as injustiças e o sofrimento do povo local, mas enfrentando também a resistência vinda tanto dos nativos poderosos, como dos colonizadores corruptos.
Muito antes da primeira edição portuguesa, Ramalho Ortigão, no seu volume “Hollanda”, de 1885, definiu o livro como “um libelo terrível contra o governo holandês e a política colonial”, numa “crítica das ideias e dos costumes burgueses” da época, contrapondo a clarividência do autor à perceção limitada dos funcionários portugueses de estatuto similar.
Como escreveu Pramoedya Ananta Toer, o escritor indonésio que crismou a obra de Multatuli como “o livro que matou o colonialismo”, “Max Havelaar” expôs “várias faces da desumanidade organizada que o colonialismo legou, deixando fortes perversões nas sociedades dos países e povos colonizados, incluindo a ganância de capatazes autóctones, encarregados de subjugar e explorar compatriotas para servir os interesses dos patrões colonialistas”, destaca Ana Gomes.
A história é contada por diferentes narradores, entre eles um comerciante de café chamado Droogstoppel, que se retrata como um homem religioso e integro, mas que na realidade representa a ganância e a indiferença do comércio europeu em relação aos abusos nas colónias.
Batavus Droogstoppel, personagem que abre o livro, recebe uma caixa com manuscritos de um conhecido seu, Max Havelaar, que conta as suas experiências nas Índias Orientais, lutando contra um sistema político corrompido.
O livro foi também inovador na estrutura narrativa, combinando sarcasmo, ironia e passagens emotivas, misturando vários estilos, como ficção, ensaio, autobiografia, poemas, parábolas, notas, cartas, documentos, citações em várias línguas, a planta de uma casa, discursos, um sermão, uma lista de títulos, o fragmento de uma peça e até uma dedicatória, que formam uma “estrutura híbrida e contraditória, que acaba por formar uma unidade bem construída”, explica a tradutora.
Patrícia Couto alerta os leitores para o facto de ter usado “os termos que refletem o sistema colonial descrito no livro e que não são neutrais, mas retratam a ideologia política e racial do mesmo sistema”.
Ana Gomes destaca, por sua vez, esta “originalidade da narrativa tumultuosa e intrigante, destinada a captar e manter a atenção dos leitores”, que são simultaneamente confrontados “com documentação comprovativa da autenticidade do que denunciava”.
Sendo assim, ainda que estilo e forma não possam ser desligados do imediato e duradouro sucesso da obra, “foi sem dúvida a vigorosa e desassombrada crítica política e social do livro que logo abalou a sociedade holandesa e propulsionou medidas políticas de reforma do sistema”, salienta a antiga diplomata e ex-membro do Parlamento Europeu.
A publicação de “Max Havelaar” caiu, pois, como uma bomba na sociedade neerlandesa, tendo gerado intenso debate sobre a responsabilidade moral dos colonizadores e contribuído para a mudança de políticas coloniais nas décadas seguintes, embora de forma lenta e gradual.
No meio literário é tido como uma das primeiras obras de denúncia social da literatura ocidental, tendo influenciado autores e movimentos anticoloniais.
O escritor inglês D.H.Lawrence, que assinou o prefácio de uma tradução inglesa publicada em 1927, escreveu que “Max Havelaar” fez pelos pobres oprimidos de Java, o mesmo que “A cabana do pai Tomás” (de Harriet Beecher Stowe) fez pelos negros escravizados nos Estados Unidos, levando os governos a tomar medidas.
Ana Gomes escreve que “o poderoso impacto político, social e histórico” do romance “vai além da indignação e das reformas políticas que o livro logo determinou na Holanda do século XIX, desde logo levando ao cancelamento do sistema de ‘cultivo forçado’ imposto aos camponeses indonésios”.
Ana Gomes conta que tomou conhecimento desta obra a partir de um artigo intitulado justamente “O livro que matou o colonialismo”, que leu em Jacarta em 1999, da autoria de Pramoedya Ananta Toer.
A diplomata, que chegara a Jacarta dois meses antes, salienta que o artigo de Pramoedya sobre o romance não tratava apenas da opressão e da espoliação sistematizada que o colonialismo neerlandês impusera ao povo indonésio, mas também das motivações dos europeus para iniciar a era da globalização, destacando o papel precursor de Portugal a estabelecer uma presença estrangeira permanente ao longo do arquipélago indonésio.
A revolução indonésia instigada por este romance não só deu origem a um novo país, mas também desencadeou o apelo à revolução em África, que por sua vez despertou cada vez mais povos colonizados do mundo e assinalou o fim da dominação colonial europeia.
Como concluía Promoedya no seu artigo, citado por Ana Gomes, estando o território e povo da Indonésia na origem e no centro do modelo mais refinado e perverso de “cultivo forçado”, de exploração comercial e de opressão colonial, bem se justificava associar o seu país “ao fim da era colonial, não apenas na sua zona Indo-Pacífico, mas também em África, onde Portugal protagonizara o último império colonial mantido por potências europeias”.
No entanto, Ana Gomes, que chegou a conhecer e encontrar-se com Pramoedya, refere que Portugal não era odiado pelo povo indonésio, apesar da disputa de há mais de duas décadas com o regime de Suharto sobre Timor-Leste, porque “não fora colonizador da Indonésia e isso fazia toda a diferença”.

