O silêncio de Deus
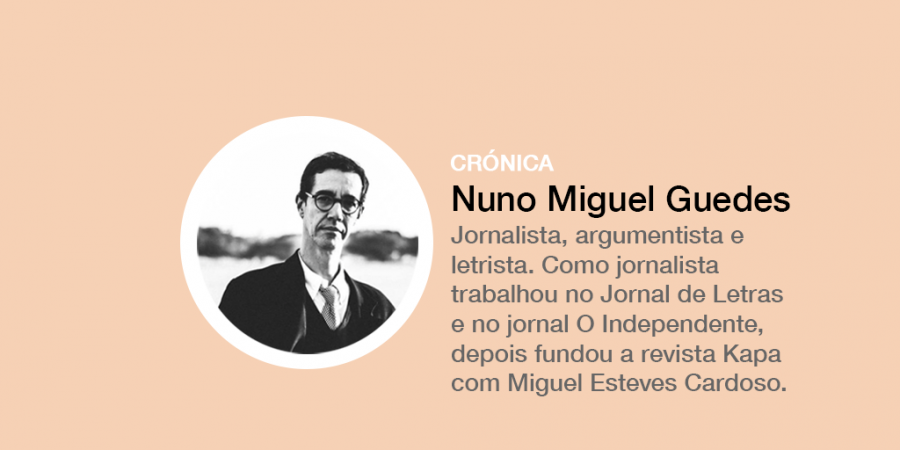
A infância é, para cada um de nós e à medida que a vamos abandonando, um lugar estranho e distante. Por muitos, um lugar desejado, mitológico, idílico, um paraíso perdido de que fomos expulsos sem remédio nem perdão. A tal “land of lost content” de que escreve o poeta AE Housman.
Para outros, em que me incluo, é diferente. Nem paradisíaca nem infernal, apenas uma etapa numa corrida que inevitavelmente irá terminar da pior maneira. Para aqueles que tiveram a sorte de a ter, a infância pode apenas ser – e agora chamo em minha defesa o meu poeta Larkin – um lugar de “forgotten boredom”. As mitificações da infância nunca me interessaram muito porque na verdade a minha utopia foi desde sempre a de ser velho, a de saber mais e poder fazer o que queria à beira da inimputabilidade. Não me levem a mal: adoro crianças e tenho gosto em ouvi-las e vê-las na sua bondade e crueldade em bruto. Mas prefiro ser o que sou agora mesmo.
No entanto, e como aconteceu a muita gente, não sou exactamente quem queria ser. Ou o que queria fazer. O leitor conhece a pergunta porque ainda está a ecoar na sua memória: “O que queres ser quando fores grande?”, perguntaram-nos tantas vezes nessa altura em que mal conseguíamos sustentar a nossa personalidade titubeante. E nós respondíamos, encostados aos nossos ídolos do momento ou às profissões que julgávamos mais aventureiras.
Pela minha parte, a escolha é sortida e foi evoluindo com a idade: piloto de Spitfire pela Royal Air Force em 1940 (sim, eu sei, não digam nada, obrigado), detective privado como o Philip Marlowe, vocalista de banda rock, realizador de cinema, diplomata, jornalista (esta lá consegui), escritor, dandy diletante (esta também, mais ou menos).
Mas reparava que muitos dos meus amigos tinham um fascínio comum: queriam todos ser astronautas. O como e o porquê não interessavam: apenas viajar pelo espaço. Tinha cinco anos quando vi a chegada do homem à Lua e também eu fiquei siderado por aquela extraordinária conquista. Mas não me chegava.
Até que há poucos anos descobri que também gostaria de ser astronauta. Corrijo: um astronauta chamado Michael Collins. Este homem, que morreu a passada semana aos 90 anos, foi para mim um exemplo e motivo de inveja. Integrado na missão Apolo XI – aquela que foi pela primeira vez à Lua – na companhia de “Buzz”Aldrin e Neil Armstrong, Collins foi o homem que ficou no Módulo de Comando orbitando a Lua enquanto os seus companheiros davam os pequenos passos para os homens e imensos para a Humanidade. Um trabalho essencial, rigoroso e discreto. Mas o que para mim é o mais sedutor: de cada vez que o Módulo de Comando orbitava a Lua o astronauta perdia o contacto com o controlo de missão em Houston durante mais de 40 minutos. Por causa disto chamaram-lhe “o homem mais solitário de sempre”, embora Collins não concordasse: ouvia música, bebia café, fazia o que queria durante aqueles minutos de “paz e sossego”, para citá-lo.
Nem terá sido esquecido. A cultura popular encarregou-se disso, às vezes com uma maldade injustificada como foi ter um tema dos Jethro Tull com o seu nome; outras de forma mais digna, como aconteceu na série The Crown.
Mas a questão mais bonita é esta: quantos de nós, quantos de nós experimentaram o silêncio puro, lá onde o som não se pode propagar? Mais: quantos de nós o suportariam, ainda por cima agora, em que o ruído é a divindade que se louva e pratica? O silêncio de Collins é o exemplo maior: um silêncio desejado, aceitado e perfeito para estar em condições de ouvirmos o outro e a nós próprios enquanto pairamos docemente sobre a cacofonia do nosso planeta.
Concordem comigo, amigos: poucos ou nenhum de nós serão astronautas. O silêncio, aquele silêncio, é inalcançável. Um lugar onde não existem respostas porque não existem perguntas. O silêncio de Deus.
Esta crónica foi publicada originalmente no jornal Hoje Macau, tendo sido aqui reproduzida com a devida autorização.

