Paredes Humanas

Casa. As paredes da palavra parecem um amontoado de tijolos açucarados na escrita de Ralph Waldo Emerson. Era encantadora a forma como ele romantizava as casas. “Feliz é a casa que abriga um amigo”. Ou ainda: “O ornamento de uma casa é o amigo que a frequenta”. E embora ambas as minhas naturezas de anfitrião e de refugiado esbocem sorrisos concordantes perante essas frases, não são elas que habitavam o meu pensamento este fim de tarde, quando me deparei, mais uma vez, defronte daquela casa. Deve ser uma das casas mais humildes que já vi – mesmo tendo já viajado por países do terceiro mundo – e no entanto a sua humildade parece coadunar-se com um certo encanto que, de alguma forma, me toca. Mais do que um encanto, uma estranha sensação de familiaridade.
Olho para a sua estrutura clássica, com o seu telhado em V e a chaminé num dos cantos. A porta pintada de azul, um azul desmaiado e ao mesmo tempo vívido, como um olhar nórdico. O arbusto que espreita à janela, as sombras desenhadas pelas árvores de fruto e a forma bucólica como o vegetação a contorna, como uma ilha num oceano de águas verdes. Que belo, que sereno será o barulho trémulo dessas águas nos dias de vento, tal como o silêncio nocturno dos céus estrelados, apenas perfurado por cantigas de grilos e cigarras. E olho as suas cicatrizes, inúmeras, que tantos segredos vincarão consigo.
Cerro o olhar e imagino o seu interior. Aconchegante. Um sofá de couro castanho-escuro desbotado junto à janela, que recebe a luz do sol da manhã. O perfume de café acabado de fazer que se espalha pelas quatro paredes. Prateleiras rústicas e mal pregadas cheias de livros, que vão desde as planícies quentes de Hemingway às tundras geladas de Tolstoi. Um soalho de madeira que range ao ser calcado. Uma secretária cheia de papéis, mapas e artigos de jornal recortados, ligeiramente submersos no metal enferrujado de uma máquina de escrever Remington sem a letra M; uma amarelada edição de The Catcher in the Rye num dos cantos, com um perfeito circulo cor de avelã na capa, tatuado por uma chávena indolente; um amontoado de passaportes encardidos com memórias não declaradas em mil alfândegas; e uma velha Rolleicord V a fazer de pisa-papéis. Na outra parede, uma pequena lareira de tijolo, não muito distante de um modesto balcão de cozinha. E um baú, por baixo de um beliche com mantas quentes de lã.
Saio e bato com a porta, mental, que fica entreaberta. E a imaginação volta a escapulir. Imagino que se o seu dono um dia reconhecesse as minhas (muitas) visitas, tal como o motivo que as move, talvez me convidasse a entrar. Apertar-lhe-ia a mão, mas nunca aceitaria. Há excepções à minha fome por realidade. Esta casa é uma delas.
É algures nesse jejum que me surge a tal oração de Emerson. “Toda a casa é uma citação de todas as florestas, minas e pedreiras”. Só hoje, só nestas tardes, resolvo parafraseá-lo – nada que um convicto transcendentalista não perdoasse – acrescento uma vírgula entre as duas últimas palavras e expando a frase: … e memórias. As vividas e as por viver.
Poderia ser final, o ponto. Podia encerrar aqui, o último parágrafo servia perfeitamente de chave. Mas não me apetece trancar ainda o texto. O sono é um sonho ainda distante. A ebriedade ainda paira no ar, como um espectro tentador. Auto-exorcizar-se-á, algures na noite.
Essa dança entre o olhar e a imaginação conduz-me a um pátio, numa praia vianense, nos últimos dias do ano.
O anúncio prometia uma casa junto à praia. Fiquei algo desiludido quando verifiquei que, embora isso fosse verdade, não tinha o mar à vista. Uma duna enorme, coberta de vegetação, cobria a linha do horizonte. Torci um pouco o nariz. Tinha idealizado passar algumas tardes a ler e a escrever, sentado numa mesa do pátio, com o mar como cenário inspirador. Um desígnio que aparentemente tinham acabado de me amputar. As aparências iludem tanto.
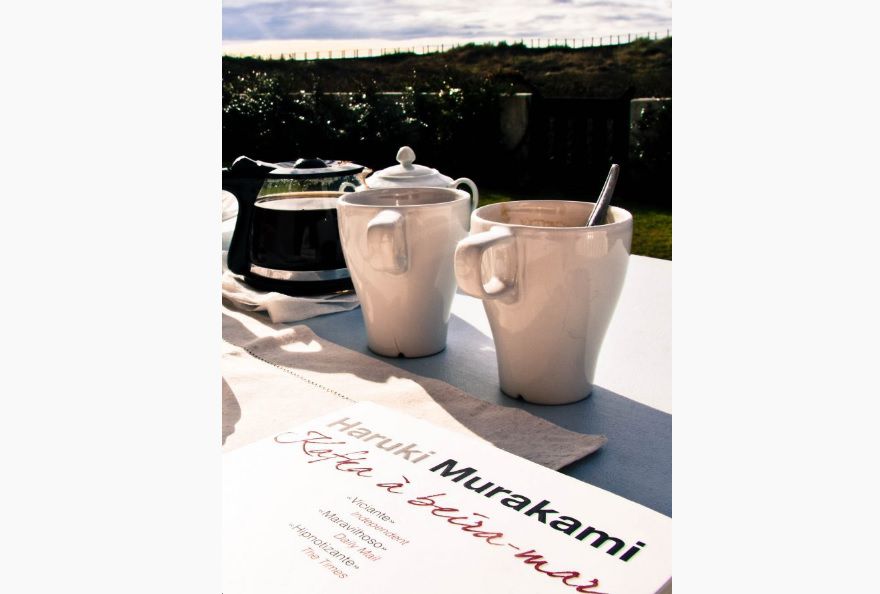
Algures nas primeiras horas, pousei o livro, pleno de contentamento com a fluidez da leitura. Estava a ser embalado pelo barulho do mar. Não o via, mas sabia que estava ali, mesmo ao meu lado. Para além de confortante, era um embalar que estimulava a imaginação. Os pensamentos vagueavam, nadavam por entre um mar invisível aos olhos, mas visível à mente.
“Via-o” diferente todos os dias. Azul-escuro e tempestuoso. Turquesa e tranquilo. Sulcado por cargueiros de ferro ou naus de madeira.
Foram muitos os instantes onde jurei ter sido melhor assim.
Os momentos passados naquele pátio recordaram-me a importância do oculto.
O que não é dito e é transmitido por um sorriso. O que não precisa de ser explícito pois está implícito num gesto. O que não é vislumbrado, mas sentido. O que está coberto e é despido pouco a pouco. O quanto o conhecimento mútuo dispensa mapas ou cábulas. O quanto a nossa visão é uma mera interpretação cerebral de um impulso nervoso transmitido por um nervo óptico.
O quanto pertinente era a convicção de Ralph Waldo Emerson, que defendia que o ideal espiritual transcendia o físico e o empírico e apenas podia ser compreendido pela intuição.
E o quanto existem paredes vãs. Na tua casa ou na minha.
Este texto foi originalmente publicado no Crónicas da Madrugada

