Uma carta de amor ao Doclisboa

Esta é uma carta de amor ao Doclisboa, um festival de cinema que, pela forma como me conquistou ao longo dos anos, se mescla hoje na história da minha vida. Este é o testemunho de uma relação entre uma pessoa e um evento cultural de continuidade, ao longo dos anos; de um diálogo, de um compromisso e de uma confiança em construção.
Lembro-me de em 2012, no início do meu segundo ano da faculdade e um ano após ter-me ambientado à minha nova rotina na margem norte do Tejo, me terem chamado a atenção os cartazes amarelo-vivo que divulgavam o festival nos mupis do metro, das paragens de autocarro e os anúncios nos jornais. Esse impacto visual foi depois reforçado pelo testemunho de colegas que já conheciam e apreciavam a programação do festival. Eu estava longe de ser um cinéfilo, não tinha qualquer histórico de contacto com o cinema documental, mas, depois da consulta do programa, lá me aventurei a ir ver um ou dois pares de sessões.
“A arte traz ao de cima ideias novas dentro de nós, e uma motivação que se manifesta ora como fogo vivo ora como lume brando.”
Não me lembro se foi o primeiro filme que vi no Doclisboa, mas lembro-me que foi o primeiro que me impactou mais a sério: “San Zimei” (“Three Sisters”), do realizador chinês Wang Bing, que, aliás, viria a ganhar o grande prémio da competição internacional no final do festival. O filme retratava, ao longo de duas horas e meia, a vida na China rural, focada na história de uns avós que viviam do trabalho no campo, fazendo os possíveis para proporcionar às três pequenas netas as melhores condições de vida possíveis num contexto de latente miséria. A câmara de Wang Bing passeava-se perto dos corpos que retratava, sem nunca parecer particularmente invasiva; sentia-se a presença do realizador no local, mas as crianças acusavam esse facto de uma maneira natural, resultando numa perturbação mínima ao nível do ambiente cénico. Wang Bing não se escondia (por vezes até respondia a algumas perguntas que lhe eram feitas pelos avós ou pelas crianças); mas também nunca impunha qualquer tipo de discurso. O filme tinha sabor a janela exclusiva sobre uma realidade distante, não narrada, sem preconceitos nem “história”. Saí siderado do grande auditório da Culturgest — sala em que, até à data, nunca tinha entrado.

No ano seguinte inscrevi-me como voluntário no Doclisboa. Foi uma experiência que, na altura, e não tendo sido particularmente marcante, me fez sentir realizado, por poder associar-me de uma forma mais próxima à minha nova crush: o Doclisboa. Não me lembro que filmes terei assistido nesse ano; nem, de resto, nos anos seguintes. A memória humana é imperfeita e não tenho registos que me permitam aferir com certeza em que anos assisti a cada coisa. Sei que entre 2012 e 2018 marquei presença em boa parte das edições do Doclisboa: visitei vidas na Ucrânia, pude entrar dentro da Coreia do Norte, uma visita à realidade rural portuguesa contemporânea, visitei múltiplos Brasis diferentes, voltei à China uma segunda (e uma terceira?) vez. Assisti a vidas difíceis, olhares desafiantes, aproximei-me de dilemas e situações imponderáveis. Fui transportado para as ruas da Síria em pleno cenário de guerra e bombardeamentos: vivi o medo. Outras vezes, encontrei filmes anos depois de eles terem estreado no festival: foi o caso de “Chelas Nha Kau”, por exemplo. O Doclisboa tornou-se uma escola de humanidade, uma espécie de incubadora da sensibilidade que me permitia empatizar com vidas que eu desconhecia e contextos absolutamente diferentes dos meus. “Em Outubro o mundo inteiro cabe em Lisboa”, dizia o slogan do festival, ano após ano. E, pela minha curiosidade e disponibilidade, cabia também um pedacinho dentro de mim.
Também vi uma série de filmes maus, ao longo dos anos. Como escolhia sempre um punhado de documentários para ver em cada edição, expunha-me ao risco de ver qualquer coisa que depois percebia não ser exactamente para mim: ou reflexões poéticas e artísticas que me passavam ao lado; ou ritmos cinematográficos que me deixavam pouco embrenhado; ou um grau de experimentalismo que para mim não resultava harmonioso nem se convertia em inspiração ou reflexão na minha cabeça. Fui-me apercebendo de que uma ida ao Doclisboa tinha também uma certa dimensão de sorte: ora apanhava um filme que reconfigurava a minha compreensão de uma determinada realidade, ora apanhava uma grande seca. Faz parte da experiência da fruição cultural: se alargamos a nossa rede apanhamos de tudo; e entre esse tudo está aquilo de que andamos à procura. Vale a pena arriscar.

Mesmo nos anos em que não pude marcar presença no Doclisboa, por motivos circunstanciais imponderáveis e/ou razões de força maior que grande aflição me causaram, eu fiz à mesma o exercício de passar pela Culturgest para trazer para casa um programa do festival. Acontece quase todos os anos: um ou dois serões em casa exclusivamente dedicados a sublinhar no catálogo as minhas primeiras escolhas, a partir das fotos ou nas sinopses; depois uma ida ao site do festival para espreitar os trailers daqueles que me chamaram mais a atenção, e a conversão da minha primeira lista numa short list. Por fim o desenho da minha agenda: que filmes vou ver em que dias, e em que sala de Lisboa? Normalmente acabo com uns dez nos meus planos, dos quais acabo por ver cinco. Dois ou três anos, acabei por ver zero; mas ainda assim passei pelo processo da listinha, a escolha entusiasmada daquilo que quero ir ver, independentemente de depois poder mesmo ou não. Ter gosto em gastar serões neste radar da curiosidade e do interesse, da intuição que me impele a determinados temas ou expressões visuais.
“O cinema documental interpela-nos a ser pessoas melhores e deve transformar-nos, consequentemente, em pessoas melhores; e um festival de cinema que efectivamente se implique nos problemas do mundo (não se limitando a “dar-lhes palco”) é uma instituição viva.”
A edição de 2021 do Doclisboa não foi excepção. E queria contar-vos em traços largos como a vivi. Alguns filmes vi sozinho; outros, acompanhado. Estive no Afeganistão a conhecer Sara, a primeira taxista mulher naquele país (em “Oh Dear Sara”, de Patricia Franquesa); e viajei para a Eslováquia com uma orquestra de meninas afegãs, as primeiras cuja geração teve a sorte de poder tocar música num país em que, sob o regime dos talibãs, a música não-religiosa voltou agora a ser proibida (em “Orchestra From the Land of Silence”, de Lucia Kašová). Estive em França a conhecer dezenas e dezenas de equipas de futebol criadas pelos emigrantes portugueses ao longo do século XX (em “Famille FC”, de André Valentim de Almeida).
Testemunhei o emocionante e interpelativo manifesto visual de Mark Cousins, seguindo a história da sua vida através dos seus olhos (literalmente): sombras, formas, luz e as imagens que compõem a sua — e a nossa — compreensão do mundo (em “The Story of Looking”). Neste último, chorei. Enxugar as lágrimas no escuro da sala de cinema. A sensação de que a minha vida estava a ser enriquecida por cada um daqueles últimos minutos do filme. Tal como foi enriquecida ao longo da trilogia Narodnaya (de Vadim Kostrov) [ver a minha crítica à trilogia aqui], três noites seguidas na sala 3 do Cinema São Jorge: fui assistir ao primeiro numa segunda-feira à noite; era o único que tinha na agenda, mas tive de voltar nas duas noites seguintes, impactado severamente pelas emoções que aquele documentário musical fez brotar em mim. Senti-me mais vivo em cada uma das noites que saí do São Jorge. A arte traz ao de cima ideias novas dentro de nós, e uma motivação que se manifesta ora como fogo vivo ora como lume brando.
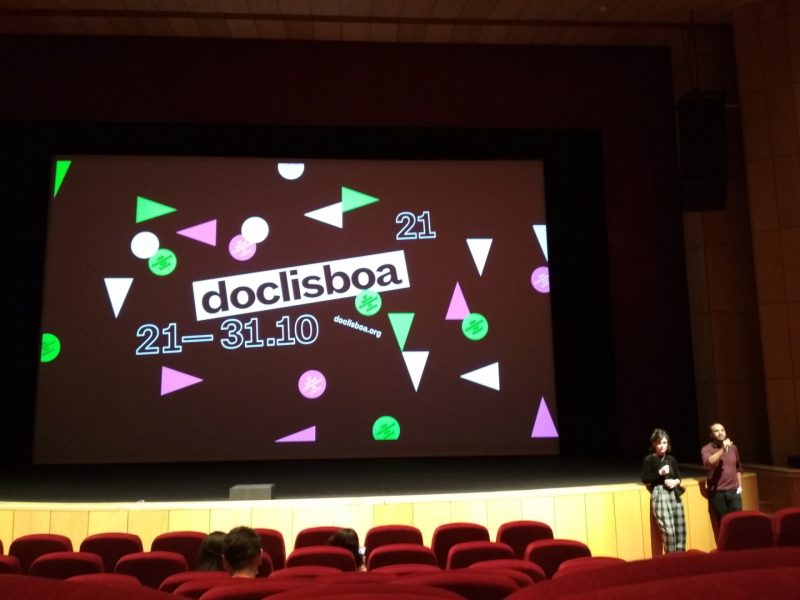
Mas o Doclisboa é também um festival de valores, e é com esta nota que quero terminar esta minha carta de amor, porque também é dos valores que construímos a cultura, e que a abraçamos. A programação do Doclisboa tem um olhar plural sobre a realidade; é diversificada; reflecte uma panóplia de perspectivas e é dotada de uma característica particularmente estimulante: o conjunto dos documentários não se encontram pautados por uma visão ocidentalizada do mundo (devo acrescentar, ao contrário de muitos dos documentários que estamos habituados a assistir na nossa televisão nacional e canais de streaming convencionais). É uma programação com muito espaço, muita respiração, fazendo pontes com contextos que não conhecemos nem temos por assumidos. Devemos isso às direcções do festival ao longo dos anos, aos responsáveis pela programação, a quem quero dirigir um abraço grato. E à direcção deste ano em específico, por uma história que tanto me impactou, que não merece passar despercebida, e que reflecte o valor humano desta grande instituição que é o Docisboa.
No final de uma das sessões de “Oh Dear Sara”, alguém no público pergunta à realizadora do filme como se encontra agora Sara, a taxista afegã que era também activista pelos direitos das mulheres, num contexto de reconquista do poder pelos talibãs e de um regresso da sociedade ao clima de ultra-conservadorismo e de opressão, principalmente exercida sobre a metade feminina da população. “Ela está bem, está a salvo?”. Está, confirma-nos Patricia Franquesa. E foi o Doclisboa que a salvou. Quando em Agosto a realizadora catalã recebeu a notícia de que a sua longa-metragem havia sido seleccionada para o festival português, Patricia contactou a organização do Doclisboa a dar conta da situação de Sara: a taxista encontrava-se severamente ameaçada; havia partilhado com Patricia que se encontrava mesmo em risco de vida. O Doclisboa accionou os seus contactos internacionais e conseguiu, contra todas as probabilidades, garantir um lugar para Sara e para alguns dos seus familiares num dos últimos aviões que deixaram Cabul rumo à Europa. Ao fazê-lo, e embora de maneira absolutamente discreta e sem nunca fazer disso bandeira, o Doclisboa confirmou-se enquanto uma grande instituição: o cinema documental interpela-nos a ser pessoas melhores e deve transformar-nos, consequentemente, em pessoas melhores; e um festival de cinema que efectivamente se implique nos problemas do mundo (não se limitando a “dar-lhes palco”) é uma instituição viva. Em Outubro o mundo inteiro cabe em Lisboa; obrigado, Doclisboa, por permitires que assim seja. E que assim seja por muitos mais anos.

