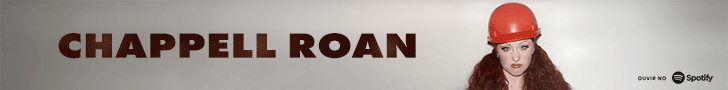A crise nostálgica dos anos 90

Nós, hoje jovens a meio dos nossos vintes, nascidos na primeira metade da década de noventa, pertencemos a uma geração que, embora filha desses idos nineties, os viveu seriamente somente no inicio dos ‘00, como repercussão da surpresa que foi o mundo não ter acabado com o Y2K. Somos também a geração que, findos agora os anos académicos, se vê nas mãos do fado, justapondo a falta de desejo por um trabalho de escritório e a necessidade de dinheiro, a um espirito empreendedor, de ideias criativas e projetos inventivos.
Creio que esta foi uma combinação explosiva para um shift cultural que tem ocorrido nos últimos tempos por todo o mundo ocidental, e, falando particularmente do que vejo, em Lisboa. Como que se uma epidemia de nostalgia tivesse assolado a minha geração de pares – agora longe dos seus anos de brincadeira, integrando uma realidade para a qual nem a escola os preparou -, perante este panorama sofista, os anos 90 surgem hoje como uma escapadela onírica à realidade. Esta geração idiossincrática que, à semelhança de todas as outras, acha ter tido na sua época de lazer infantil os melhores anos da sua vida, celebra assim uma cultura que não conseguiu viver por inteiro, com festas suprassumo, em que o Dragon Ball não é a musica de encerramento da noite, mas sim a de abertura, odes incansáveis ao R&B, que surgem com samples infinitas nos mais variados géneros musicais, reboots de filmes e renovação dos crime shows que dominaram a década, e até à reconsideração da Reebok como uma marca cool. E quiçá ninguém acreditasse nisto caso não tivesse sido o reencontro das Destiny’s Child a atração principal do Coachella, e a Sexy Back e a Revenge of the Nineties as noites mensais mais concorridas da capital portuguesa.
Mas se é isso que nos faz bajular esta década, será que dela trazemos algo mais do que pensamentos bucólicos? Para entender este mecanismo de melancolia, comecemos por pensar na evolução do modo de consumo. Não tendo o Y2K passado de uma histeria comocionada pelo até então leviano conhecimento sobre computadores, os anos que sucederam esta mudança secular introduziram uma reviravolta no mundo tecnológico. A acessibilidade, tornando-se maior, implicou um progressivo e contínuo processo de compreensão, tendo como consequência a integração da Internet no quotidiano. Ora, mudou-se o quotidiano, mudaram-se os costumes. Notícias, entretenimento e comunicação passaram a ter no computador o seu novo porto de abrigo, obrigando os meios que deles antes eram responsáveis a adaptarem-se também.
Algo particularmente fascinante vem do que os nossos avós abordam como “vocês agora passam a vida no computador, já nem se vêem uns aos outros”. As redes sociais são extremamente pragmáticas, claro, seria hipócrita afirmar o contrário, mas será que esta virtualização da nossa forma de estar não contribui também para o tipo de entretenimento preferencialmente consumido? Hoje os reality shows são um dos géneros televisivos mais distribuídos, atraindo milhões de espectadores, maioritariamente entre os millennials, grupo nascido entre 82 e 2004. Seja em parte por empatia com quem é filmado, seja por voyeurismo ou pelo mero prazer em assistir aos maus comportamentos e atitudes extremistas tomadas neste tipo de programas, estes surgem como alternativa à vivência da própria realidade e à experiência humana, que só é tao massivamente explicada pela já referida comodidade que a tecnologia trouxe para o dia-a-dia e a subsequente reformulação dos media.
Pensemos agora como isto apela aos nossos ímpetos mais sensíveis. Poucos me serão os próximos de idade que não chegavam da escola prontos para ir ver a MTV. Este, um canal que para além de musica, exibia algumas das melhores séries juvenis, como Daria e Beavis and Butthead, ambas repletas de comentário social e cultural no seu roteiro, foi um dos pioneiros em render-se à febre dos reality shows. E ainda que esteja provado que muita gente gosta deste novo tipo de entretenimento, não se deixa de ressentir a total restituição do anterior.
Também na música esta facilidade no fluxo de informação exerceu um papel fulcral. Enquanto, até ao início dos 2000, havia uma certa “linearidade” naquilo que se ouvia – certamente não em género, que os anos noventa notabilizaram-se pela diversidade de música popularizada simultaneamente, do grunge dos Nirvana às boybands NSYNC e Backstreet Boys, do pop-rock amargurado da Alanis Morissette ao R&B empowering das TLC –, atualmente as tendências universais são não só muito mais fugazes, como ambíguas e diversificadas. A disponibilização de música online e a pesquisa autónoma permitiu o desenvolvimento de um palato auditivo único a cada um – o que é fenomenal para os artistas e o ouvinte –, contudo faz com que, não conseguindo compartilhar dos mesmos gostos contemporâneos, as pessoas recorram a um passado que sabem compartilhar.
Mas, justificações à parte, haverá mal em recordar só pelo prazer de emular algo que gostaríamos que tivesse durado mais? Certamente não. A transversalidade da cultura popular dos anos 90 significou que “pop” era pop, grunge, stoner e hip-hop, e à conta disso fazemos culto tanto ao Clueless e ao Cruel Intentions – com um dos soundtracks que melhor personifica a dita versatilidade musical da década –, como ao The Big Lebowski e ao Se7en. Deixamos para trás os ruins efeitos de Buffy – que ainda assim será para sempre uma melhor série de vampiros do que qualquer espécime de Twilight –, mas honramos o datado neo noir criminal, renovando as fantásticas Twin Peaks e The X-Files.
Por vezes é perturbante pensar na facilidade com que readaptamos a nossa rotina. Somos a geração que cresceu a rebobinar cassetes do Toy Story e a ligar para casa dos amigos quando voltava da escola, mas que vai agora aprender a fazer sopa em tutoriais do Youtube e não compreende a dificuldade dos pais em mexer no Facebook. Somos a geração que assistiu à popularidade da Gwen Stefani nos No Doubt e a solo. A geração que saltou no tempo. As festas que na nossa adolescência celebravam os anos 80, transformam-se agora em celebrações dos anos 90, e com isso pelo menos sabemos que não estamos a ficar velhos; estamos a ficar ícones.