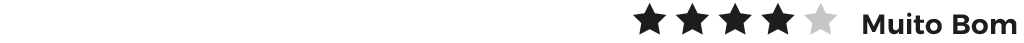A incansável beleza de “Gris”, primeiro jogo da Nomada Studio

O primeiro jogo da Nomada Studio vive em função da sua estética. Gris pretende dar vida à arte de Conrad Roset, e esse objetivo, o ponto fulcral da obra, é cumprido eximiamente. Com algum cinismo podia-se dizer que o jogo não passa disso, que todos os restantes aspetos que compõem um jogo estão secundarizados e que Gris só vive para a sua beleza, mas veja-se a função de uma obra de arte: a expressão. Se Gris, como jogo, é apenas um método de expor os constructos de Roset, está a fazer aquilo a que se propõe e está no seu direito, esperar algo diferente é exigir uma adaptação ao público, e a arte é muito o contrário disso — neste caso, é o fulgor das aguarelas e dos desenhos o elemento em expressão que guia esta jornada catártica.

Tal como sugere o título, o jogo começa sem cor
Gris não é, porém, apenas um conjunto de pinturas digitais, Gris é um videojogo e, como tal, está sujeito à crítica em todos os departamentos técnicos do meio. Comece-se pelo que mais salta a vista, o visual. A arte do jogo espanhol é sublime, cada um dos cenários é imensamente esbelto, desde a paleta de cores apaixonante que se vai acumulando — o jogo começa sem coloração e vai adicionando uma cor principal — até aos traços subtis e geométricos que louvam a forma no seu sentido mais cru e simples, mas ao mesmo tempo intricado, mecanizado e vívido. Entre as linhas retas da composição nos variados cenários e as linhas curvas da interface e da protagonista há um contraste elegante que injeta vivacidade e bonança na aventura. Assinale-se a notória escultura de cada um dos elementos presentes no ecrã, que prosperam num mundo abstrato próprio nascido da criatividade do artista. Estas cenas, que parecem tão naturalmente caídas da conceção de Roset, têm limites incutidos pelas constrições técnicas da programação e do design, contudo, não se veem capadas, longe disso.
Para além do aparato estético, reconheçam-se os efeitos de partículas e as notáveis animações, que, no caso da protagonista, remetem para a animação japonesa facilmente. Não se descure também os detalhes preciosos, como as estrelas no céu que piscam, o pormenor na base do vestido quando se transforma em cubo ou a movimentação do braço da rapariga na mesma ação. Apesar do polimento, os cenários soluçam por vezes no uso de adereços em planos próximos à protagonista (ocorre sobretudo com as pedras na floresta), o que dá a ilusão de estreitamento do caminho e da personagem e ceifa momentaneamente a perceção dimensional. Também a iluminação branca em fundo preto podia estar mais cuidada tendo em conta o motor de jogo Unity; já a amarela é perfeita.
A acompanhar a magnificência estética está o som. A música, composta pela banda também sediada em Barcelona, Berlinist, é meritória, mas destacadamente mansa na primeira metade do jogo, nunca tenta sequer atingir o nível do visual, ficando ofuscada; na segunda metade do jogo, porém, os papéis invertem-se devido a uma maior repetição dos visuais e a mais composições melódicas. A música é capaz de adequar-se ao que vai ocorrendo, mesmo que falhe uma ou duas vezes e que sofra de problemas nas suas transições, onde se presenciam cortes abruptos. A sonoplastia é admirável, bem produzida, de uma sensibilidade e acuidade irrepreensíveis, é ela que pontua o silêncio, utilizado sobremaneira. É aprazível ouvir os sons da água, do pisar das diferentes superfícies (em modo normal ou como cubo), dos pássaros, da vegetação e de tudo mais.
No que concerne à narrativa, Gris opta por uma história despretensiosa, focada no tópico da perda; sem texto algum, prefere explorá-la através do visual, que metaforicamente vai desenredando a história da rapariga e a sua esfera emocional. A mensagem é quase inexistente, há sim uma ilustração, uma expressão absoluta do sentimento através da imagem. Com a vida orgânica do cenário, que vai progressivamente suprimindo a solidão inicial, dá-se uma evolução narrativa, aliás, todo o jogo é um gradual acumular de vida, todos os seus elementos enovelam compassadamente as diversas fases do Modelo de Kübler-Ross. A protagonista perde-se no seu próprio mundo e cabe ao jogador guiá-la até à resignação, à superação pessoal, que se vai espelhando no seu vestido, este, na verdade mais um manto cujo formato faz lembrar umas das influências do jogo, Journey (2012), vai evoluindo com habilidades diferentes, como a de transformar-se num cubo rígido ou a de servir como planador, e elas vão-se amontoando na complexificação da jogabilidade.

A simetria está presente sobretudo nos níveis finais
Assim, quanto à jogabilidade, deve-se notar que Gris é, acima de tudo, um jogo de plataformas. Os puzzles que possui são básicos e servem as plataformas, não se podendo dizer totalmente que este se trate de um jogo desse género também. A movimentação e respetiva fluidez não são perfeitas, nem a distinção entre margens ultrapassadas ou não, parecendo que se está na plataforma quando afinal ainda não se está, culpa também da fraca diferenciação entre salto curto e salto longo, ainda assim, o polimento geral é bastante satisfatório e o ritmo cuidado. Não se despreze, no entanto, uma certa rigidez na execução consecutiva de saltos e impulsos subaquáticos.
A dificuldade aumenta gradualmente num misto de habilidade por parte do jogador e de resolução dos pequenos puzzles, no último nível, onde todas as mecânicas do jogo estão presentes e o quadro de jogo é de maior dimensão, há um incremento da exigência, mas nada que resulte num desfasamento de ritmo ou mesmo numa perda de imersão, o que pode acontecer é alguma confusão ao nível da perceção espacial devido a algumas mecânicas. A jogabilidade é coesa, controlada e límpida, e, embora não comunique muito com a narrativa, à parte as habilidades do vestido, fá-lo com a arte e com os cenários, cujos elementos estão diretamente relacionados com a forma de jogar.

As típicas árvores geométricas estão por todo o lado
O inimigo principal do jogo não apresenta ameaça, já que o jogo não tem estado de falha, e isso compõe outro problema nos momentos mais acesos, sobretudo numa cena de perseguição que pode ser ultrapassada não fazendo nada — havia benefício em utilizar uma punição neste segmento, nem que fosse cair para o início da zona ou prolongar a cena em loop para ser necessário interagir, como na célebre cena do comboio em Uncharted 2: Among Thieves (2009). A experiência de jogo pode não ser mecanicamente revolucionária, mas é variada e refrescante. O design de níveis é, no final de contas, o grande responsável pela sensação de reinvenção do espaço e da fluidez progressiva do cenário. Os designers Óscar Crego e Daniel Cuadrado aproveitaram a arte de forma impressionante, sendo só possível haver queixas no uso demasiado arbitrário de superfícies sem colisão, pelo que há passagens abertas por pura conveniência (sobretudo nos pilares e nas varas dos moinhos). Ainda no design de níveis e na estrutura geral da jogabilidade, há que entender a extraordinária colocação de colecionáveis, que estão escondidos ou inacessíveis à primeira vista e cuja colecionação requer uma dose ideal de astúcia ou uma perícia extra, exigindo um domínio adicional das mecânicas, um pouco no encalço de Guacamelee! (2013).
O jogo da Nomada Studio é, durante toda a sua duração de cerca de cinco horas, uma experiência audiovisual espantosa e recheada de uma beleza incansável. Um design de níveis lustroso, uma narrativa redutora mas bem dinamizada e uma jogabilidade diversa são elementos que fazem brilhar ainda mais a proeza visual do jogo e a sua sonoridade meticulosa. Embora não esteja isento de falhas, Gris é uma obra digna e com personalidade, um poema visual encantador que vai decerto deleitar os que reverenciam o belo.