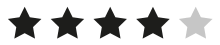“A Noiva”, de Sérgio Tréfaut: a indiferença sai mais barata

Este artigo pode conter spoilers.
Quando um criativo procura financiar um projeto, dirigindo-se a uma empresa e um júri, a pergunta “Qual a tua intenção?” é colocada com bastante frequência.
Dito isto, pergunte-se: Que intenção movia Sérgio Tréfaut, nascido no Brasil, estudado em França e, desde o início dos anos 90, estabelecido em Portugal, a contar a história duma jovem europeia que foge de casa para o Iraque, para casar com um guerrilheiro do Daesh?
Chegar a uma primeira resposta não é um quebra-cabeças. O tema dos direitos humanos não é estranho à filmografia do realizador, formado em Filosofia pela Universidade Sorbonne. O seu filme anterior, aliás, não se debruçando necessariamente sobre a violação de humanidades fundamentais, foi um catalisador de conversas fraturantes sobre um Brasil sequestrado pela incompetência criminosa da gestão da pandemia de Covid-19, por parte do governo de Jair Bolsonaro. Fala-se de “Paraíso” (ler crítica), uma digna amostra duma carreira assente sobretudo no documentário.
Neste, na necessidade de se reconectar com um país com quem não conversava há quarenta anos, Tréfaut limitou-se a ligar uma câmara flutuante, qual mosquito matreiro, para registar as noites calorosas duma comunidade que, junto ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, se juntava para ouvir e cantar samba. Em plena rodagem em inícios de 2020, parte da produção acabaria por ser cancelada. O resultado, felizmente, concentra quase uma hora e meia da mais contagiante alegria.
Saltando para Setembro de 2022, Tréfaut apresenta “A Noiva” no Festival de Veneza, projeto que, por razões não menores, lhe era muito sério. Este começa por contextualizar um Iraque três anos após a queda do Estado Islâmico. Jihadistas de variadas origens continuam a ser perseguidos e executados, enquanto, nos silenciosos entretantos, milhares de viúvas e órfãos residem aprisionados, aguardando julgamento e sem direito a defesa legal.
Uma delas é Bárbara, de vinte anos, nascida em Portugal, criada em França, casada com um francês, mãe de duas crianças e doutra por nascer.
Inicialmente, “como todos os ocidentais”, o realizador surpreendeu-se, ao longo da década passada, com a adesão de jovens europeus de diversos contextos a esta “estranha forma de idealismo assassino”. Como resposta, conta que começou a estudar o fenómeno e a escrever uma história inspirada em relatos dalgumas experiências de combatentes, em particular o mediático caso do português Fábio Poças.
Assim que as forças armadas curdas e o exército iraquiano desocuparam a cidade de Mossul do movimento de Abu Bakr al-Baghdadi, a atenção de Tréfaut desviou-se, então, para as mulheres e crianças deixadas ao abandono, encurraladas entre a impiedade dos tribunais iraquianos e o desprezo do continente europeu.

Relembrando a veia documental dum “cinema-verdade”, é com enorme gosto que se nota a presença dum filme como “A Noiva” no cinema português. Depois de representar a conturbada receção de imigrantes em Lisboa, em “Viagem a Portugal” (2011), e a miséria dos camponeses alentejanos dos anos 50, em “Raiva” (2018), as primeiras aventuras em ficção, Tréfaut concilia perfeitamente uma história conveniente a contextos internacionais com o dilema íntimo e reprimido duma personagem dividida entre dois credos, dois mundos, dois afetos. O filme tem grandes ambições, mas talvez não aquelas que a leitura duma sinopse sugira.
Em sequência do que sofreu o respetivo país no início do milénio, e tentando limpar as mãos da indevida xenofobia que provocou, Hollywood propôs-se, a partir de determinada altura, a procurar respostas, a decifrar o outro lado da moeda. Na insuficiência de razões políticas, económicas ou psicológicas, o mais certo é permanecer, até hoje, o mistério do que motiva um jovem ocidental a render-se a uma ideologia genocida.
“A Noiva” tem uma abordagem mais simples. E mais impactante. É uma obra crua, dura, desagradável, com pouquíssimos ou nenhuns momentos de alívio, despreocupada em oferecer o conforto duma explicação. Desde a abertura que nos é encostado um cutelo ao pescoço. É muito fácil, por momentos, perder a noção de estarmos no sossego duma sala escura, diante da mera projeção de imagens. Feito este comentário, pouco mais precisa de ser dito.
Na cadeira de diretor de fotografia, João Ribeiro demonstra ser, mais uma vez, um dos melhores profissionais em atividade em Portugal, ao filmar tanto a vasta quietude do deserto como as paredes rugosas duma sala de interrogatório. Também é uma peça-chave a mistura de som de Marcelo Lessa, que capta o vento inóspito dos campos prisionais, o choro repetitivo de bebés, pré-adolescentes que vagueiam no tédio duma vida encarcerada, filas intermináveis para um pedaço de carne ou uma tigela de sopa, e a aspereza das carrinhas militares que percorrem noites geladas.
Concluindo as apreciações, o mais barulhento aplauso deve ser dado — e de pé — a Joana Bernardo, atriz recém-licenciada e a selecionada final dum processo de casting com 150 candidatas.

É certo que o anonimato beneficia uma interpretação, sobretudo numa curta geografia como a portuguesa, longe de desfrutar da publicidade que vêm trazer as estrelas americanas a qualquer projeto que integrem. Por outro lado, a personagem para quem Sérgio Tréfaut procurava um rosto e um corpo requeria muito mais que aquilo que fora escrito no papel.
O filme é, maioritariamente, falado em árabe e francês, idiomas que a atriz não dominava e lhe exigiram semanas de aulas. A personagem reserva o português às orações a Alá, em segmentos de voz off duma incrível serenidade. Ademais, a atriz nunca dispõe do corpo, visto estar ininterruptamente vestida de burca. Nalgumas cenas, aliás, são-lhe permitidas apenas as esbugalhadas e certeiras expressões oculares, focos duma face domada pelo véu.

O trabalho de Joana Bernardo é duma honestidade rara, sem sede por prantos, episódios isolados de revolta ou monólogos. Com uma vida desarmónica com as promessas que lhe fizeram os fundamentos bélicos, sobra uma injustiça calada, quase domesticada, uma resignação misteriosa, partilhada com as viúvas com quem divide a tenda e o arame farpado.
Sublinhe-se que, apesar de tudo, nem o realizador nem a atriz parecem inclinados a vitimizar a personagem. Pena é não ficar esclarecido, exatamente, o quão grande foi a participação desta na luta terrorista do marido — essa e outras faltas de backstory mereciam mais tempo. Mesmo com esta ambiguidade subdesenvolvida, é cumprido o retrato duma jovem simples, com saudades de casa, amor pelos filhos, convicções e um sorriso carinhoso que se lhe vai escapando.
Bárbara pode ser uma personagem fictícia, mas as mulheres que lhe serviram de molde não são. Existiram e continuarão a existir, revestidas de preto e silenciadas por ideologias e regimes sem respeito por direitos básicos. Por mais genuíno que seja um cinema como o de Sérgio Tréfaut, parece difícil motivar o Ocidente, provido de ferramentas diplomáticas, a gerar um volte-face. A indiferença sai mais barata.