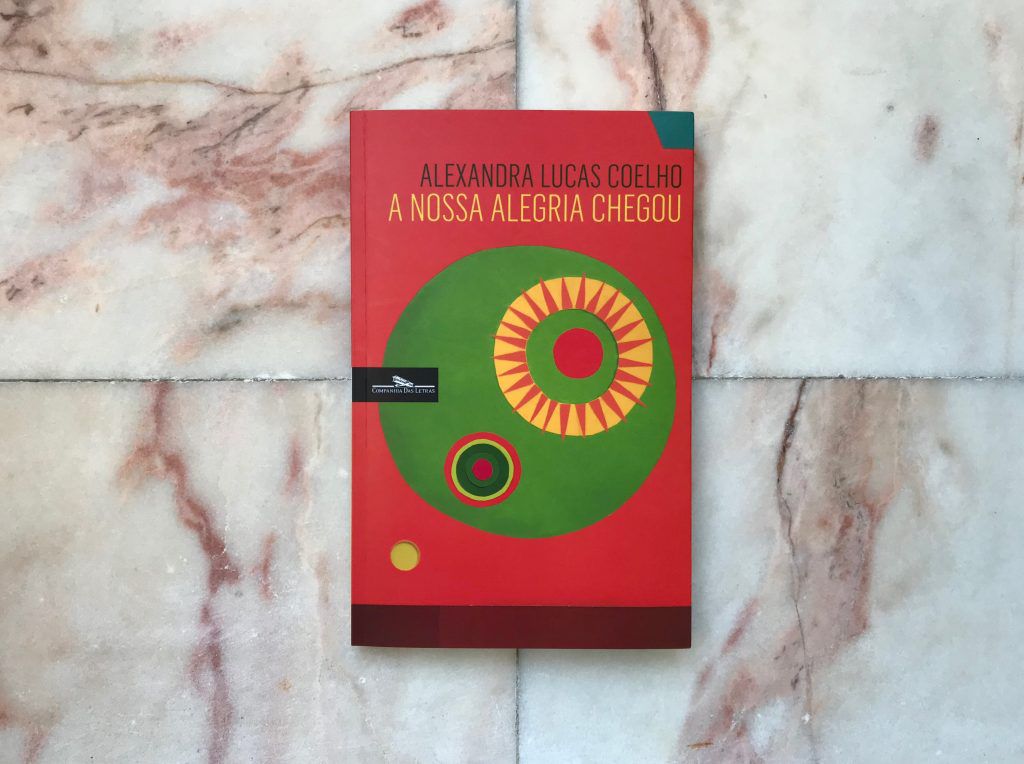A superficialidade de ‘A Nossa Alegria Chegou’, de Alexandra Lucas Coelho
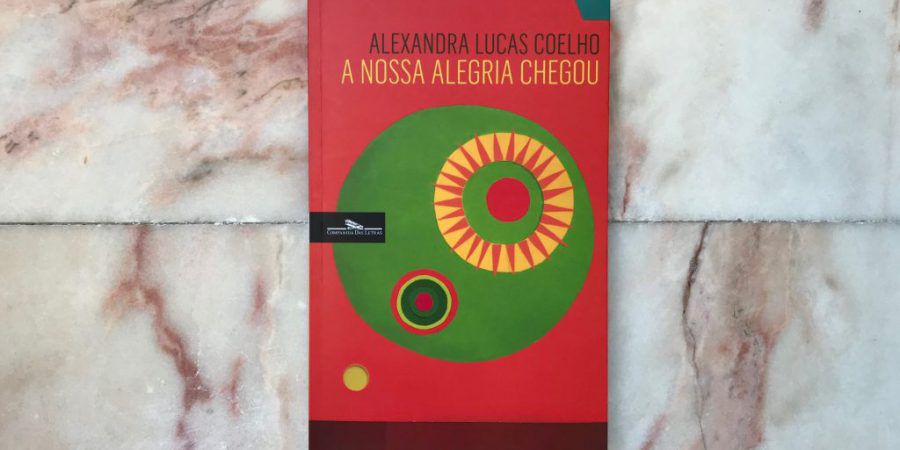
Depois de um livro de grande foco local, como foi Deus-Dará, percorrendo quinhentos anos da história do Rio de Janeiro, o primeiro original de Alexandra Lucas Coelho na Companhia das Letras, A Nossa Alegria Chegou, faz-se num local imaginário, Alendabar, local paradisíaco com laivos do Brasil tropical em si.
Sobre a opressão de um autoproclamado Rei que se parece mais com um latifundiário que com um aristocrata, o povo de Alendabar é visto como pouco mais do que um objecto servente. Não é de estranhar, portanto, que de entre esses nativos de Alendabar, três deles – Ira, Ossi e Aurora – tomem nas suas mãos o destino da sua terra, congeminando e levando a cabo um plano com o intuito de destronar o dito Rei. O problema é que, ao longo do livro, praticamente nunca é clara essa dita opressão. O livro começa precisamente com momentos de êxtase e prazer destas três personagens, e o tal Rei nunca deixa de ser um personagem fantasma, um mero símbolo ditatorial comum. Isto porque nunca é verdadeiramente criada a história deste lugar específico. São nos dadas várias fábulas, sim, mas são sempre meros fragmentos de algo que parece incompleto, superficial. Na tentativa de universalizar o problema demonstrado, Alexandra Lucas Coelho acaba, portanto, por lhe retirar particularidade e detalhe, numa não-verosimilhança que acaba por nos aproximar mais de uma situação fantasiosa que de uma que possamos transpor para a nossa realidade.

Alexandra Lucas Coelho / Fotografia de David Clifford
O mais grave é que a autora sabe o quanto a especificidade e o detalhe são importantes para gerar empatia, sabe que a construção histórica de um regime opressor é algo extremamente complexo (o foco de Deus-Dará é prova disso) e, no entanto, serve-nos na mesma esta história insípida, mera fábula revolucionário com laivos da realidade, sem muito que a faça transparecer séria e motivada. É claro que é possível contar uma estória sem ligar à história que está por detrás daquilo que se conta, nem sempre tudo tem de ser motivado com o que chega do passado e com as histórias das famílias dos protagonistas. Pode perfeitamente contar-se uma história criando essas narrativas, acontecimentos que marcaram a vida daquelas pessoas individuais e daquelas comunidades inventadas. Mas o problema passa por nunca ser mais que dar uma ideia de uma revolução com pouco mais que uma mão-cheia de banalidades ditatoriais, um pot-pourri de violência e de autoritarismo que ignora toda a complexidade de momentos como estes, que os faz parecer pouco mais do que um tipo malvado que oprime a população daquele espaço, que lhe obedece porque sim.
Além disso, a facilidade com que a autora muda de cena – o foco muda constantemente de uma personagem para outra, em textos que normalmente não perfazem sequer uma página – acaba por cortar o espaço narrativo necessário para que haja interesse para com as diversas personagens. Saltando de cena em cena a esta velocidade perde-se o fio e perde-se o espaço para que a cena cresça, e, se esses constantes saltos são capazes de dar rapidez e dinamismo à narrativa, impedem-na de se alicerçar em reais emoções.
Sem esse alicerce, o que fica é pouco mais que essa ideia de superficialidade, um mero aflorar dos problemas da opressão e um mero aflorar dos procedimentos revolucionários. Aliás, o próprio planeamento desse acto de deposição do rei parece, também ele, francamente simples e óbvio, mesmo que contrariedades se passem. No fundo, a parte mais interessante do livro acaba por ser a história paralela de Úrsula e Félix, mãe e filho, que viajam até Alendabar em jeito de homenagem ao marido e pai morto (foi o local onde Úrsula o conheceu), numa viagem individual que ignora as contrariedades da população, daquela terra, quase como se o local paradisíaco fosse um mero fundo para as memórias do passado e as viagens espirituais do presente. Para Úrsula e Félix, as lutas e a opressão daquela população são meros acessórios, não pensam que o local paradisíaco possa esconder um sem número de atrocidades, parte de uma vulgar mentalidade, especialmente ocidental, de viajante preocupado apenas com a sua própria experiência e desenvolvimento.
Mas, mais uma vez, o problema é precisamente que também a autora toma com superficialidade as agruras da população, que nunca são capazes de se distanciar das dos três personagens principais, que parecem não ter nada mais que motivações meramente individuais para prosseguirem com o seu plano revolucionário. Ira, Ossi e Aurora sofrem com a vida que levam, estão cientes da relação do Rei com essas contrariedades, mas, infelizmente, a opressão é coisa bem mais complicada que isto.![]()