A vastidão estonteante do mundo espiritual
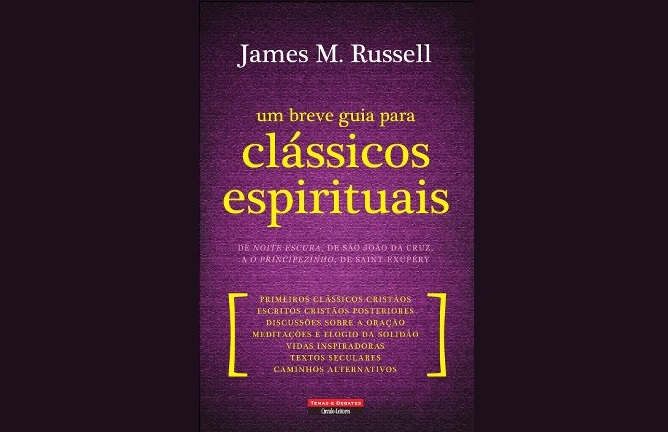
O plano que orienta a construção deste livro é, ao mesmo tempo, ambicioso e intimidante. Estender o arco temporal e o conteúdo das rubricas de forma a ir de Santo Agostinho a J. D. Salinger significa que, ao eclectismo, se alia o arrojo. Porque aquele percurso nas eras e nas fronteiras inclui, pelo caminho, nomes como os de Eckhart, São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus, mas também Dostoievski, Hermann Hesse e Soljenítsine, como Thoreau, Kierkegaard, e Simone Weil, ou ainda Rumi e Blake. Ou seja, teólogos (e poetas de inspiração religiosa) surgem lado a lado com romancistas, pensadores (laicos e religiosos) e poetas (de grandeza universal e singular). A questão, perante este panorama (e, correndo todos os riscos de ser fastidioso, pode acrescentar-se que ele é ainda mais vasto e díspar do que o indica a amostra em anexo), está em ajuizar acerca da sustentabilidade e conveniência de um ajuntamento de tal forma heteróclito. Aí radica o aspecto amedrontador da empreitada a que se lançou James M. Russell. Viajar da «ortodoxia» católica de São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus à «heresia» de Eckhart; destas para as filosofias orientais e outras, com estâncias em filósofos, romancistas, poetas – alguns dos quais são, a propósito, dos maiores génios que a poesia universal já produziu, como Blake –, é um exercício estonteante. Ainda que, com alguma frequência, compensatório. Por outro lado, tendo em conta a desarmante abordagem generalista do autor, no momento de estabelecer o seu escopo – «uma breve introdução a alguns dos clássicos da espiritualidade do mundo» (p.9) –, a vastidão de horizontes do livro adequa-se plenamente aos seus propósitos. Sobretudo, quando se leva em linha de conta que estes são expostos com uma fleuma e uma secura que seria tentador, mas talvez, também, reducionista, equiparar aos registos típicos do humor britânico – «Incluída no final de cada entrada [do livro] está uma brevíssima síntese, que tem como objectivo proporcionar uma rápida ideia do que é ler esse autor. Também proporciona um sumário altamente condensado, e ocasionalmente algo frívolo, dos pontos principais do livro em questão.» (p.11).
Apesar do modo abrangente – ou precisamente por causa dele –, cumpriria talvez perguntar que espiritualidade se pretende abarcar, e que diferenças há entre entendimentos distintos do espírito, em quadrantes tão vários, e em épocas tão distantes entre si. Faltaria equilibrar o todo, tão díspar, de um modo mais crítico, que contrabalançasse as possibilidades em causa. Ou talvez prescindir de tanta variedade em prol de aproximações mais instigantes e concentradas. Ainda assim, muitas das presenças são estimulantes, e bem-vindas, em grande número de casos. Alguns dos grandes vultos tratados são representados por flagrantes retirados das suas obras com precisão e engenho. É o caso de citar Santo Agostinho com «Si fallor, sum “Se me engano, existo”». A apreciação de Eckhart deve referir-se como um bom exemplo de um resumo acertado que, embora sem voos notáveis, cumpre o seu desiderato de forma digna – «Pelos padrões do seu tempo, algumas ideias de Eckhart eram verdadeiramente revolucionárias. Falava sobre como a alma do mortal tinha a capacidade de se tornar una com Deus, e aconselhava os fiéis à introspecção para encontrarem Deus. Falava da alma humana como algo superior aos anjos. Falava sobre o esvaziamento passivo do ser para deixar Deus fluir através de nós – e falava de se ir “além de Deus” para um deserto tranquilo, o lugar onde todas as coisas foram criadas.» (p.43) Uma das rubricas mais equilibradas e interessantes é a que dá notícia de Carl Jung, da sua obra multifacetada e da amplidão dos seus interesses, como ser humano e como pensador e cientista.
Como talvez seja de prever (embora não deixe de ser um contra), quando o autor aborda obras literárias, e respectivos autores, os seus juízos tendem a ser minimalistas, quando não primários. Dizer, por exemplo, que Guerra e Paz e Anna Karénina são «ambos, cada uma à sua maneira, clássicos» (p.161) é, talvez, pior do que deixar passar em branco qualquer dos livros. Da mesma forma que afirmar, relativamente a Blake, «há também grande beleza na sua poesia» (p.188) é, porventura, ainda pior do que ignorar em bloco toda a sua obra. Por outro lado, descrever Dostoiévski como «cristão místico e nacionalista» (p.191) parece redutor e limitativo, num autor cuja relação com a fé e o credo foi, no mínimo, debatida e angustiada; e apresentar Henry James como «um conhecido romancista» (p.196) surge como um rude eufemismo.
Num livro em que a revisão foi atenta – de notar a correcta utilização da forma «quacre» (p.199), em vez do quase sempre aplicado quaker –, e em que se segue a boa prática de indicarem edições portuguesas (e brasileiras) das obras mencionadas, estranha-se que não se tenha referido que existe a (magnífica) tradução de Jorge Vaz de Carvalho (Assírio & Alvim, 2009). Como também se lamentam alguns erros de tradução, não detectados pela revisão: «Primeira Carta aos Tessalonicenses» (5,17), (p.65); «carta de São Paulo aos colossenses» (p.103) – tratando-se de sinónimos, é idiomático, em português, optar pela palavra «epístola». O mesmo se diga da tradução à letra «devemos amar o nosso vizinho» (p.124), em que «neighbour» significa, obviamente, «próximo»: «amar o próximo»; e, em vez de «cópias do livro» (p.31), deveria surgir: «exemplares do livro».
Casos há, porém, que escapam ao trabalho mesmo do revisor mais probo, porque são assacáveis ao autor do original. Falar, peremptoriamente, de «filósofos racionalistas do Renascimento, como Descartes» (p.29) é, no mínimo, deslize de cronologia, uma vez que René Descartes transcende a barreira psicológica (e, conceda-se, artificial) do Renascimento. O mesmo se diga de uma definição como: «neoplatónico – pensamento da Igreja que tentava interpretar os ensinamentos de Cristo à luz da filosofia grega, em especial de Platão» (p.41), que alia o tom apressado da formulação a um erro de palmatória. Plotino, o iniciador do que se convencionou chamar «neoplatonismo», não era, obviamente, cristão, quanto mais alguém que coubesse numa palavra como «Igreja»… Que o cristianismo tivesse «assimilado» o pensamento neoplatónico é algo que se aproxima do que o autor afirma, mas que é, ainda assim, muito diferente.![]()
