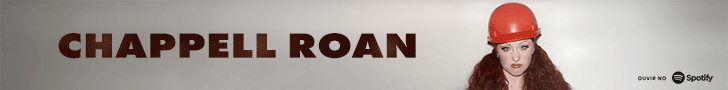Arte quis ser Vida Nova

“A arte serve a vida e a vida serve a arte”, disse-nos Manel Cruz há dias, no seu estúdio no coração do Porto. A conversa andou à volta da criação, da música do passado e de como ela sulcou o caminho para uma nova fase na vida e na obra do músico, materializada em Vida Nova — álbum e livro prometidos para 2018, mas apenas dados a conhecer no início de abril deste ano. Arte e vida são um binómio inseparável em Manel, e “há quase um acordo entre as duas”.
Para provar isso, basta recuar a bobina até à adolescência de Manel Cruz: da “brincadeira” com os Suores dos Reis surgiu, nos anos 90, a banda de rock alternativo mais importante da história da música portuguesa. Importante porque os discos de Ornatos Violeta são ouvidos e queridos por uma geração que ainda gatinhava à data do seu lançamento e são resposta frequente de bandas de culto atuais quanto a referências na música. Pluto e Supernada ainda herdaram o estilo descomprometido dos Ornatos, embora se tenha aprofundado a escrita. Já a inconfundível voz serviu sempre como fio de ligação entre criações.
Com Foge Foge Bandido, Manel abraçou o experimentalismo nos instrumentos — sempre bem apoiado por Edu Silva, António Serginho, Nuno Mendes e Nicolas Tricot — e a reflexão sobre o eu de todos nós nas letras.
Em 2015, o novo pacote de canções que surgiram na cabeça de Manel ganhou corpo com Serginho, Edu e Nico, e um novo nome: Estação de Serviço. Nas palavras do criador, esta foi uma oportunidade para “fazer um balanço e olhar para trás (…), para o reportório que tinha, para as coisas que tinha e como queria fazer daí para a frente”.
Dois anos e umas pontuais aparições ao vivo depois, eis que a viagem segue da Estação até à Extensão de Serviço; mais uma vez, uma nova roupagem de uma linha criativa semelhante.
E agora — quase paradoxalmente — temos o mais recente mas primário trabalho, de composição simples mas resultado de uma desconstrução de anos, o denominador comum de todos estes projetos: Manel Cruz.

Fotografia: Daniel Dias / CCA
O facto de nenhum dos projetos enumerados anteriormente estar totalmente fechado — à exceção do final anunciado do Bandido (apesar de ainda ser presença assídua nos seus concertos) — expressa a multiplicidade criativa de Manel: “quando, às três por quatro, estás a repetir uma coisa que te está a soar bem, não é o panorama mais aliciante. O mais aliciante é aproveitar a nova coisa” e é isso que faz repetidamente, reinventando letras e formas de fazer música, acrescentando camadas e chamando-lhes nomes diferentes, sendo que cada nova camada tem pedaços da anterior.
“E aqui, essa matéria foi pura e simplesmente esse momento que estava a viver, porque não tinha qualquer ambição de fazer algo que me fizesse sentir que estava num processo estético que me transcendia ou que inovava os processos. Era uma coisa um bocadinho mais simples do que isso: conseguir fazer algo que me fizesse sentir que ainda estava vivo e com capacidade de me apaixonar”. Daí que, apesar do nome, o trabalho que resulta de Vida Nova não pode ser novidade para Manel Cruz, nem para os que o ouvem desde Ornatos; é antes um agregador de todo o terreno criativo que Manel já pisou. Espremido, resulta num sumo rico e completo: é a sua obra prima — para já. E não podemos dizer isto de muitos criadores, mas, no caso de Manel Cruz, ele ainda não acabou.
A prova é a vontade com que a voz mais que habituada a ser ouvida ecoou pela sala 2 da Casa da Música, no passado dia 28 de abril, quando Manel Cruz mostrou pela primeira vez a sua Vida Nova. O espaço serviu de fraca escala à grandeza do que ali foi tocado: a bateria sempre pronta do sempre enérgico Serginho, o baixo que, com a mão rebelde, mas competente, de Edu, tudo alicerça, e a polivalência instrumental de Nico cobriram o público de uma manta de som que aquece e arrepia ao mesmo tempo. Mais desconforto que conforta só juntando os três mosqueteiros a Manel Cruz, à sua voz que tantas descrições – como esta – tentam em vão conter e às mudanças fluídas entre a sua velha clássica, a elétrica, o banjo e o ukulele.
É este último que o acompanha nos momentos mais despidos — e não estou a falar de quando, ainda no início do concerto, decide tirar a camisola. Não retirando mérito à produção da coisa — que o tem sozinho em palco, sentado numa espécie de altar, iluminado por uma luz branca —, a simplicidade tão bonita, quanto dolorosa, de “O Céu Aqui” faz-nos mesmo sentir que o céu é ali, como se de uma queda fôssemos amparados por anjos. Para ajudar à metáfora, os três companheiros de palco aparecem de volta aos seus lugares, acompanhando-o sem instrumentos, só num coro quase angelical. Mesmo nos momentos mais intimistas, o habitat de Manel é entre guitarras e amigos.

Fotografia: Daniel Dias / CCA
E porque é com eles que partilha o único projecto a que deu fim, mesmo estando este concerto reservado ao novo trabalho, houve tempo para recordar e mimar o público com “um saltinho à toca do Bandido”. Foi bem mais que um saltinho: de “As Minhas Saudades Tuas”, uma pausa a meio de Vida Nova para respirar ar conhecido, ao hino “Borboleta”, que protagonizou o segundo encore e encerrou a noite, o silêncio foi norma da metade menos talentosa da sala, enquanto na outra Manel Cruz cantava. Em “Estou Pronto”, iluminado com um vermelho pesado, canta de megafone numa mão e na outra, mais à frente, segura o microfone, como se somente a voz não bastasse.
Já com Vida Nova, Manel é quem sempre foi, mas na sua forma mais livre e nuclear, com a fórmula infalível a quem sobra talento de ukulele e voz. Um bom filho do vento à Casa tornou com uma nova — mas não final — camada que forra a ouro líquido uma vida dedicada à criação. Mas ainda vamos ouvir muito de Manel Cruz; como fez questão de repetir em palco, com ecos que pareciam eternos: “Ainda Não Acabei”.
Acontece achar-se um concerto mau e querer-se que acabe rápido; acontece ele ser bom e querer-se ficar lá o resto da noite, mas sermos desiludidos com uma setlist curta à nascença; aqui aconteceram 29 canções sem pedir muito, mas apreciar muito mais. O mesmo se pode dizer da carreira de Manel.