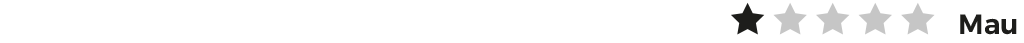‘Call Me By Your Name’: um “YOLO” pseudointelectual

Existe uma já longa tradição no cinema de filmes de verão, obras que partem de uma ideia comum sobre a estação do ano, onde adquirem o seu caráter bucólico e ocioso, mas que, não obstante esta partilha, conseguem dar resultados tão díspares e ecléticos como Les Vacances de Monsieur Hulot (1953), Kurutta Kajitsu (1956) ou Aquele Querido Mês de Agosto (2008). Call Me By Your Name (2017) insere-se nesta linhagem, diferindo, porém, dos seus congéneres supracitados no sentido em que neles o langor e o ócio não são desculpas para uma quase absoluta ausência de pensamentos ou ideias.

Já o filme precedente de Luca Guadagnino apontava o seu interesse na época balnear no título: A Bigger Splash (2015), tal como o quadro de David Hockney. Nele quatro pessoas exploram as tensões entre si num ambiente festivo e, sobretudo, tentador, que é subitamente interrompido na última meia hora, uma mudança que traz consigo uma nova visão sobre as personagens, novos parâmetros de género e até uma nova palete de cores. Esta mudança é aquilo que falta a Call Me By Your Name, um filme que existe numa bolha de hedonismo que nunca é questionado ou desafiado e para o qual não é apresentada a mais singela das justificações.
O enredo é extremamente simplista e linear, focando-se no jogo de sedução e consequente desenvolvimento da relação entre dois homens, um mais novo, Elio, e outro mais velho, Oliver, enquanto passam férias numa pitoresca aldeia italiana – sobre isto poder-se-ia dizer que o facto de não tornar a homossexualidade da relação a fonte central do conflito, o que, apesar de tudo, ainda é um discurso relativamente comum neste género de filme, tem algo de interessante, mas, como Guadagnino sabe (e bem), o seu público não necessita de ser doutrinado sobre esta matéria, pelo que não constitui uma escolha particularmente louvável, sobretudo tendo em conta que o próprio filme o louva no monólogo do pai. O guião parece o arquétipo de uma adaptação literária mal conseguida: à parte destas personagens, existe toda uma panóplia de secundárias que parecem ter entrado no filme por constrangimentos de produção, antes de alguém ter tido oportunidade de as dotar de personalidade ou traços caraterísticos, ficando limitadas ao rascunho da sua relação com um dos dois membros do casal central, assim tornando-se incapazes de fazer algo mais que uma mera sugestão de outras histórias paralelas ao romance principal. Nos raros casos em que estas histórias são de facto desenvolvidas, elas parecem levar a becos sem saída, constituindo acontecimentos que em nada contribuem para a construção do filme como um todo, como por exemplo uma longa sequência em que Elio e Oliver acompanham o pai de Elio na emersão de uma estátua do fundo do mar.

Este descurar dos elementos satélite da intriga central revela-se problemático na representação da personagem de Esther Garrel (que em vão tenta fazer o máximo com o pouco que lhe é dado), Marzia, uma amiga de Elio. Este utiliza-a para criar ciúmes a Oliver, assim como para combater a sua inexperiência sexual depois de aperceber-se que o seu interesse é bastante mais versado nessa área que ele. “Ontem eu e a Marzia quase fizemos sexo. Se eu quisesse, tê-lo-íamos feito.”. Eventualmente, o ato é consumado, os dois perdem a virgindade e pouco depois Marzia desaparece do filme, reaparecendo apenas em duas outras cenas: na primeira, Elio exprime o seu desinteresse por ela, o que a faz abandoná-lo; na seguinte, a jovem perdoa-o. Em suma, o castigo de Elio por usar uma rapariga unicamente para seu proveito, sem ter os seus sentimentos em consideração, é absolvição instantânea, sem consequências.
Marzia, lamentavelmente, não é a única vítima. Na infame (famosa?) cena do pêssego, Elio masturba-se com o referido fruto. Mais tarde, Oliver entra em cena e apercebe-se de o que aconteceu, tendo a ideia de comer o pêssego. Elio, evidentemente desconfortável e envergonhado, pede-lhe repetidas vezes que não o faça, pedido que não lhe é garantido. De modo a contê-lo, Oliver impõe-se fisicamente sobre o jovem agarrando-lhe os membros, gesto que despoleta o seguinte diálogo:
– Para, estás a magoar-me!
– Então não o combatas!
Independentemente da autenticidade dos sentimentos que nutrem um pelo outro, este é o claro retrato de uma relação abusiva entre um homem mais velho e forte e um rapaz inexperiente – como o filme faz questão de reforçar que Elio é. Neste episódio, assim como no de Marzia, na sua procura de uma representação completamente assética da sentimentalidade, Guadagnino apresenta-nos comportamentos abusivos como, na melhor das hipóteses, danos colaterais do amor, ou, na pior, normais.

No fundo, o que Guadagnino parece pretender fazer é celebrar a vida criando um retrato de uma vida perfeita – perfeita apesar dos seus problemas, a saber, desgostos amorosos. Para tal, um estilo de vida burguês é posicionado como o ideal ao qual devemos aspirar. A cultura erudita, a boa comida, o sexo – enfim, o luxo é o melhor que uma pessoa pode querer – um hedonismo tão pacóvio que envergonharia o próprio Aristipo de Cirene. Neste contexto, as inúmeras referências culturais surgem absolutamente ocas, uma langue de bois pseudointelectual que pretende sugerir outros sentidos para aquilo que observamos, sentidos esses que o filme em última análise não persegue ou sequer deixa espaço para que existam.
Este modus operandi encontra-se espelhado em muitas das escolhas de realização. O sem-número de devaneios artístico-técnicos que pontuam o filme surgem sempre como uma reiteração daquilo que o texto já nos comunica, nunca como uma modulação dele ou um acrescento. Como exemplos deste comportamento podemos enumerar o efeito de película queimada num momento em que Elio se encontra triste, toda a utilização de música não diegética (apesar da qualidade da canção de Sufjan Stevens, o seu uso naquele contexto é incrivelmente melodramático) e, o clímax do ridículo, uma cena sonhada em que as cores se encontram em negativo, que consegue adquirir contornos cómicos. O próprio realizador relata num vídeo em que desconstrói uma cena do filme como todas as suas escolhas espelham elementos pré-existentes no guião. Isto leva a um discurso visual redundante e penoso para o espetador, que assim é forçado a processar as mesmas informações várias vezes simultaneamente, senão mesmo insultuoso, caso esta repetição tenha origem num receio de que a audiência pudesse não ser capaz de compreender o filme caso as coisas fossem ditas uma só vez.

No seu cerne, o problema de Call Me By Your Name é uno: a vontade de grandeza de Luca Guadagnino fá-lo querer fazer mais do seu filme do que aquilo que é. A fórmula style over substance (muita parra pouca uva) nunca produziu bons resultados e aqui deixou os seus vieses elitistas e machistas transparecerem. Que uma das obras mais abjetas dos últimos anos tenha sido tão bem acolhida por uma parte da crítica, pelos seus pares (nomeadamente nos Oscars) e por parte do público é apenas mais um sintoma do há muito diagnosticado elitismo no seio da comunidade, que necessita urgentemente de uma renovação.