‘Contos Musicais’: A música é uma expressão criadora e de superação

Idealmente, a melhor companhia para estes Contos Musicais seria «Música e Literatura no Romantismo Alemão», com organização, introdução e notas de Rita Iriarte, (Apáginastantas, 1987). Não fosse a penosa evidência de esse livro estar indisponível. Mas especular acerca desse estranho hábito de reeditar o excedentário e o despiciendo, enquanto se deixa no limbo o que seria urgente que revivesse, admitamos, é extrapolar o quadro de uma resenha. Mesmo se ela versa sobre um livro de qualidade excepcional, como aqui acontece.
Música e Literatura no Romantismo Alemão recolhia textos de, entre outros, dois dos autores incluídos em Contos Musicais: Wackenroder e Hoffmann. De resto, o livro é motivo de referência e meditação, quer por Claudia J. Fischer, quer por Miguel Vieira de Carvalho – respectivamente, a tradutora e responsável pelas palavras introdutórias e o autor do posfácio desta recolha. Nomes como os de Tieck, Novalis e Schlegel eram também presenças fortes numa obra que constitui (ou constituiria) um suporte teorético de valor inestimável para a antologia agora lançada pela Antígona – e, escusado repisar, uma reedição adiada.
Contos Musicais é uma antologia programática. Não porque nela haja qualquer estratégia demagógica, ou política (passe o pleonasmo), mas porque este conjunto de narrativas toma por suporte um programa teórico. Essa base é lançada num gesto paralelo ao da escolha do título. Qualquer uma destas ficções – da autoria de Wilhelm Heinrich Wackenroder, Heinrich von Kleist e E. T. A. Hoffmann – toma por estímulo principal a música. Dois excelentes paratextos, de Claudia J. Fischer – «Acústica da Alma – Notas à Margem desta Edição» – e de Mário Vieira de Carvalho – «Posfácio» –, emprestam à edição, precisamente, o sustentáculo dessa teorização. Estes ensaios – disso se trata, e não dos perfunctórios documentos que, por vezes, se cometem – abonam o livro de uma notória solidez. Aqui se segue o princípio segundo o qual o romantismo foi o contexto histórico-cultural em que a música começou o seu longo caminho de autonomização (que viria a concretizar-se no curso de um vasto processo de dinâmicas estéticas que transcendem, naturalmente, a temporalidade romântica). Como escreve Claudia J. Fischer, «Logo no início desse período romântico, nos finais do século XVIII, quebraram-se certos parâmetros clássicos, abrindo espaço a uma profunda transformação das linguagens artísticas, reequacionado inclusive o estatuto das artes entre si.» (p.9); «um momento marcante», como escreve Mário Vieira de Carvalho, «em que o acento é deslocado do racional para o sensitivo» (p.116).
É neste terreno que se começa a erguer uma oposição à estética aristotélica da mimese. E Fischer cita, precisamente, Música e Literatura…, nas palavras de Wackenroder, resgatando a noção de uma arte «“que ousa falar das coisas do Céu numa linguagem estranha e intraduzível”» (p.9). Wackenroder, que viveu no último quartel do século XVIII, mas também Tieck – cuja vida e obra se estendem até meados de Oitocentos –, estão entre os pioneiros da estética romântica, que representa, conforme escreve Fischer, especificando o âmbito deste livro de contos, «uma clara viragem (…) em nome de uma primazia da arte musical relativamente às artes imitativas, uma nova estética centrada no sujeito e nos seus estados de espírito em íntima relação com o universo sonoro» (p.10). Frisando a importância de Rousseau, nome fundamental dessa espécie de proto-romantismo que preparou o terreno para o abalo romântico, Vieira de Carvalho afirma que a música «ganha um lugar central, precisamente como arte não representacional. Ela não tem a “função de representar directamente as coisas”, mas, sim, “a de excitar na alma os mesmos movimentos que experimentamos ao vê-las” – diz Rousseau» (p.118).
Mais tarde, Hegel viria a tipificar esta noção da música como expressão artisticamente emancipada do eu, quando postula: «A missão principal da música consiste, portanto, não em reproduzir objectos reais, mas em fazer ressoar o eu mais íntimo, a sua mais profunda subjectividade, a sua alma ideal.» (Estética – Pintura e Música, Guimarães Editores, 1962) Neste quadro, a música irá sendo, progressivamente, concebida, não como arte subsidiária das demais, mas como existência autónoma, com a sua linguagem e gramática, com a sua especificidade estética. Não por acaso, Hoffmann fala, quase no início da sua recensão à 5.ª Sinfonia de Beethoven, da música como «arte autónoma» (Música e Literatura…). Música, de resto, que, num passo citado por Claudia J. Fischer, descreve como arte «“que despreza qualquer auxílio, qualquer intervenção de outras artes”» (p.16), o que faz dela «“a mais romântica de todas as artes”» (p.17). É, aliás, na rubrica das «Artes Românticas» que Hegel agrupará a música, no conjunto de prelecções que vieram a ser o que hoje conhecemos como Estética.
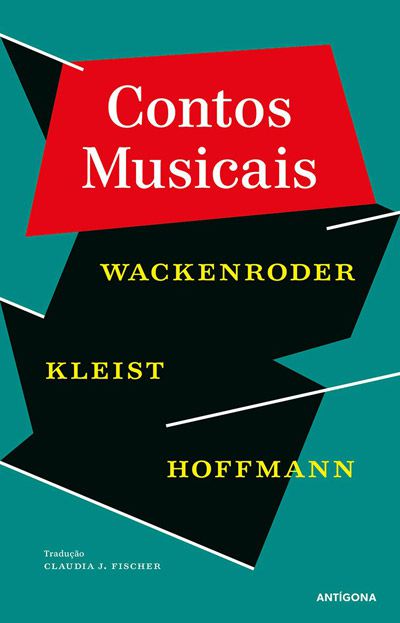
Os cinco contos aqui recolhidos – dois de Wackenroder, um de Kleist, e outros dois da autoria de Hoffmann – são a expressão literária de um ambiente cultural e estético em que o indivíduo passava a ser o cerne ardente das preocupações, e em que a música se erguia como poder irreprimível, que «os poetas românticos», assim lembra Vieira de Carvalho, «[elegem] como modelo na sua busca do indizível» (p.119). Esse «indizível» pode confinar com a loucura, a qual está explicitamente presente no conto de Kleist «A Santa Cecília ou a Força da Música (Uma Lenda)». No entanto, não deixa de assombrar a quase totalidade destas ficções. Em «A Estranha Vida Musical do Compositor Joseph Berglinger», de Wackenroder, a «interioridade exacerbada do sujeito, veiculada pela música» (p.10) (Claudia J. Fischer), instila no protagonista uma tensão que, se não conduz à alienação, extrema os estados da consciência, que se vê assaltado pelas clivagens mais avassaladoras do eu. O «Santo Nu», do outro conto de Wackenroder, representa, por seu turno, uma outra declinação possível da insânia. De resto, o trato mantido entre o narrador (e alter ego) de Hoffmann e Gluck – «falecido há mais de trinta anos» (p.126), lembra Vieira de Carvalho – é mais uma emanação da música como força perturbadora e actuante na mente e sanidade do indivíduo. Uma espécie de daimon que impele o sujeito para os planos da superação e do excesso, do alargamento da consciência e da sua revolução.
«A Estranha Vida Musical do Compositor Joseph Berglinger» põe em confronto o idealismo do protagonista e o «materialismo» do seu opositor em termos narrativos – e não só –, o seu pai. O músico, em permanente busca de outra coisa, outra plenitude, choca fatalmente com o pai, um médico que pretende um futuro comedido e razoável para o filho. Joseph Berglinger é, obviamente, uma florescência do romantismo; o seu progenitor representa o século que virá ainda a ser utilitarista e se industrializará sem volta atrás. Toda a apresentação do músico se faz, sintomaticamente, em regime de escavação. O narrador reverte para o «interior», para o íntimo da personagem: «que vivia sempre em belas fantasias e sonhos etéreos» (p.31), «o seu interior era o que mais prezava» (id.), «o seu ânimo devaneava constantemente nos labirintos crepusculares da sensibilidade poética» (p.32), «em íntimo recolhimento, deixava-se cair de joelhos» (id.). Não surpreendentemente, o pai é reconhecido pela «exterioridade», pelos fenómenos físicos. A um, as ideias; ao outro, os factos. O conflito surge, como é natural, da incompatibilidade entre duas visões desavindas de mundo. Acresce a esse confronto a insatisfação (também marcadamente romântica) da personagem principal, que, simbolicamente, encerra a primeira parte do conto com uma fuga em aberto, que deixa, por momentos, indeterminada a conclusão, e rasga a miragem de possibilidades ilimitadas. A prossecução da narrativa apenas revela o recrudescimento da insatisfação. Apesar de um enquadramento profissional em que a música desempenha papel principal, o protagonista sente-se presa de uma «força misteriosa» (p.47), que é a da própria arte. Um peão, entre o vulnerável e o belicoso, no «combate entre o seu etéreo entusiasmo e a miséria desta terra» (p.50).
«Um Maravilhoso Conto Oriental de Um Santo Nu» intersecta três vectores importantes no quadro geral do romantismo, mas também no plano de pormenor desta antologia. Por um lado, o «exotismo» do Oriente, que prevê a evasão no espaço que o romantismo glosou e elevou à categoria de paradigma da sua estética. Também a noção de santidade, de uma certa excepcionalidade, é profundamente afim do romantismo. Culmina esta dupla de características a importância da música. Melhor dito: um som, tão indefinível quanto a música para os românticos, mas de feição bem distinta, no seu horror – «Parecia estar constantemente a ouvir, no interior dos ouvidos, o movimento circular e sibilante da rosa do tempo.» (p.56) E é precisamente o poder da música que quebra o sortilégio que mantinha o santo refém do seu cativeiro sonoro – «Ao primeiro som da música e do canto, desvanecera-se a rodopiante roda do santo nu.» (p.60)
No século XVII, John Dryden escreveu dois poemas dedicados a Santa Cecília: «A Song for St. Cecilia’s Day» – em cujos versos se lê: «Que paixão não pode a música mover e aplacar!» – e «Alexander’s Feast», uma vindicação da mágica persuasão da música, que começa na corte de Alexandre, o Grande, e se encaminha para a figura de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Já no século XVIII, Alexander Pope escreveu «Ode for Music, on St. Cecilia’s Day» que voltava a glosar o sortilégio da música – «A Música encanta a dor mais profunda,/ Serena a mais árdua cólera do Destino». Foram, de resto, vários os poetas e músicos (como Handel) que cantaram os louvores de Santa Cecília, como símbolo actuante desse poderio. Em pleno romantismo, quando Kleist escreve «A Santa Cecília ou A Força da Música (Uma Lenda)», a abordagem é manifestamente distinta. Em vez de considerar a força da música como energia distante, ordenada e submetida a uma hierarquia, relacionável com os planos divino ou temporal, o autor dissemina esse poder, tornando-o um ímpeto mais obscuro.
Tal como faz em «Michael Kohlhaas – O Rebelde» (Antígona, 2004), Kleist localiza a acção da narrativa no século XVI, para criar um enredo que recua no tempo, reduzindo a falácia do plausível e o apelo da identificação. O quadro por si recriado, de guerras distantes, países em formação incipiente, dissensões político-religiosas, submerge a ficção num ambiente de estranheza que prepara a radicalidade dos acontecimentos relatados. Um grupo de irmãos, jovens estudantes seguidores da fé protestante, planeia uma acção selvática de destruição de imagens religiosas. A intervenção da música sacra, interpretada no convento que deveria ser sede da acção de iconoclastia, reduz os irmãos a uma «vida fantasmagórica» (p.68). A loucura que os acomete é um transe religioso, uma conversão sobrenatural ao catolicismo que deixa os projectados malfeitores num limbo existencial, na fronteira entre a vida terrena e o abandono à existência do espírito. O «barroquismo» estilístico, a sumptuosidade da expressão, o insólito das suas escolhas e ângulos, são os de um romantismo feroz, obscuro, análogo ao de um Nodier, ou um Nerval, e que antecipa já uma figura tão genialmente alienígena como Lautréamont.
Em «Acerca de Um Dito de Sacchini e do Chamado Efeito em Música», E. T. A. Hoffmann singularizava a acção artística de Gluck – «Aquela verdade, segundo a qual a ópera deve apresentar-se como um todo, em palavras, acção e música, foi expressa pela primeira vez por Gluck nas suas obras; mas qual é a verdade que não é mal interpretada, originando, assim, os mais estranhos erros!» (Música e Literatura no Romantismo Alemão) Em «Cavaleiro Gluck. Uma Recordação do Ano de 1809», Hoffmann mantém duplamente a fímbria do mistério a velar os contornos aos acontecimentos narrados no conto – no fundo, mais não faz do que «interpretar» a «verdade», desafiando o risco dos «mais estranhos erros», como dizia no seu ensaio. Desde logo, no conto, a designação «cavaleiro» oculta o nome próprio – «Não perguntemos pelos nomes: os nomes podem ser uma maçada.» – (p.85); por outro lado, mesmo a identificação do apelido do seu interlocutor é revelada ao narrador apenas na última linha do conto. Por fim, como já se disse, o anacronismo acrescenta uma nova camada de perturbação à narrativa. Não que se possa dizer que o narrador tivesse estado, declaradamente, a entabular conversa com um fantasma; mas o paradoxo temporal e lógico implanta-se irremediavelmente. Hoffmann encerra Contos Musicais com uma sátira sobre a autoridade do talento e a (i)legitimidade do estatuto de um artista.
A fama lendária de um mestre do violino é, afinal, um embuste. O prodígio musical é, contrariamente ao que o conto habilmente explanara, um incapaz. Um «mero» teorizador que prospera numa situação em que todos ganham por salvar as (falsas) aparências. Alegado mestre de uma plêiade de músicos e outros tantos professores, o Barão de B. do conto epónimo é uma burla. É ele quem paga o estipêndio aos seus «discípulos», transacção que, na perspectiva do leitor, finalmente deixa cair luz sobre a charada. Termina, portanto, com as cores da farsa esta admirável incursão sobre o poder da música, Contos Musicais. Se, no derradeiro conto, esse poder se traduz num intercâmbio de favores tingido pelo vício e o prestígio indevido, nos restantes, a música é uma expressão criadora e de superação. Um poder estranho e perturbante que o romantismo ergueu a planos insuperáveis de realização artística e reflexão teórica.![]()

