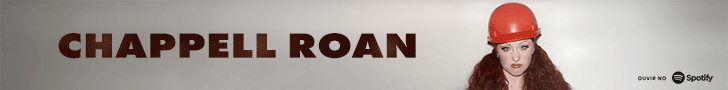Descentralização da cultura: um passo em frente rumo à democracia cultural

Desde a revolução do 25 de Abril que têm sido implementados em Portugal programas que visam a democratização cultural, ou seja, o acesso dos cidadãos à cultura, muitas vezes promovendo espetáculos de acesso livre pelo país, muitos dos quais têm origem nos grandes centros urbanos. A ditadura do Estado Novo deixou como herança uma população com pouca educação e cultura, uma elevada taxa de analfabetismo e uma enorme necessidade de fazer desenvolver a sociedade. Com os anos e a progressiva concentração da população nos dois grandes centros urbanos do país, Lisboa e Porto, o processo de democratização cultural ficou muitas vezes alinhado com os projetos de descentralização que começaram a ser pensados de forma mais intensiva na segunda metade da década de 90, quando houve um esforço para promover a cultura fora dos grandes centros urbanos.
Hoje, 50 anos depois, a prioridade das políticas culturais parece manter-se: garantir o acesso à cultura com a esperança de que, eventualmente, isso possa fomentar hábitos culturais na generalidade do público. A intervenção do ex-Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na apreciação na especialidade do Orçamento do Estado de 2023, vem atestar esta tese: “Acredito que a descentralização é importante não só por uma questão de justiça e de coesão entre as várias regiões do país, mas também porque ela tem um efeito reprodutivo, multiplicador: é a assistir a peças de teatro, a bailados, a concertos, a filmes, que nasce o desejo de ser ator, realizador, encenador, bailarino, artista, escritor. Se a oferta cultural chegar a camadas sociais mais amplas, por todo o país, isso irá no futuro traduzir-se numa criação cultural mais plural, capaz de refletir de forma mais rica a diversidade das experiências da sociedade portuguesa”.

Para a grande maioria dos investigadores, autores e produtores culturais que têm tratado o tema, é relativamente “unânime” — para usar uma palavra do gestor cultural, professor e investigador Rui Matoso — que se tem de pensar nas políticas culturais tendo em conta o conceito de “democracia cultural”, isto é, procurar construir uma sociedade em que os cidadãos possam não ser apenas consumidores de cultura, seja de que região forem, mas que se possam também tornar agentes culturais ou criadores artísticos, sujeitos ativos, até para se tornarem mais participativos na vida cívica. “Criar artisticamente deveria ser uma prática de todos, mesmo que não exista um fim profissional”, defende Luís Sousa Ferreira (recorda a entrevista), fundador do festival Bons Sons, ex-diretor do 23 Milhas e atual adjunto da direção artística do Teatro Nacional D. Maria II. “Porque é através desses processos que o nosso entendimento, a nossa transformação, a nossa empatia e sobretudo o nosso espírito crítico ficam trabalhados. Como o Zeca Afonso disse, revolução cultural não era ele ir aos sítios e mostrar a sua música. Era ele ouvir a música de cada sítio e haver uma cena artística nos vários lugares.”
A democratização vs. a democracia cultural, e a responsabilidade do poder local
O que muitos dos especialistas defendem é que as políticas de descentralização e democratização cultural, mesmo que possam corrigir algumas assimetrias, são insuficientes para se alcançar a desejada democracia cultural. Em 2004, o agora extinto Observatório das Atividades Culturais divulgava um estudo que apontava nesse sentido, relembra Rui Matoso. “Chegou-se à conclusão de que os programas de difusão das artes iniciados no final dos anos 90, e mesmo os museus e bibliotecas espalhados pelo território, não geraram automaticamente novas centralidades.”
Para o investigador, o facto de a programação cultural estar muitas vezes nas mãos das autarquias tem contribuído para uma “monocultura” ou “homogeneização” dos territórios, o que faz com que não se desenvolva um “ecossistema cultural local com diversidade”. Mesmo quando existe uma maior circulação de projetos musicais, no verão, quando os concelhos e freguesias de todo o país organizam as suas festas e romarias, numa altura de regresso de muitos emigrantes e em que muitas pessoas estão deslocadas por estarem de férias, as programações são precisamente o reflexo dessa “monocultura”.
Rui Matoso acredita que, sobretudo nos últimos anos, o estado central tem cumprido o seu papel enquanto disseminador da cultura, mas que cabe ao poder local efetivar a mudança de paradigma, até porque é ele que está dotado das “ferramentas e competências” necessárias. Para si, os municípios deveriam agir enquanto facilitadores, financiando agentes culturais locais ou cedendo espaços para a criação artística, mas deveriam abster-se da função de programar.
Luís Sousa Ferreira relembra o quão “condescendente” é a produção cultural estar fixada em Lisboa e no Porto e o resto do país funcionar como mero “destinatário”. “Facilmente isto ganha uma lógica colonialista, de eu mostrar aquilo que eu acho que é importante para ti”, aponta.
Maria Vlachou, que se tem debruçado sobre estas questões através da associação Acesso Cultura, argumenta que a programação muitas vezes não é feita a pensar sobre as comunidades locais. “A lógica é: existe uma oferta e temos de pensar como é que convencemos as pessoas a usufruir dessa oferta. Mais uma vez, com muito pouco interesse sobre a relevância ou o entendimento que as pessoas poderão ter dessa oferta. E insistimos em olhar para uma alta e uma baixa cultura.” Para si, é essencial reconhecer como cultura todas as práticas que se realizam fora dos espaços culturais formais e que fazem parte do dia a dia das pessoas, até porque só assim se poderá trabalhar rumo a uma maior diversidade e representatividade na produção cultural de cada território. “Não há uma medida que vá servir todos os territórios, há necessidades específicas que têm de ser tidas em conta”, salienta.
Nos últimos anos, uma das principais medidas implementadas pelo estado para responder ao desafio da descentralização foi o lançamento da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), em que os equipamentos culturais espalhados pelo país se podem candidatar para receberem financiamento para ciclos programáticos de quatro anos — financiamento esse que também tem de ser igualado pela respetiva autarquia —, que têm de incluir produção local, bem como uma multidisciplinariedade artística.

O diretor da Direção-Geral das Artes, Américo Rodrigues — também ele um agente cultural e autor que se tem debruçado sobre a descentralização —, defendeu no ano passado no festival MIL que um elemento fundamental para que o ecossistema funcione da melhor forma é que os diretores artísticos deverão ser pessoas com formação e perfil para a área — não deve ser uma função acumulada por um dirigente político autárquico. Mesmo quando as funções estão divididas por duas pessoas, é fulcral que o diretor artístico de um teatro tenha independência face à presidência ou ao vereador da autarquia, o que muitas vezes não se verifica.
Luís Sousa Ferreira argumenta que, muitas vezes, os edifícios por serem um teatro e terem um nome passam a imagem de serem uma instituição cultural, mas muitas vezes não há profissionais especializados nem equipas próprias nestes equipamentos, o que faz com que possa ser uma “rede mascarada”. “Por vezes são apenas salões de festas dos municípios. Não há risco na programação, e há uma grande interferência da política.” Rui Matoso está de acordo: “Sem autonomia do poder local, a democracia cultural não se consegue efetivar”.

Isso leva a que artistas e agentes encontrem muitas dificuldades em conseguirem organizar digressões com várias datas fora dos grandes centros urbanos, por falta de abertura ou disponibilidade. “Com a abertura da rede nacional de teatros, o que está a acontecer é que os artistas emergentes em vez de terem ganho espaço, perderam-no. Ou seja, como há mais dinheiro, os teatros estão a contratar o artista da moda e não o artista emergente que às vezes contratavam”, explica Tânia Monteiro, da Produtores Associados, que trabalha com artistas há vários anos. Hugo Ferreira, da Omnichord Records, comenta no mesmo sentido, apontando outro detalhe que dificulta o processo: “Tem tudo para ser uma ótima ideia, mas está a exigir uma programação muito antecipada, que não tem em conta o fluxo de novos lançamentos. Porque nesta altura [a conversa aconteceu em outubro] estão a fazer a programação do próximo ano inteiro. E vai haver muita coisa nova até lá”.
Do Minho à Costa Vicentina, os faróis que iluminam o caminho
Mesmo que o cenário não seja ainda o almejado, há vários bons exemplos de projetos que se têm esforçado para potenciar a democracia cultural em Portugal — e que, naturalmente, têm contribuído para uma descentralização, mesmo que o conceito de “centro” seja muito relativo porque, como apontam todos os entrevistados, existem zonas e comunidades periféricas dentro dos centros e cidades que não são grandes centros urbanos mas que operam como as localidades centrais das suas regiões.
Luís Sousa Ferreira prefere pensar numa lógica “policêntrica”, e acredita que o 23 Milhas, projeto de transformação cultural do município de Ílhavo que dirigiu entre 2016 e 2022, tem cumprido o papel a que se propôs. Funciona como uma rede de programação que opera em quatro espaços culturais do concelho, mas também noutros locais — até para que não haja uma centralização interna e uma “ideia aburguesada” de que a cultura só pode existir nos sítios mais formais —, e que tem promovido eventos de diversas artes, projetos “estratégicos” nas escolas e feito um “investimento grande na produção local”. A ideia passa por fomentar projetos que possam ir “de dentro para fora” e que criem “hábitos culturais”. “Há o usufruto, mas interessa-me muito a lógica das práticas, do aprender, do saber, da técnica. Essa parte está completamente alheada da vida das terras e parece ser apenas um ato dos artistas. É dos artistas, certamente, mas também é de qualquer pessoa.”
Uma das iniciativas que criaram e que tem dado frutos é a Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo. A ideia é “dar palco” aos artistas locais, com “desafios concretos”, com bandas de vários géneros musicais. Envolvem as escolas de música locais, têm conseguido atrair a população e contribuído para desenvolver uma cena artística. “Noutro dia estava em Vila Real e reparei numa digressão de uma pianista de Ílhavo que é a Inês Filipe. Na Antena 3, oiço música dos Perpétua ou dos Equinócio, bandas da Gafanha da Nazaré. A companhia de dança de Ílhavo esteve com um espetáculo em Paredes de Coura com um coreógrafo profissional. Isto é efetivamente uma ferramenta de transformação do território, com programação e desafio, misturando gerações.” Por oposição, aponta a falta de eficácia de certas residências artísticas ou seminários que acontecem nos lugares menos centrais mas que não deixam sementes para o futuro.
Luís Sousa Ferreira é, neste momento, adjunto da direção artística do Teatro Nacional D. Maria II. Enquanto o teatro situado em Lisboa se encontra em obras de remodelação, a sua programação tem estado espalhada pelo território através dos diversos programas que integram a Odisseia Nacional. Por um lado, contribuem para o acesso à cultura com a circulação de peças do Teatro Nacional D. Maria II. Por outro, têm implementado iniciativas de democracia cultural para “evitar” uma lógica colonialista. “Com as peças, temos uma programação a 360 graus, com oficinas, laboratórios, conversas e uma série de atividades que dão uma ideia mais global daquilo que está a ser apresentado. Depois, fazemos ativação de projetos no território, a partir das associações e da dinâmica cultural de cada local, e em projetos com as escolas.”
O programa Atos procura deixar a “ideia central do centro cultural ou do cineteatro” e descentralizar dentro da própria localidade, levando a cultura às ruas ou a campos desportivos. “Muito por sugestão dos municípios, convocamos estruturas que fazem sentido serem tocadas por estas práticas e há uma open call para que mais se juntem. Tem sido interessante porque muitas vezes percebemos que já está lá tudo, não está é colado ou falta um olhar externo que possa evidenciar o potencial diferenciador que ali existe.”
Luís Sousa Ferreira dá o exemplo de um município que tinha uma biblioteca “moribunda” e que, depois de um processo de “repensar” qual é o papel de uma biblioteca numa vila pequena, se tornou um espaço para “contar histórias”. “Num município com uma rádio interessante e um teatro amador com uma dinâmica comunitária muito forte, e um projeto da câmara que faz estas recolhas culturais… Tudo isto junto é um projeto que cria dinâmicas e ativa a comunidade.”
Outro projeto que tem feito esforços no sentido de potenciar novas centralidades é o Lavrar o Mar, nos municípios de Aljezur e Monchique, que promove desde 2016 as artes performativas em cenários naturais, até porque são concelhos sem teatros — mas funcionam como exemplo de que não são necessários equipamentos formais para promover e espalhar a cultura, envolvendo as populações locais.

O programa Comédias do Minho é outra das referências muito apontadas. Trata-se de uma iniciativa que partiu da colaboração dos municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, que iniciou a sua atividade em 2004, formando uma oferta de teatro regular que não existia nestes moldes na região, e que tem como prioridade a envolvência da comunidade local.
Em Évora, o programador Luís Garcia tem sido o principal responsável cultural do concelho — que tem vindo a reforçar a sua posição enquanto “centro” na região do Alentejo. Quando se mudou para a cidade há mais de 40 anos, sentia a necessidade de um processo de democratização cultural. Nos anos 90, quando acreditava haver ainda um grande fosso entre a oferta cultural do concelho e as populações locais, iniciou o festival Viva a Rua, em que a programação decorria no espaço público, de forma aberta, procurando envolver as comunidades do concelho. Nos últimos anos, o festival Artes à Rua tem agido enquanto sucessor e feito um papel de “produção de pensamento”, com a mais recente edição a envolver as famílias eborenses em diversas atividades programáticas e a propor debates sobre a “descolonização do pensamento”.
Quando falamos de eventos de curta duração, mesmo que possam ter edições anuais, como é o caso dos festivais, também importa pensar no impacto duradouro que se pode causar. António Pedro Lopes, um dos responsáveis pelo Tremor, que se realiza na ilha de São Miguel, nos Açores, aponta nesse sentido. “Entre duas edições, como é que há uma presença que se manifesta? Que tipo de ativações podem ser feitas para manter este fogo aceso, esta relação viva, até para se fazer um trabalho de fundo, de habituação, de criação artística, de descentralização?”
O festival promove residências artísticas e faz trabalho de inclusão social com instituições locais, além de ter dado origem ao programa Terra Incógnita, onde artistas diversos são convidados para criar uma banda sonora para uma determinada paisagem da ilha de São Miguel. Para o curador, Portugal tem riqueza e diversidade suficiente para que haja festivais que aproveitem esses recursos únicos um pouco por todo o país. E dá o exemplo do festival Bons Sons, que se realiza na aldeia de Cem Soldos. “Não tem uma paisagem magnífica, não tem muita água, não tem nada de outro mundo, é só uma aldeia no centro de Portugal. É um exemplo magnífico de que são as pessoas que fazem um lugar e que o ativam.” O Bons Sons é um evento que transforma Cem Soldos durante os dias em que se realiza, em que envolve verdadeiramente a comunidade local, e que tem contribuído ativamente para a capacitação de profissionais da cultura ao integrar jovens da região na sua produção.
Afinal, nem só com equipamentos e públicos se pode fazer a descentralização cultural. Como frisou na edição passada do festival MIL o gestor cultural brasileiro Eron Quintiliano, radicado em Portugal há vários anos, é um desafio extremamente exigente organizar, por exemplo, um festival de música fora de Lisboa e do Porto. Os técnicos especializados necessários para a organização de um evento desta natureza estão fixados nos grandes centros urbanos e têm de se mover pelo território pois não há técnicos nas cidades médias portuguesas — afinal, provavelmente também não teriam trabalho de forma constante caso essa fosse a sua ocupação principal. Como é um setor precário por natureza, muitos preferem exercer outro tipo de funções. E foram muitos os técnicos que, não tendo qualquer tipo de apoio nem trabalho durante a pandemia, abandonaram a profissão e se dedicaram a outras áreas, fazendo aumentar ainda mais a escassez de profissionais.
Por isso mesmo, existe uma enorme necessidade de capacitar e criar estruturas que se possam vir a desenvolver profissionalmente. Essa capacitação estará diretamente relacionada com a democracia cultural, para que os territórios possam ser auto suficientes para gerar produções culturais e maiores hábitos de cultura junto das comunidades locais. Um projeto educativo que tem tentado promover a capacitação é o Música Dá Trabalho, da Omnichord Records, que se realiza junto de jovens alunos nas escolas. O objetivo passa por consciencializar para a cadeia de valor que existe na indústria musical, para explicar as muitas funções necessárias até um ouvinte poder estar num concerto ou a ouvir um tema numa plataforma digital. Daí até suscitar o interesse por estas funções é um passo rápido — e são vários os que se procuram formar nestas áreas após terem uma maior noção de como funciona o ecossistema musical.

Para Maria Vlachou, é urgente conduzir mais estudos em Portugal e diz mesmo que, por cá, só se tomam decisões “com base em palpites”. Em Inglaterra ou nos EUA, frisa, os estudos fazem-se pelo menos de dois em dois anos e dessa forma consegue-se “acompanhar os resultados das políticas e decisões”. É o caso do trabalho realizado pelo National Endowment for the Arts, nos EUA; e do Arts Council England, no Reino Unido. “Em Portugal, não conseguimos comparar com nada. No ano passado saiu o estudo da Gulbenkian, este ano o do CCB, mas só acontecem uma vez e não temos termo de comparação. Os estudos são pontuais, não dá para acompanhar os desenvolvimentos, muito menos para avaliar. Se não conheceres o terreno como deve ser, vais agir sobre o quê?”
Em suma, parece consensual que os cidadãos e agentes culturais de todo o país podem (e devem) criar os seus projetos de democracia cultural a partir da sociedade civil, mas recorrer ao estado — e sobretudo às câmaras municipais — para que sejam financiadores ou facilitadores desses projetos. Do lado do estado, é importante que haja a responsabilidade de desenvolver políticas culturais que tenham em vista um processo de democracia cultural, que atualize as práticas de democratização cultural que têm sido empreendidas ao longo das últimas décadas mas que não têm gerado resultados suficientes. Importa ter sempre em consideração as características e as vontades das comunidades locais, pois só poderá haver um verdadeiro envolvimento caso elas se sintam representadas. O caminho para a diversidade passa muito por aí, como bem resume António Pedro Lopes. “Há muitos Portugais dentro de Portugal que têm valor. Portugal é pequeno o suficiente, e diverso e rico, para que o resto não seja só paisagem.”