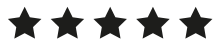“Diário de um Sem-Abrigo”: os dias (e noites) de Jorge Costa a viver nas ruas de Lisboa

“Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per unna selva oscura“
Dante, Inferno
Diário de um Sem-Abrigo: Os dias (e noites) de Jorge Costa a viver nas ruas de Lisboa (Oficina do Livro, 2022) é um livro com catorze crónicas, mas pode ser também um curso sociológico, uma viagem aos meandros do inferno, ou uma base para copos — tudo depende do grau de relação do leitor com os livros.
O volume apresentado foi escrito por Jorge Costa que, em 2021, a convite da jornalista Catarina Reis, começou a colaborar com o jornal A Mensagem de Lisboa, com a intenção de escrever sobre a experiência de ter sido sem-abrigo e, segundo ele, sem nunca ter deixado de o ser, ainda que depois viesse a casa, o frigorífico e a cama. O seu retrato íntimo após abandonar as ruas — “um sem-abrigo com casa”.
Ao contrário do mais famoso sem-abrigo da literatura mundial, o herói de Fome de Knut Hamsun, que vagueava faminto por Kristiania (atual Oslo), “cidade curiosa de onde ninguém parte sem levar consigo uma marca indelével…” — como na vida? — Jorge vagueava como sem-abrigo em Lisboa por força das circunstâncias coercivas a que foi sujeito: ficou sem emprego, consequentemente, sem dinheiro para pagar a renda; era novo de mais para a reforma e um Matusalém para conseguir emprego; faltava-lhe uma estrutura familiar que o auxiliasse e amizades que o segurassem. Aos poucos, ficando sem alternativa, sai do quarto arrendado, devia já 4 meses de renda, para não mais voltar. Lisboa passaria a ser a sua casa, a Gare do Oriente, as restantes divisões.
O livro é escrito com lucidez, coragem e candura, tal como Jorge fora em vida. Em todas as crónicas, o leitor arrepia-se com as condições indignas, “quase desumanas”, pior do que linhas de montagem, a dor de quem sobrevive em lugar de viver, a fome (em uma das crónicas, a palavra “fome” repete-se onze vezes), a miséria, o sonho. Sonhava, diz ele, “porque a única coisa que tinha, quando tinha algum tempo, era apenas sonhar. E o meu sonho era muito simples, muito pobre e muito básico. A forma como eu vivia é que me limitava a sonhar assim. Eu sonhava só ser um ser humano de novo e ser tratado como tal.” O sonho, essa “incapacidade de equilibrar as duas vidas — a vivida e a sonhada”, como definira em perífrase umas das personagens de Raúl Brandão.
Jorge Costa tinha 55 anos. Escreveu parte das crónicas com o seu pequeno Alcatel, até lhe ser oferecido, por uma leitora do jornal, um computador. Jorge, um homem sem pejo na venta, escreveu até morrer, em 20 de abril de 2022, com “sinceridade, verdade, sem reservas e tentando ser o mais fiel possível a todos os acontecimentos aqui por mim descritos”.
O livro tem 192 páginas e é uma edição notável da responsabilidade de Rita Fazenda. Inclui uma introdução da jornalista Catarina Reis e dois prefácios: um, de Marcelo Rebelo de Sousa, e outro de Nuno Markl. A editora Oficina do Livro, atenta e sobejamente perspicaz, percebeu que se convidasse para prefaciar o livro umas das figuras políticas mais carismáticas e respeitadas da nação portuguesa, e também Marcelo Rebelo de Sousa, a possibilidade de êxito de vendas estava mais do que garantida, e que, assim, a criação de uma Bolsa para trabalhos jornalísticos sobre Pessoas em Situação de Sem-Abrigo no jornal A Mensagem de Lisboa seguiria avante. Porém, apesar do caráter importante e útil do introito, as crónicas valem por si, e, não tenho dúvidas, podem muito bem fazer parte de qualquer objeto de estudo antropológico.
Jorge Costa, antes de se descobrir com temperamento de escritor, fora contabilista. Portanto, vocacionado para os números e por força desviado para as letras. As suas crónicas oferecem ao leitor um diagnóstico ético e moral das ruas (e da vida?), assente num darwinismo arrepiante: “Morde, senão és mordido”, “[…] procura-se foder quem costuma ser fodido”. Deixa-nos, do mesmo modo, uma análise de uma política social perversa e patusca, burocrática e entorpecida: “Apoios sociais? A sociedade em que estamos inseridos ajuda quem está a subir. Quem está a descer leva um “empurrão”, para descer ainda mais…”, “Agendaram-me uma entrevista [na Segurança Social para] fazerem uma reavaliação da minha situação social. Reavaliação? Eu disse que não tinha casa e dormia na rua. […] [fiquei] a aguardar resposta pelo correio ou por SMS. Disse-lhes que era melhor por SMS, pois, para ter acesso a correio, é preciso ter casa”. E, claro, atira-nos com a “ironia bem-disposta”, a galhofa, que entre iguais não cura, mas humaniza, salva, serve de vingança por alguns momentos: “Já trazes o rendimento mínimo ou ‘tá tudo de férias e mandaram-te foder?”, “Essa noite acabou […] a rirmo-nos à gargalhada. […] Podem não acreditar, [mas] existiam sempre uns minutos diários de boa disposição entre dois homens que partilham vinte e quatro horas a sofrer a miséria”. Por vezes, a ironia chega a ser ríspida e agónica, como no caso de um polícia que, abeirando-se dele e de outros, às tantas da madrugada, na entrada de um museu, em resposta, ouviu: “’teja descansado, sôr guarda! Já pus o despertador para as sete!”.
Por fim, apresenta-nos o “padrinho de rua” que o batizara de “Panda”, figura que imagino felliniana, que nos vai enchendo de comoção e riso, o Zé, que vivia há alguns anos na rua, e que, em uma das noites, vítima de um AVC, morrera. Jorge dedica-lhe uma crónica em jeito de homenagem, não tão coloquialmente como Dante a Vergílio em terza rima, mas, em matéria estilística, sem dúvida, mais honesta. Zé era para Jorge o anjo das ruas, e, em especial, o seu anjo da guarda, alguém que o ajudou a sobreviver ao “mato”, que o aconselhou a arrumar carros, porque “és um gajo bem educado e tens boa pinta”. Quando se dorme no inferno, não há tréguas, descanso ou alívio, tem de haver alguém que nos guie, divida o peso da angústia com algumas piadas e taças de vinho. Mas com devida parcimónia, porque, nas ruas, conselho do Zé, “um homem não chega, dois são o suficiente e três são de mais!”.
Nas primeiras páginas, Jorge escreve: “Pensei que, pela primeira vez, estava a ver um banco de jardim de uma perspetiva diferente.” Esse apocalipse, no sentido clássico da palavra, essa queda do cavalo, aconteceu comigo também, exatamente com este livro, que o Jorge nunca chegou a ver, mas, quanto sei, o tornará imortal.