Ensaio. Intervalos entre a pré-história e o pós-apocalipse

Estamos chateados e não temos ilusões.
Rui Knopfli
[…] vimos há milhões de anos a queda dos anjos e na queda eles descobriram que as asas servem para pousar sem esforço, não partir uma perna, as asas servem para emendar a queda e não para voar, e uma vez no chão começaram a atulhar-se de palavras
Rui Nunes, O Anjo Camponês
Vergílio Ferreira embirrava com a moda dos dinossauros. Algumas das suas anotações postumamente editadas no volume Escrever (2001) denotam uma insolência exaurida da parte do escritor, contemplando os júbilos em massa como fenómenos retardados e extemporâneos: de repente, diz-nos o autor de Aparição, com décadas de labuta, romance atrás de romance, a esgrimir num género literário sobre o qual recaiu toda a desconfiança, eis que a famigerada condição humana – o homem, a morte, a ausência de Deus – parecia confirmar finalmente o seu desnorte, a sua definitiva errância no vazio cósmico, a sua irredimível ausência de porquê. E como? Olhando para esses monstros gigantes. Não para as suas dimensões colossais, nem para a implacável violência dos seus dentes e garras, puras feras ao sabor dos instintos mais primários. Mas olhando, com os olhos da imaginação, para esse tempo jurássico ao longo do qual a vida, no seu esplendor selvagem e insensato, já acontecia sem nós – sem que uma única criatura houvesse aí, num instante mais negro, para duvidar de si e dos outros, para questionar Deus e a desproporção dos seus desígnios, para se mirar numa poça de água e, nesse reflexo turvo, captar sem palavras o espectáculo de si como qualquer coisa excedente e fugaz.
E vai daí “[…] esta simples pergunta que se ignora e ninguém faz: que significa haver Deus no tempo dos dinossauros em que o homem não existia e se ele não viesse a existir?” (Escrever, p. 58). E também: “Ver a bola azul dos espaços é reduzi-la à sua insignificância de um asteróide na imensidão vertiginosa dos astros inumeráveis, das inumeráveis nebulosas, da infinitude do espaço. E os monstrozinhos dos dinossauros põem sub-repticiamente o problema ridículo de haver Deus para o tempo deles e de continuar a havê-lo depois de extinguida a espécie humana” (p. 105). Deus, o nada, o não-ser. A pura flutuação do acaso.
Nada de novo aqui, como já Vergílio Ferreira o notava, arrastando-se entre queixumes e diatribes de velho existencialista amuado. Mas vinte anos depois de terem vindo a lume estes últimos escritos, a ausência de novidade continua a roer-nos por dentro – tal como na conhecida canção de Bowie, “Planet Earth is blue / and there’s nothing I can do”; continuamos reféns destas e doutras evidências sem órbita, acossados pelo inominável. Incomoda-nos não ter sequer um nome para dar a esta “época da falta de época, como se nós estivéssemos em falta…”, segundo Bernard Stiegler (A Miséria Simbólica, 2018, p. 85).
Acende-se na prosa vergiliana uma angústia fundamental: para quê escrever, então, se escrever rente à ruína do mundo – e da verdade, do sentido, das instituições democráticas – não redime o mundo, mas assevera a ruína? No mínimo dos mínimos, a angústia do autor insiste na escrita, pela escrita, porquanto esta se afirma uma obscura razão de ser iluminando as desrazões do homem num universo que o desconhece. Que o desconhece, é certo, mas sem que deixe por isso de o hostilizar com uma atroz impunidade, sem pingo de remorso – pois feita a razia de todas as alianças cósmicas da Antiguidade, esses mitos fabulosos que deslumbravam o homem como parte integrante de um extraordinário vitalismo, o universo da astrofísica moderna encarregou-se de comprovar que nunca estaremos suficientemente, verdadeiramente, em casa. Nem aqui, no planeta, e muito menos no vácuo sideral, cuja ausência de oxigénio constitui o mais elementar aviso de que a nossa presença é tudo menos bem-vinda. (Uma cena do filme Gravity, com a actriz Sandra Bullock a rodopiar pelo espaço adentro até não ser mais que um pontinho luminoso à distância, é exemplar quanto à radical ex-centricidade a que estamos condenados. E tivesse Vergílio Ferreira assistido ao filme, talvez nos franzisse o sobrolho, entediado com a nossa vulgaridade deslumbrada, e acabasse levando a mão à estante para nos dar a ler uma das Cartas a Sandra…).
Assim, entre a criação do cosmos e a ameaça da nossa dissolução, com ou sem asteróides, com ou sem pandemias, desesperamos – e esperamos. As duas atitudes em simultâneo, numa coalescência absoluta, no abandono de si ao acidente do mundo. Seja porque a sensação de catástrofe ainda não se impregnara conscientemente em cada célula do nosso corpo – e aí seríamos todos Albertos Caeiros, “nascido[s] a cada momento / Para a eterna novidade do mundo” –, seja porque, no sentido inverso, a experiência do desastre se tornara um dado adquirido, momento de viragem para o salve-se-quem-puder, até não sobrar mais nenhum refúgio onde um eco de esperança nos devolva o som da nossa voz. De resto, e de rastos, estamos em condições de dizer em coro: “Estamos chateados e não temos ilusões” (Rui Knopfli). Entre entulhos de palavras, na presença simultânea de todas as imagens. Tudo opressivamente solar, sem uma nesga de sombra.
A poesia dos grandes bárbaros
Uma e outra experiências – o alvor da humanidade e o seu declínio – continuam longe de esgotar as reservas criativas da ficção, da mais laboriosa à mais foleira, tenha esta a forma que tomar: pirotecnia no cinema, fantasia distópica na literatura, saturação dos corpos na dança contemporânea. Para este efeito, e a título de exemplo, considere-se dois livros de um mesmo autor: A Guerra do Fogo (1909) e A Morte da Terra (1910), do francês de origem belga J.-H. Rosny Aîné, pseudónimo de Joseph Henri Honoré Boex (1856-1940). Um dos fundadores da ficção científica moderna, a par de Júlio Verne e H. G. Wells, Rosny Aîné entreteceu enredos fabulosos sobre o devir da humanidade, a partir do naturalismo de Zola e do entusiasmo com que lia as teses evolucionistas de Darwin e Lamarck. Acossado por essa “paixão poética pelas ciências”, segundo o próprio, alguns dos seus contemporâneos apelidá-lo-iam de “poeta da Pré-História”, o neto veria nele o “poeta do Cosmos”, e hoje está incluído no gabinete de curiosidades literárias que é a editora Sistema Solar, com tradução de Aníbal Fernandes.
A Guerra do Fogo dá um pulo à pré-história, quando o domínio das chamas determinava quem é que, entre as diversas tribos nómadas, detinha verdadeiramente poder. Logo a abrir, recuando-se oitenta mil anos no tempo (pelo menos, segundo os cálculos feitos pelo argumento da adaptação cinematográfica, em 1981, pelo cineasta Jean-Jacques Annaud), é na presença da horda dos “ulhamres” que se assiste à temível calamidade: “o Fogo tinha morrido”. E essa morte justifica a primeira contextualização patusca sobre os hábitos de vida desta horda primeva, as suas estratégias defensivas e imperativos alimentares, colocando no centro de todos os rituais a força misteriosa do Fogo: “O seu poderoso rosto afastava o leão negro e o leão amarelo, o urso das cavernas e o urso cinzento, o mamute, o tigre e o leopardo; os seus dentes vermelhos protegiam o homem contra o vasto mundo. Toda a alegria habitava perto dele. Tirava das carnes um cheiro apetitoso, endurecia a ponta dos chuços, fazia estalar a pedra dura […]. Era o Pai, o Guardião, o Salvador, no entanto mais bravio, mais terrível do que os mamutes quando fugia da gaiola e devorava as árvores” (p. 21).
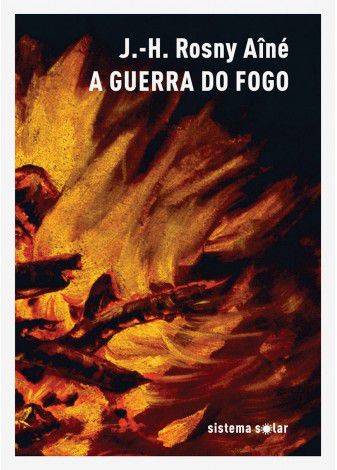
Capa do livro
Se há quem tome a ficção literária como exótico escapismo, esta saga em busca de lume vivo corrobora as expectativas, com o seu arsenal de enredos e intervenientes ariscos, “flor de uma vida com energia e veemência que imperfeitamente imaginamos” (p. 25). O guerreiro Naoh, “filho do Leopardo” e “emanação da raça”, tem como missão roubar o Fogo a uma horda inimiga, obtendo como recompensa, caso triunfe na demanda, uma das mulheres protegidas pelo ancião da tribo. Típica engrenagem romanesca, variação do épico de viagens. Uma acção matizada, com princípio, meio e fim, por encontros e situações incríveis: savanas com mamutes, tigres devorando megáceros, espécies proto-humanas em distintos estádios de evolução, como os “anões-vermelhos” e os “homens-de-pêlo-azul”. Há ainda espaço para rasgos contemplativos diante do ímpeto das águas ou da Lua subindo na noite, nos quais o olhar dos nómadas abdica inocentemente da função utilitária dos sentidos e se entrega à disposição desinteressada e reabilitante do espírito – o pressentimento dessa “trágica emoção”, segundo o narrador, “de onde nasceria, séculos e séculos mais tarde, a poesia dos grandes bárbaros” (p. 43). O direito ao prazer, no fundo, tanto mais genuíno quanto menor a consciência dele.
E se acaso o romance começa pouco a pouco a frustrar, tal é a obediência que presta aos constrangimentos tácitos do género, há no entanto súbitas irrupções do texto que põem a língua de fora às convenções da narrativa, mimando a primitividade dos seus heróis pré-históricos como autênticas festas da língua, com longas listas de exuberância vocabular. Como se àquele mundo de eras extintas se exigisse uma linguagem – ou um estilo – capaz de capturar, não tanto a verosimilhança provável do homo faber, mas o élan do impensável, a alegria furiosa de ver tudo o que existe pela primeiríssima vez, de um tempo ainda não pensável enquanto tempo e, por isso, eternamente durável, enquanto durar o prazer de enumerar pedras, plantas e bichos ao ritmo dos impulsos do corpo. Espécie de infinito, de alegria imanente à vida e à língua-pele que a capta:
“Gafanhotos vermelhos, pirilampos de rubi, carbúnculo ou topázio agonizavam na brisa; asas escarlates davam estalos quando se dilatavam; uma fumarola repentina erguia-se em espiral e achatava-se à luz da lua; havia chamas enroscadas como víboras, palpitantes como ondas, imprecisas como nuvens” (p. 102); “Por todo o lado pululava uma miúda população de lebres, coelhos, arganazes, ratazanas, doninhas e leirões… sapos, rãs, lagartos, víboras e cobras… vermes, larvas, lagartas… gafanhotos, formigas, carochas… gorgulhos, libélulas e nematóceros… zângãos e vespas, abelhas, vespões e moscas… vanessas, borboletas-caveira, piérides, nóctuas, grilos, pirilampos, besouros, baratas…” (p. 113).
E assim decorre “a juventude de um mundo que não voltará a existir. Tudo é vasto, tudo é novo…” (p. 224).
Ruínas humanas
Se queres encontrar o fogo, procura-o nas cinzas.
Provérbio assídico
Essa juventude auspiciosa, insciente quanto à natureza rudimentar dos seus anelos e costumes, é arrasada pelo cenário de holocausto nuclear que Rosny Aîné apresentaria no ano seguinte, 1910, com a publicação da novela A Morte da Terra. Se A Guerra do Fogo seduz pela vertigem das listas e das exibições lexicais, já A Morte da Terra, consideravelmente menor no número de páginas, parece escusar-se a descrições exaustivas ou a enredos rebuscados e, em lugar disso, detém-se com a circunstância que lhe serve de título: o acontecimento inequivocamente apocalíptico, o fim de todos os fins para a nossa espécie. A “derradeira idade”, a “era radioactiva”. Depois de todo o progresso técnico-científico ter sido responsável pelo dispêndio brutal dos recursos naturais, pela devassa do nicho sócio-ecológico, não resta mais da humanidade senão uns simples despojos, acantonados em pequenas ilhas. À volta, a crescer imparável, a imensa desolação do deserto.
Se no romance anterior o elemento do Fogo granjeava a dignidade edificante da maiúscula, símbolo maior das primeiras comunidades proto-humanas, em A Morte da Terra é à Água que se dirigem todos os apelos desesperados: severos abalos sísmicos ao longo dos últimos séculos têm sido responsáveis pela abertura de fissuras abissais nas planícies terrestres, o que, por arrasto, acabam por fender as reservas de água disponíveis. Extintas as variedades de fauna e flora, à excepção de umas certas aves cuja resiliência adaptativa lhes proporcionou uma racionalidade quase humana, “[a] terra deserta parecia mordida por uma prodigiosa charrua; conforme se iam aproximando, o oásis mostrava casas desmoronadas, a área deslocada, as colheitas quase afundadas, miseráveis formigas humanas a fervilharem no meio dos escombros…” (p. 47).

Como sublinha Aníbal Fernandes no seu prefácio, a imaginação corajosa de Rosny Aîné passa por descrever, em primeiro lugar, a consumação de um estado de calamidade: tudo correu irreversivelmente mal à biodiversidade do planeta, e nenhum deus ex machina é remotamente convocável para inverter a progressiva decadência. O ser humano assume-se, finalmente, como “o prodigioso destruidor da vida” (p. 131) – uma auspiciosa perífrase do que hoje se denomina como Antropoceno, o termo proposto em 2000 por Paul Crutzen, cientista holancês galardoado com o Nobel da Química, para designar a nova era geológica em que as acções humanas produzem efeitos devastadores no ambiente, superando as forças naturais.
Mais: n’A Morte da Terra não há qualquer excepcionalidade do humano em relação às restantes espécies, nenhum humanismo salvífico em nome do qual se possa reclamar um direito inalienável à vida, o desejo último de vingança por termos sido narcisicamente feridos (Vesalius, Copérnico, Darwin e Freud, esses conhecidos agentes desestabilizadores do humano enquanto falso centro do universo). Tanto que, como se depreende das últimas páginas, os últimos homens acabam por dar a vez, ao nível das hierarquias entre espécies, a umas estranhas mutações minerais que se alimentam de sangue humano.
Repare-se, ademais, que o visionarismo de A Morte da Terra é ainda mais surpreendente se pensarmos que o livro foi publicado quatro anos antes da Primeira Guerra Mundial, essa primeira constatação colectiva de que o humanismo civilizacional constitui, na verdade, um projecto falível e que “o abismo da História nos afecta a todos” (Paul Valéry, citado por Peter Sloterdijk em O Sol e a Morte, 2007, com o que diz ser “uma das duas ou três frases que definem o século em termos absolutos”, p. 92).
Resta esperar que a morte seja suave. Ainda que um vigilante, de nome Targ, tente convencer-se de ser a excepção, “a palpitar com os vastos desejos que durante cem mil séculos tinham feito viver a humanidade” (p. 88). Rebelando-se contra a “resignação lúgubre” dos demais, é com Targ que o leitor estreita uma inquietante solidariedade: afinal, Targ não é apenas um corpo a definhar, mas a vaga sombra de uma interioridade complexa, agarrando-se com um fervor desesperado aos seus “sonhos […] ridículos” e à “excessiva emotividade”. Prova irredutível, até ver, de que o humano, no mais desastroso dos cenários, é ainda promessa de excessos, de fuga aos eixos, de surpresas. O mundo ainda não acabou para Targ enquanto a sua consciência se tomar a si mesma como medida do mundo – e é a ele que o leitor dá a mão, palmilhando um terreno que se espera ainda extraordinariamente longe dos seus pés, como se a catástrofe mais não fosse que um isco para matizações artísticas e bazófias do imaginário. (Afinal, lê-se ficção científica, e o subgénero literário desprende-se, de súbito, das rasteiras categorizações com que os literatos adubam as horas: mais do que isso, ficção científica produz o efeito de um “ah” de alívio, semeando reticências entre um livro e a vida.)
Seja como for, o deserto cresce. E foi nestes termos que Rosny Aîné imaginou o deserto a crescer-nos pelo lado de dentro:
“De selecção em selecção, a raça adquiriu um espírito de obediência automática, e nesse ponto perfeita, com leis de ora em diante imutáveis. A paixão é rara, o crime nulo. Nasceu uma espécie de religião sem culto, sem rituais: a do temor e do respeito pelo mineral” (pp. 38-9).
“Nada havia, portanto, que agitasse a atonia dos Últimos Homens. Os indivíduos menos emotivos, que nunca tinham amado ninguém e nem a si mesmos se tinham amado, eram os que melhor fugiam ao marasmo. Estavam perfeitamente adaptados às leis milenárias e mostravam uma monótona perseverança, tão estranhos às alegrias como às penas. A inércia dominava-os, e ela mantinha-os defendidos contra a excessiva depressão e o impacto de inesperadas resoluções; eram os produtos perfeitos de uma espécie condenada.” (p. 88).
O estar-se bem só por se estar
Aprendo a ver. Não sei por que motivo, tudo penetra em mim mais profundamente e não se imobiliza no ponto em que se costumava extinguir. Tenho uma interioridade que desconhecia. Tudo agora para aí se encaminha. Não sei o que aí se passa.
Rainer Maria Rilke, As Anotações de Malte Laurids Brigge
E então, de uma forma humilde, umas quantas parcelas da última vida humana fizeram a sua entrada na Vida Nova.
J.-H. Rosny Aîné, A Morte da Terra
Life finds a way.
Do filme Jurassic Park (Spielberg, 1993)
São muitas as visões desapiedadas, reaccionárias até, fechadas em impasses obtusos, que Vergílio Ferreira dissemina no volume Escrever. O homem e a inconveniência de ter nascido, o declínio dos valores, o anything goes indigentemente pós-moderno, pós-humano, pó somente. Mais vale ceder à pulsão de morte, diz-nos o escritor a dada altura, e desejar que um meteorito nos caia em cima, como aquele que extinguiu os dinossauros do Cretáceo há sessenta e cinco milhões de anos. Mais vale isso. “Até que venha outra vez a destruição e Deus definitivamente se farte do brinquedo.” (Escrever, p. 153).
Mas esta mesma tentação suicida, que o escritor tantas vezes deixa azedar a reboque de ressentimentos antigos, dá lugar a outras passagens que, embora igualmente resignadas, deixam o atavismo trágico abeirar-se da beatitude, de uma disposição beatífica do olhar. Sim, o mundo é uma merda, a fome assassina, somos meros destroços, se tanto. E, mesmo assim, mesmo aí, na lama do banal, face a face com a insanável irredutibilidade dos fenómenos – uma forma de leveza acontece, uma pura exterioridade se levanta. “Aprendo a ver”, como o Rilke d’Os Cadernos de Malter Laurids Brigge (1910 – coincidentemente, o ano em que A Morte da Terra vem a lume). Aprendo a ver. Não o ver da objectividade mundana, detido entre as coisas e a sua contabilidade; mas o ver que assiste ao entre das coisas, aos intervalos vazios, aos hiatos impreenchíveis. Ver(-se) entre. Não anda longe daquilo que Jacques Rancière considera “um modo suspensivo da palavra”, que é o que torna inseparáveis a literatura e a democracia: uma e outra, dois modos de abrir o ser à heteronomia, ao dissenso, à fissura. Dois modos de um eu devir sempre em excesso, de nunca coincidir inteiramente com o corpo que tem, a identidade que lhe dão, os limites que lhe impõem. Suspensão, multiplicidade, dissemelhança: é a literatura enquanto “experiência do inabitar” (Nas Margens do Político, 2014, p. 119), que nos torna estrangeiros na própria língua, como dizia Proust acerca dos grandes livros.
“É um abandono feliz de nós”, desdobra o escritor português, “uma serenidade que nos aproxima da verdade simples de o mundo existir e em que mesmo a morte nos não pode perturbar” (Escrever, p. 211). “O estar-se bem só por se estar”, acrescenta depois (p. 217). Amiúde, Vergílio Ferreira fala-nos de uma pequena ave, aqui e ali uma flor, um passeio à beira-mar, uma carta escrita à mão. Saber-se na companhia de alguém. Fala-nos da pura contingência do real: ave, flor, oceano, escrita – relâmpagos de existência, clarões súbitos. O ser que se vê excessivamente fora de si, à margem de si, do que é, ou do que há. E a indefectível certeza de que morremos para que tudo isso aconteça – ave, flor, mar, escrita – sempre, e de cada vez, como a última vertigem.
Na visão crepuscular de Rosny Aîné, quando Targ dá o seu “último soluço”, a solidão dos derradeiros instantes abre a personagem a um relâmpago de clarividência: de repente, assiste dentro de si à aparição da vida, ao caldo primordial “onde uma vida inconsciente e insensível fervilhava”, percorrendo, num parágrafo assombroso, a evolução que vai dos primeiríssimos corpúsculos às comunidades dos últimos homens. “Até chegar a si”, reflecte Targ, “qualquer coisa que tinha vivido no mar primitivo, nos limos nascentes, nos pântanos, nas florestas, no seio das savanas e nas inúmeras cidades do homem, nunca fora interrompida… E imagine-se! Ele era o único homem a palpitar sobre a face da terra que se tinha tornado imensa!…” (A Morte da Terra, p. 131). Solidão essencial, frémito de beleza, distracção de si: Targ espraia-se num último abraço ao universo, ficção íntima de uma unidade há muito perdida, quando pedras, árvores e rios eram contemporâneos dos deuses. Prestes a morrer, é pelo amor à vida que Targ se torna infinito. Imaginando, alucinando, excedendo-se, num abandono feliz de si.
Que nos caia o asteróide em cima, então. E que dê à vida a hipótese de acontecer de novo, deixando-a a pairar sobre as coisas, insensíveis aos nomes que lhes damos e a esse rol de “cem mil e vinte e três / incertezas metafísicas do costume” (Rui Knopfli). A definitiva “liberdade livre” de uma poesia sem poemas – e sem poetas, pois que, fiéis à espécie, triunfam tanto nos bons sentimentos como nas valas comuns. Que o meteorito seja implacável contra a ditadura do tempo e o presente totalitário, que nos vedam os horizontes a qualquer desejo, ideia ou projecto de futuro que não seja a catástrofe d’A Morte da Terra e dos seus derivados macroeconómicos, medidas de austeridade & quejandos. Que seja implacável contra o que nos compele a ver a ave, a flor, o mar ou a escrita como uma frivolidade anacrónica, um desperdício de tempo, mero repasto de literatos ociosos, e que, não levando a lado nenhum, nem tão pouco se apercebe de que nenhures também é destino. E um dos mais recomendáveis, ao abrigo das indústrias do lazer: porque é onde menos nos esperam, onde mais livres podemos estar, traindo todas as imagens. Falhando mais, e de novo, e melhor. Sem pedir licença, nem desculpa, à dignidade de existir.
De resto, se não for pedir muito, a insensatez da alegria. Qualquer coisa assim:
“Digamos então que a maior ameaça do mundo é o abandono à força da vida. Ela rompe a direito e leva tudo à frente. E é isso afinal que nos sustenta na ilusão da eternidade. Um familiar ou um amigo que morre deixa em nós uma estupefacção breve. Porque enterrado o morto, a vida irrompe em nós como se nada fosse interrompido. Uma pedra num ribeiro a interromper as águas que logo adiante se juntam. A maior ameaça da vida é a vida. Mas ela é o nosso benefício para a morte existir menos. Ou não existir.” (Escrever, p. 113).

Fotografia de Diogo Martins
Livros consultados:
Aîné, J.-H. Rosny, A Guerra do Fogo, tradução e apresentação de Aníbal Fernandes, Lisboa, Sistema Solar, 2015.
Rosny aîné, J.-H., A Morte da Terra, tradução e apresentação de Aníbal Fernandes, Lisboa, Sistema Solar, 2019.
Ferreira, Vergílio, Escrever, edição de Helder Godinho, Lisboa, Bertrand, 2001.
Knopfli, Rui, Uso Particular (Poemas Escolhidos), prefácio de António Cabrita, Coimbra, Do Lado Esquerdo, 2017.
Nunes, Rui, O Anjo Camponês, Lisboa, Relógio D’Água, 2020.
Rancière, Jacques, Nas Margens do Político, tradução de Vanessa Brito e João Pedro Cachopo, Lisboa: KKYM, 2014.
Rilke, Rainer Maria, As Anotações de Malte Laurids Brigge, tradução de Maria Teresa Dias Furtado, Lisboa, Relógio D’Água, 2003.
Sloterdijk, Peter & Heinrichs, Hans-Jürgen, O Sol e a Morte. Investigações Dialógicas, tradução de Carlos Correia Monteiro de Oliveira, Lisboa, Relógio D’Água, 2007.
Stiegler, Bernard, Da Miséria Simbólica – I. A Era Industrial, trad. Luís Lima, Lisboa, Orfeu Negro, 2018.


