Entrevista. Colson Whitehead: “Espero que as próximas gerações consigam reverter alguns dos erros que a minha geração e as anteriores cometeram”

“A Estrada Subterrânea”, em 2017, e “Os Rapazes de Nickel”, em 2020, permitiram que Colson Whitehead entrasse para o grupo altamente restrito de autores distinguidos por duas vezes com o Prémio Pulitzer de Ficção. Nestas duas obras, ambas editadas em Portugal pela Alfaguara, Colson Whitehead trouxe-nos histórias que fazem parte dos Estados Unidos, com o seu passado de escravidão, de negligência, de abuso de poder, de racismo estrutural, segregação racial e injustiça. Agora, Colson Whitehead traz-nos “Ao ritmo do Harlem” (igualmente editado pela Alfaguara) e foi este o mote que nos levou a falar com o autor em Lisboa, onde esteve ao abrigo da iniciativa Meet the Author promovida pela FLAD.
Ao longo da sua carreira, e especificamente com “A Estrada Subterrânea” em 2017 e “Os Rapazes de Nickel” em 2020, tem escrito sobre o racismo e sobre o quão institucionalizado está ou esteve na História dos Estados Unidos. Agora, com “Ao Ritmo do Harlem”, parece ter mudado um pouco o tema, mas já não é a primeira vez que o faz.
Não quero estar sempre a fazer o mesmo. Antes de “A Estrada Subterrânea” escrevi um livro de memórias sobre o World Series of Poker [The Noble Hustle: Poker, Beef Jerky, and Death de 2015, não editado em Portugal], antes desse escrevi um romance sobre o apocalipse zombie e antes desse um romance sobre crescer nos anos 80. Sempre que escrevo algo, fico normalmente muito cansado desse tema e faço algo diferente. Não é algo planeado, é só se vou fazer alguma coisa, para quê fazer o mesmo?
Então não há nada específico que aconteça no mundo que o faça mudar de tema, só “acontece”?
Sim, é isso. Embora este pareça ser um bom ano para fazer um romance de zombies.
Neste livro, “Ao ritmo do Harlem”, falamos de uma loja de móveis que faz revenda — o termo “fence” em inglês é de difícil tradução em português.
Sim, parece não haver uma palavra específica. É um local que aceita bens roubados e quase que os “lava” para que possam ser reintroduzidos na sociedade. Se comprares uma televisão de alguém que recebeu mercadoria de ladrões, então provavelmente estás a comprar uma televisão roubada, que volta assim à sociedade normal. Então a personagem principal [o Carney] ajuda a que os bens roubados voltem a entrar em circulação.
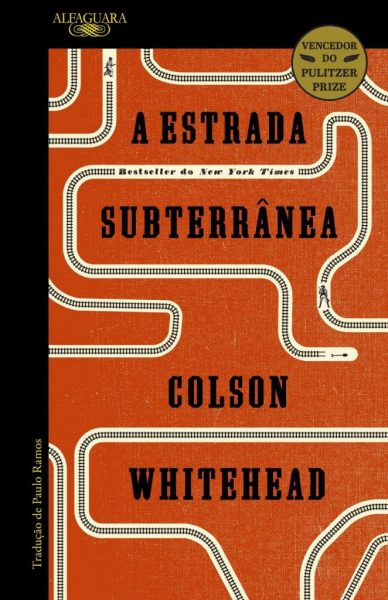
Como uma loja em segunda mão ou de penhores?
Sim, acho que lojas de penhores vendem mercadoria roubada, mas a um nível mais elevado, como colares de diamantes. Mas aqui a um nível mais baixo, por exemplo, se roubares uma joalharia e tiveres 2 milhões de dólares em jóias, vais a uma “fence” que te paga 10 ou 20 cêntimos por dólar, e depois coloca-os no comércio de diamantes internacional. Mas sim, é ilegal.
Harlem foi “criado” pelos holandeses e tem sido o berço de muitas culturas. Vejo a loja de mobília retratada quase como uma metáfora, juntamente com as suas histórias, dos séculos e das muitas vidas que por ali passaram.
Essa é a tua interpretação. Mas o Harlem é um local de passagem das muitas pessoas novas que se instalam ali. Os holandeses ocuparam a ilha de Manhattan, depois os colonos ingleses assumiram o controlo sobre a mesma. No final do século XIX começaram a ocupar a parte de Upper Manhattan e na década de 1880 começaram a construir linhas de metro e habitações para uma população que não havia chegado ainda. Esta primeira população é composta por alemães, irlandeses, judeus. Os italianos nos anos 1920 e depois os americanos negros, originários do sul, começaram a ocupar esta zona. Os alemães e os italianos mudaram-se depois para os subúrbios ou para a baixa de Manhattan. Harlem, como o conhecemos, é assim há cerca de 150 anos, mas ainda há pessoas a chegar à cidade. Em alguns casos, são os bisnetos dos alemães que chegaram há dezenas de anos e que estão agora a gentrificar Manhattan.
“Ao ritmo do Harlem” foi escrito um pouco antes da pandemia…
Sim, escrevi as últimas 60 páginas em Março, Abril e Maio. Terminei em Maio.
É uma pergunta ingrata, mas teria escrito de uma forma diferente agora?
Eu entro muito na personagem e quando estou a escrever um livro cómico ou um romance sério, eu mergulho na personagem e não sou permeável ao que está a acontecer no mundo. Acabei agora o segundo livro com o Ray Carney como personagem — é parte de uma trilogia — e acho que este segundo livro, inteiramente escrito durante o confinamento e nesse primeiro ano e meio de COVID, não tem grande coisa de pandemia.
“Ao ritmo de Harlem” será uma trilogia, era algo que estava pensado de antemão?
Estava a meio do primeiro livro e estava a pensar fazer mais histórias com o Carney, por isso fez-me sentido fazer um segundo livro, e depois pensei num terceiro, porque acompanhar Nova Iorque nos anos 60, 70 e 80 pareceu-me lógico. Eu estava basicamente a meio do livro quando percebi que queria continuar.
Então vamos acompanhar o Carney?
De 1959 aos anos 80. Os filhos crescem, a mulher não tem emprego, a cidade muda. Nova Iorque nos anos 70 é muito diferente de Nova Iorque nos anos 60, os índices de crime estão no máximo, a cidade está falida. É um cenário diferente para as suas aventuras. E nos anos 80 a cidade está ainda mais diferente.
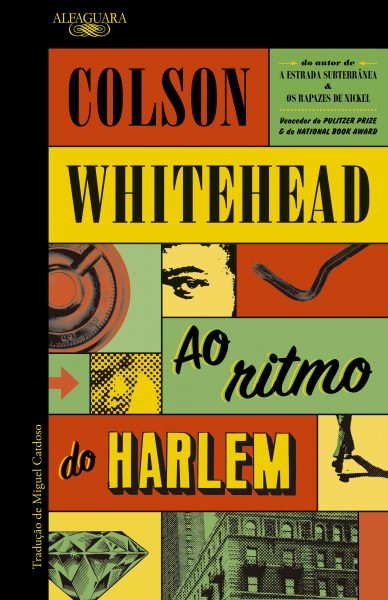
O tema parece ser “mais leve” do que em “Os rapazes de Nickel”.
Sim, há livros que são mais humorísticos, outros que são mais sérios, depende do que me é mais atrativo. É evidente que num livro sobre escravatura não há grande espaço para piadas parvas. No “Ao ritmo do Harlem”, há muitas personagens divertidas.
Esta trilogia tem a pretensão de fazer um retrato de Nova Iorque?
Sim, Nova Iorque é uma personagem importante e desempenha definitivamente uma parte relevante da história.
E é uma fonte inesgotável de histórias.
E para mim ainda não se esgotou, ainda estou a receber histórias diferentes dos anos 60 e 70 que posso usar para a minha personagem principal. Tem sido um trabalho interessante, o não ter nada sobre um acontecimento, pesquisar e descobrir de que forma o posso usar na história. Desvendar parte da história de Nova Iorque que eu não conhecia tem sido uma boa parte do processo.
O Colson sempre viveu em Nova Iorque, existe alguma parte da sua história de vida? Todos nós temos aquela pessoa ou aquela referência da nossa infância ou de um ou determinado período.
Já escrevi alguns livros com base em Nova Iorque e todos eles têm um ângulo diferente ou uma opinião sobre a cidade. E gosto de explorar formas diferentes de conhecer ângulos distintos da cidade. Mas para a personagem deste livro e desta trilogia, não me inspirei em ninguém em especial, só na ideia de “fence” e de um intermediário, que tem um pé na sociedade local e outro pé no mundo do crime. De que forma é que isso funciona? Quando queremos subir o elevador social e queres subir à classe média, mas há uma voz na tua cabeça que é criminosa e te diz para fazer coisas erradas. É uma pessoa muito dividida e é divertido escrever por esse motivo.
Num discurso há uns anos, o Colson disse a recém-licenciados que provavelmente dariam por si a questionar-se o que viria a seguir nas suas vidas e no mundo. O Colson tem alguma ideia do que virá a seguir?
Oh, o mesmo. As forças do bem poderão conseguir vencer, mas a vitória será breve porque as pessoas do mal continuarão a miná-las. A guerra entre o bom e o mal continuará, as pessoas continuarão a sofrer. A sociedade irá melhorar lentamente em determinados níveis, mas grande parte das pessoas não terá benefícios. Nos Estados Unidos, as coisas pioraram com um Supremo Tribunal reacionário, a ignorar as alterações climáticas, a reformular as leis de voto, a repelir as leis de aborto, a não implementar qualquer lei concreta contra as armas. E espero que as próximas gerações consigam reverter alguns dos erros que a minha geração e as anteriores cometeram.
O Colson é assumidamente pessimista. Numa entrevista ao The Guardian disse que “as pessoas inventam todas as formas de odiar outras”…
É assim que as pessoas são.
“Ao ritmo do Harlem” de Colson Whitehead, com tradução de Miguel Cardoso, tem a edição da Alfaguara e está já disponível nas livrarias.

