Entrevista. David Marçal: “Os países não têm ciência porque são ricos. Os países são ricos porque têm ciência”

David Marçal é um dos rostos da comunicação e divulgação de ciência em Portugal. Licenciou-se em Química Aplicada pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e doutorou-se em Bioquímica no ITQB – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, pertencente à mesma Universidade. Desde muito cedo tem mantido intensa actividade de divulgação e comunicação de ciência, algo que terá começado ainda quando era estudante. Escreveu para peças de teatro e espetáculos de comédia enquadrados com uma forte componente científica, trabalhou nas Produções Fictícias e promoveu a divulgação e comunicação de ciência feita com humor, e acima de tudo factos e espírito crítico.
Mantém uma dupla com o físico Carlos Fiolhais, que já rendeu obras de divulgação como “Pipocas com Telemóvel e Outras Histórias da Falsa Ciência”, “Darwin aos Tiros e Outras Histórias de Ciência”, “A Ciência e os Seus Inimigos” e “Apanhados pelo Vírus”, publicadas pela Gradiva. Actualmente ambos coordenam o podcast “Mais Lento do Que a Luz” do jornal Público que entrevista personalidades enquadradas no universo científico. David Marçal publicou ainda “Pseudociência” e “Cientistas Portugueses” pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e muito recentemente “Como Perder Amigos Rapidamente e Aborrecer as Pessoas com Factos e Ciência” pela Gradiva, baseado na sua coluna quinzenal no jornal Público com o mesmo nome. Recebeu-nos no passado dia 25 de Março em sua casa, onde nos concedeu esta entrevista.
Licenciou-se em Química Aplicada, doutorou-se em Bioquímica, fez investigação e teve também uma breve passagem pela indústria. Sempre manteve, desde muito cedo, uma forte ligação à escrita, com diversos projetos de comunicação em revistas e em jornais, que durante vários anos foram consolidados com a sua atividade de estudante e de investigador. Quando é que surgiu o momento em que decidiu abandonar o laboratório de investigação para se dedicar profissionalmente à comunicação e divulgação de ciência?
Esse momento aconteceu no final do meu doutoramento, em Bioquímica Estrutural. Eu já me dedicava à comunicação de ciência, mas como atividade secundária. Ao longo de todo o meu doutoramento, escrevi no Inimigo Público que era o suplemento satírico do jornal Público [agora suplemento do jornal Expresso], onde escrevia piadas sobre ciência quase todas as semanas. Isso foi fundamental para mim porque o ciclo do doutoramento é longo, assim como, também, o ciclo da publicação de um artigo científico. Começamos a trabalhar num artigo e, se calhar, só passado um ano é que ele está publicado. No Inimigo Público havia uma recompensa imediata, eu escrevia à terça-feira e à sexta-feira já estava publicado. Isso ajudou-me a manter a sanidade mental durante o doutoramento, ou pelo menos a manter o sentido de humor. Quando terminei tinha várias opções à minha disposição. Podia continuar a fazer o que estava a fazer, em investigação em Cristalografia de Raios X que é uma área muito específica. Nessa altura o que fazia sentido para mim era ir para o estrangeiro continuar a minha carreira.
Parte do meu doutoramento já tinha sido feita no estrangeiro, na Universidade de York, no Reino Unido, e achava que o pós-doutoramento devesse ser feito também no estrangeiro. Já tinha estado num dos mais importantes grupos de Cristalografia de Raios X em Portugal, e para dar o próximo passo teria de ir fazer algo diferente. Na altura, outras coisas cruzaram-se comigo. Cruzou-se comigo a perspectiva de ter uma família. A mãe dos meus filhos já tinha passado também um longo período no estrangeiro e não estava com vontade de ir para fora. Eu próprio gostava muito da vida que tinha cá, tinha um estilo de vida muito bom, com muitos amigos. Fazia muito desporto e aproveitava muito o nosso bom tempo. Apercebi-me, na altura, que havia uma área de pós-doutoramento que desconhecia, até o momento em que a descobri, porque foi mesmo uma descoberta [risos]! Essa área de pós-doutoramento, que na altura existia na FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia], chamava-se Promoção e Administração da Ciência e Tecnologia. Resolvi, então, fazer um projeto de pós-doutoramento que conciliasse os meus interesses: a ciência, a escrita e também o humor.
O uso do humor foi sempre uma característica sua enquanto comunicador de ciência. Fez parte das Produções Fictícias, foi organizador do projecto de stand-up Cientistas de Pé, que depois mais tarde rendeu um livro, Toda a Ciência (Menos as Partes Chatas). Sempre encarou o humor como uma ferramenta útil para levar a ciência às pessoas e ao público mais leigo?
Sim, e não existe uma receita única! Há pessoas diferentes, muitas estratégias, mas considero que o humor é uma excelente estratégia de comunicação. Não quer dizer que esteja sempre a escrever piadas, mas, até pela experiência que tenho, gosto e sou um apreciador do humor. Uma boa parte da televisão que vejo, embora não seja muita, são conteúdos humorísticos. Sou um bocadinho exigente, não vejo qualquer coisa. Gosto do humor inteligente e essa é a minha exigência. O humor dá-nos uma visão diferente do mundo e é isso que tem a graça. Claro que depois há outras formas de humor que envolvem, por exemplo, a emocionalidade. Tenho pouca tolerância ao humor estúpido, mas sou um grande apreciador do humor inteligente [risos]. É uma ferramenta de comunicação que aprecio e cultivo.

Também é conhecido, desde há vários anos, pela dupla que mantém com o físico Carlos Fiolhais, e que rendeu diversas obras de divulgação de ciência. O segredo do sucesso da dupla está no facto de serem duas pessoas com formações científicas distintas ou mais por serem duas pessoas que apreciam o humor e que gostam de usar o humor para divulgar ciência?
Também conta! Conheci o Carlos Fiolhais quando concorri a um programa no Público chamado Cientistas na Redacção. Interrompi o meu doutoramento em 2006 para passar três meses no Público a trabalhar como jornalista de ciência, na secção de ciência. Na altura, o Carlos Fiolhais fazia parte do júri e teve logo imensa graça. Ele disse coisas muito engraçadas na entrevista, que era uma espécie de entrevista de emprego, e foi muito simpático. Depois, quando tomei aquela minha decisão de concorrer a uma bolsa de pós-doutoramento, em comunicação de ciência, enviei-lhe um e-mail às sete da tarde a perguntar se ele podia ser o meu supervisor. Um investigador de pós-doutoramento precisa de um supervisor, pois ainda não é um investigador totalmente autónomo. Enviei-lhe esse e-mail, talvez às sete da tarde, e no outro dia, às nove da manhã, tinha a resposta a dizer que sim! Ele tinha-me conhecido só naquele contexto dos cientistas da redação. E isso acaba por ser um sinal da grande capacidade de concretização do Carlos. Ele é um concretizador [risos]!
Depois tivemos a felicidade, ao longo da nossa colaboração no meu pós-doutoramento, de também escrever o nosso primeiro livro, . Temos uma diferença de idades considerável mas, embora tenha mais vinte anos do que eu, ele é um amigo. Escrevemos bem a quatro mãos, o que não é fácil. Há poucos livros em co-autoria. Há muitos livros com múltiplos autores que têm capítulos escritos por pessoas diferentes. Mas livros em co-autoria, ou seja, as mesmas linhas escritas por duas pessoas, é muito raro. Podemos pensar na Ana Maria Magalhães e na Isabel Alçada da colecção Uma Aventura, mas não há muitos exemplos [risos].
A razão pela qual penso que isto resulta é porque nós conseguimos escrever bem a quatro mãos. A escrita tem sempre algo pessoal, as pessoas querem pôr algo de si no texto, seja uma mensagem, seja um estilo, seja uma piada. Isso tem sempre algo um bocadinho narcísico e acaba por ser difícil. Até a figura do editor, que se põe a alterar o que nós escrevemos, é algo um pouco confrontacional, mas nós aceitamos quando aquilo que escrevemos inicialmente não estava bem. Acho que temos os dois a sorte de termos uma interacção mais construtiva do que combativa, e mais colaborativa do que confrontacional. Conseguimos levar as primeiras versões ou as versões sucessivas de um texto para os níveis seguintes, não ficando encravados num debate sobre o que é que deve ser o texto, mas acrescentando novas camadas, novas correcções. Conseguimos acrescentar sobre aquilo que o outro propôs em vez de combater, e isso não é fácil. Não é fácil encontrar uma afinidade autoral assim, não tenho esta facilidade de escrever assim a quatro mãos com outras pessoas. Acho que foi uma questão de sorte, resultou e continuámos [risos]! Estamos alinhados em muitas ideias e reconhecemos um ao outro, mutuamente, qualidade e pertinência naquilo que propomos. E o facto de ter resultado e de termos vários livros publicados em conjunto, já temos vários livros publicados, penso que mostra isso, que somos uma boa equipa autoral.
Ambos coordenam um podcast no Jornal Público, “Mais Lento Do Que a Luz”, que acaba também por englobar entrevistas a pessoas enquadradas no universo científico. Também fez entrevistas a diversas personalidades quer a nível internacional, quer também a nível nacional, como está no seu livro Cientistas Portugueses, que é uma peça que aborda entrevistas a cientistas portugueses, muitos deles em condições precárias. Apesar de termos partido de um ponto em que tínhamos quase nenhum investimento na ciência para chegarmos a ter algum, porque razão é que este investimento continua a ser tão baixo em comparação à média da União Europeia que está nos 2.2%? De momento estamos nos 1.7%, e há países que superam os 3%.
É uma boa pergunta. Realmente nós fizemos um percurso grande. Nos anos 80 o investimento era praticamente nenhum. Nessa altura nós gastávamos algo como 0.27% do PIB. Agora gastamos à volta de 1.7%, ainda abaixo dos 2%, sendo que mais de metade deste investimento é privado. Também é preciso dizer que o PIB cresceu e o investimento em valor nominal na ciência cresceu também. É preciso também referir que existe um objectivo na União Europeia, subscrito pelos vários governos portugueses ao longo dos últimos anos, de atingir os 3% do PIB até 2030. Esse objetivo parece bastante longe, até porque a União Europeia está nos 2.2%. Estamos, por exemplo, atrás da China, que tem 2.4%, e atrás dos Estados Unidos, que têm 3.5%.
Não é só Portugal que está atrás. A Europa está atrás dos restantes blocos mundiais, das grandes potências. Além do mais, temos uma Europa a múltiplas velocidades. Neste momento, por exemplo, a Alemanha já gasta mais de 3% do PIB. Isto não é preciso dizer que há 20 anos a Alemanha já gastava mais do que nós gastamos agora, em percentagem do PIB, para além de que o PIB da Alemanha é maior que do que o nosso. Há claramente uma falta de investimento na ciência que não é só em Portugal, é na Europa como um todo. Portugal realmente teve um crescimento rápido, partiu muito de trás e recuperou alguma coisa. Chegámos a um ponto em que ainda estamos atrás apesar de tudo o que recuperámos, pois tivemos uma herança pesadíssima. Tivemos a herança do Estado Novo, em que a ciência era absolutamente incipiente, e tivemos, se quisermos ir mais atrás, uma herança também muito pesada do século XIX. No século XIX, tivemos uma guerra civil e tivemos a independência do Brasil. Na passagem para o século XX tínhamos quase 80% de analfabetismo, ao passo que países como o Reino Unido tinham à volta de 3% nessa altura. Tínhamos qualificações baixíssimas em relação aos outros países da Europa. Durante muito tempo tivemos apenas uma universidade, que é a Universidade de Coimbra, que agora tem mais de 700 anos. Quando chegámos ao 25 de Abril ainda éramos um país de baixas qualificações.
Com a entrada na Comunidade Económica Europeia [CEE] há de facto um investimento maior na ciência. Houve uma grande recuperação, é preciso que se diga. Mas o atraso era mesmo muito grande. A verdade é que não há um aposta política maior na ciência. A Europa, no seu conjunto, também tem uma aposta muito incipiente, embora haja algumas potências ou alguns países com investimento bem mais significativo, como os países nórdicos e do centro da Europa. Isso também contribui para a Europa a várias velocidades que nós temos. Os países não têm ciência porque são ricos. Os países são ricos porque têm ciência. E mesmo agora, com o atual paradigma mais focado na defesa, a ciência tem um papel fundamental. Basta pensar que o Winston Churchill, no final da Segunda Guerra Mundial, acabou por fazer um tremendo reconhecimento ao papel que a ciência teve na vitória dos aliados, em particular sobre a Alemanha Nazi.
O conhecimento científico dá uma vantagem tecnológica. Há vários autores que defendem esta relação entre a ciência e a liberdade, porque a ciência confere às sociedades a prosperidade para se manterem livres. O reverso da medalha é que a ciência também se dá melhor nas sociedades mais livres. A ciência precisa de liberdade para existir, é intrinsecamente anti-autoritária. Na ciência não tem razão quem está acima da hierarquia, mas sim quem apresenta provas. Isso é muito subversivo para uma sociedade autoritária. Depois desta volta toda acho que é difícil explicar porquê não há uma aposta maior. Talvez porque o caminho já percorrido possa dar alguma sensação de suficiência. Talvez porque Portugal, de facto, tenha muitas necessidades noutros campos como nos apoios sociais e no combate à pobreza. Mas parece-me que para os desafios do presente e do futuro, tanto de Portugal como da Europa, não se consegue perspectivar um modelo de desenvolvimento que não seja só sustentável mas também competitivo. Que não tenha só uma forte componente científica e um forte investimento na ciência.
É preciso também dizer que confiar exclusivamente ou apostar as fichas todas no investimento privado é uma coisa que não resulta em lado nenhum. Obviamente que o investimento privado na ciência é necessário. A investigação na academia, a investigação pública, é tipicamente investigação fundamental para obter conhecimento. A investigação do sector privado tende a ser investigação mais dirigida para as aplicações. Ou é investigação aplicada, tendo já em vista uma aplicação, ou é mesmo desenvolvimento e tem como fim criar essa aplicação, seja um produto ou um serviço. São ondas necessárias, mas a investigação aplicada não existe sem a fundamental. Nem há pessoas para fazer a investigação aplicada se não houver esta grande escola que é a investigação fundamental. Não havendo conhecimento fundamental, também não há conhecimento para aplicar. A investigação aplicada é uma escada que se põe em cima de uma montanha, e é preciso estar lá a montanha. Por acaso, tenho um bocadinho de experiência também na investigação focada no desenvolvimento. O meu primeiro emprego a seguir a licenciatura foi numa fábrica na qual que tinha de criar processos para desenvolver princípios farmacêuticos ativos. Foi pôr esta escada, baseada na investigação fundamental, para criar, neste caso, medicamentos que pudessem ser utilizados. Mas as duas coisas são muito importantes.
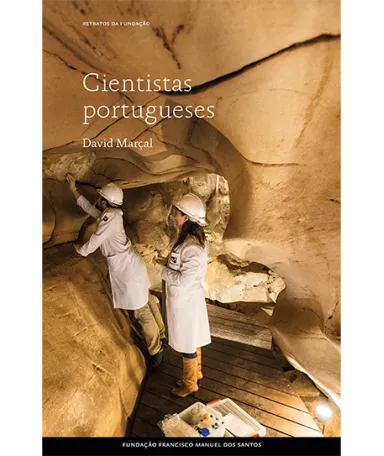
É também conhecido por ser um acérrimo defensor da ciência, algo que se verifica na sua coluna quinzenal do Jornal Público, “Como Perder Amigos Rapidamente”, que rendeu recentemente um livro. É um título irónico porque o que pretende é mostrar factos e evidências científicas a pessoas que tendem a ir por outros caminhos como os da pseudociência. A pseudociência faz uso de um lado emocional acompanhado de um argumento de autoridade e tem, certamente, um papel mais fácil do que a ciência que utiliza factos e uma componente extremamente racional. Numa altura em que temos um acesso fácil à informação, as pessoas gostam de desacreditar a ciência, não por falta de formação académica, mas apenas porque gostam de colocar tudo em causa e achar que estamos a ser todos enganados em vez de continuar a confiar na ciência?
Percebo o que quer dizer. Há de facto uma mudança até daquilo que é um divulgador científico que até é recente. Se há 10 ou 15 anos eu poderia com clareza identificar-me como um divulgador de ciência, agora talvez a expressão mais correcta seja um defensor da ciência. Há algo de surpreendente nisso, de como surgiu um movimento anti-ciência nas sociedades ocidentais nas últimas décadas. O Carl Sagan começou por apontar isso no seu penúltimo livro, Um Mundo Infestado de Demónios. Este é um livro muito diferente dos livros que o tornaram mais famoso, como o Cosmos. São livros de divulgação científica pura e dura, em que se faz um apelo à beleza do Universo, à espetacularidade do conhecimento científico acerca do Universo, e por vezes com críticas bastante contundentes à astrologia que é a pseudociência mais próxima da astronomia. Mas o Carl Sagan, no seu penúltimo livro, tem um tom muito pessimista ao dizer que vivemos todos numa sociedade inteiramente baseada na ciência e tecnologia, mas que ninguém sabe quase nada de ciência e tecnologia. E que essa mistura, de poder e ignorância, um dia iria explodir-nos na cara. Isto foi algo premonitório. O Carl Sagan faleceu pouco tempo depois deste seu livro, e isso já era uma indicação.
Existe o paradoxo de que vivemos numa sociedade inteiramente baseada na ciência e tecnologia mas onde muito pouca gente sabe alguma coisa de ciência e tecnologia. Esta ignorância não é tanto acerca de aplicações fabulosas da ciência, como por exemplo os telemóveis ou os medicamentos que as pessoas conhecem, mas por vezes têm um certo desligamento. As pessoas desligam a tecnologia da ciência que lhes dá origem, num certo acto de dissonância cognitiva. Muitos movimentos anti-ciência utilizam todas as aplicações da ciência, que são a internet, os telemóveis, os computadores. Essa ciência, que proporciona esses dispositivos tecnológicos, eles não questionam. Eles questionam só certos aspectos da ciência com os quais embirram, como por exemplo as vacinas [risos]. Há aqui uma característica do desconhecimento da ciência. Não é só o desconhecimento de aplicações específicas da ciência que as pessoas conhecem, mas sim do desconhecimento do processo científico. Um desconhecimento do método que lhe dá origem, de como é que nós acrescentamos novo conhecimento ao conhecimento que já existe. Isso é largamente desconhecido e tem muito a ver com a representação da ciência no espaço público que é essencialmente representada pelos resultados. É representada por um novo medicamento, por um dispositivo tecnológico novo, por uma sonda que consegue alunar na Lua. Acaba por ser representada mais pelos resultados, como se eles aparecessem magicamente. E o processo que lhes dá origem é muito oculto. O estranhamento do público com a ciência parte desta incompreensão do processo científico.
Mais recentemente, há dois fenómenos aos quais se apontam sempre o dedo. Um deles são as redes sociais, que permitem, de certa forma, amplificar o disparate. Permitem que os grupos terraplanistas atinjam uma dimensão à volta do globo. Há terraplanistas all around the globe [risos]! Isso tem a ver com a característica das redes sociais que é a falta de curadoria. Antigamente uma pessoa, para ter algum alcance, tinha de passar por o critério de um editor, de um curador. Podia ser bom ou mau mas havia sempre algum critério. Agora tudo isso é substituído pela popularidade, pela capacidade de atrair interação nas redes sociais. Aquilo que realmente atrai interação não é necessariamente o mais rigoroso ou o mais correcto, e isso é um fenómeno. O outro, que também é muito interessante e relevante, embora de interessante não tenha nada, é ter havido um afastamento das lideranças políticas das linhas científicas do discurso científico em grandes países ocidentais. Já havia pontualmente. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca alinharam com o protocolo de Kyoto. Com Bolsonaro e Trump durante a pandemia de Covid-19, esse distanciamento entre a ciência e as lideranças de grandes países ocidentais acabou por se tornar mais evidente e mais claro. E isso também acaba por ser uma novidade.

O facto de termos cursos superiores em medicinas alternativas e terapias não convencionais, e de termos remédios homeopáticos que não são sujeitos sequer a ensaios clínicos como os medicamentos, faz com que normalizemos a pseudociência em vez de questioná-la?
Sim, sem dúvida. Nós temos em Portugal uma legislação de terapias alternativas que se chama terapêuticas não convencionais. Essa legislação é absurda porque parte do princípio que funcionam. Há uma velha anedota sobre isto. Como é que se chama uma medicina alternativa que provou funcionar? Medicina! Por isso, esta legislação serve essencialmente para dar alguma credibilidade a tratamentos que não conseguem demonstrar a sua eficácia e segurança de acordo com os critérios normais dos medicamentos normais. E isso obviamente é negativo porque quando temos um tratamento alternativo, que tem uma cédula profissional passada pela Administração Central do Sistema de Saúde, isso transmite a mensagem errada ou público de que aquela terapia alternativa tem credibilidade ou tem qualquer prova de eficácia. É um bocadinho equivalente à direcção-geral de veterinária passar certificados, cédulas profissionais, a amestradores de dragões [risos]. Não faz sentido habilitar certas pessoas a exercerem uma medicina que não funciona, e outras não.
Um caso paradigmático disso é a homeopatia, comprimidos que são bolinhas de água e açúcar. No caso da homeopatia ainda há um requinto superior de malvadez, que é o facto dos remédios homeopáticos serem aprovados pelo Infarmed. Isso acontece por causa de transposição para a legislação portuguesa de uma directiva europeia do medicamento, segundo a qual os remédios homeopáticos podem ser aprovados através de um regime simplificado, ou seja, não têm de ter ensaios clínicos. A única coisa que eles têm de provar é que são inócuos. Para os remédios homeopáticos é relativamente simples porque eles são só água e açúcar. Em rigor nada é inócuo, mas qualquer remédio homeopático é praticamente inócuo. Há aqui um desligamento entre a decisão política e o conhecimento científico. A democracia e a ciência, apesar de serem compatíveis, não são a mesma coisa. A democracia é a vontade do povo e a ciência é determinada pelos factos, pelas provas. No entanto, a decisão política, se é feita em prol do povo, deveria ter em conta o melhor conhecimento científico. E neste caso isso não acontece.
A ciência só funciona em sistemas amplamente democráticos. Porém, temos assistido a instituições democráticas ,como os Estados Unidos, onde têm sido nomeadas pessoas para cargos de alta importância que são antivacinas e que politizam, de algum modo, questões como o aquecimento global. Neste momento estamos perante o perigo da ciência ser politizada?
Está já a ser politizada. Já não é um perigo potencial, é um perigo real. Nos Estados Unidos, e não só, a ciência é politizada. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu nas grandes ditaduras. Não é que os Estados Unidos sejam uma ditadura, mas têm um presidente que certamente gostaria de ser um ditador. Tem um pensamento autoritário e autocrático, mesmo que não tenha a possibilidade de ser, neste momento, um ditador. Há sempre uma tentação de dobrar a ciência para servir os interesses políticos. Isso aconteceu na União Soviética Estalinista e também na Alemanha Nazi. Há várias questões que são do domínio da ciência e que têm vindo a ser paulatinamente politizadas. Há vários casos, mas um dos mais paradigmáticos é o caso das alterações climáticas que se tornaram, nos Estados Unidos, uma questão de republicanos e democratas. Aqueles que são republicanos questionam ou são negacionistas da ciência e das alterações climáticas.
Outro caso em que também assistimos claramente à ciência politizada foi na pandemia da Covid-19, em que vimos muitos líderes políticos advogarem falsos tratamentos, como a hidroxicloroquina ou a azitromicina. Donald Trump ainda recomendou a injeção de lixívia [risos]. Isto é negativo, mas não é exclusivo da ciência. É um debate político que já não consegue basear nos mesmos factos para propôr soluções. Já não partimos do princípio de que existem alterações climáticas para decidir o que vamos fazer, mas partimos da ideia de falsificar um facto. Durante a pandemia, vários políticos como Trump e Bolsonaro, resolveram alinhar em narrativas falsas acerca da gravidade da doença, acerca de tratamentos que não funcionam, recomendaram todo o género de mesinhas que não tinham nenhuma comprovação científica e que se sabia que eram muito pouco plausíveis. Mas se olharmos, por exemplo, para Donald Trump, temos de reconhecer que ele não faz isto só com a ciência, ele faz isto com tudo. Nesse aspecto temos que lhe reconhecer uma grande coerência [risos]. A mesma atitude que faz com que Donald Trump não tivesse reconhecido a sua derrota eleitoral em 2020, é a mesma que o faz questionar ou negar certos factos científicos. É esta a ideia de que os factos não interessam. E se os factos não interessam, a ciência não interessa. Neste momento, assistimos a um discurso político que não se importa, em certos casos, de tentar enviesar a ciência, de tentar transmitir, ou desvalorizar, ou apresentar falsa ciência para servir os seus propósitos políticos.
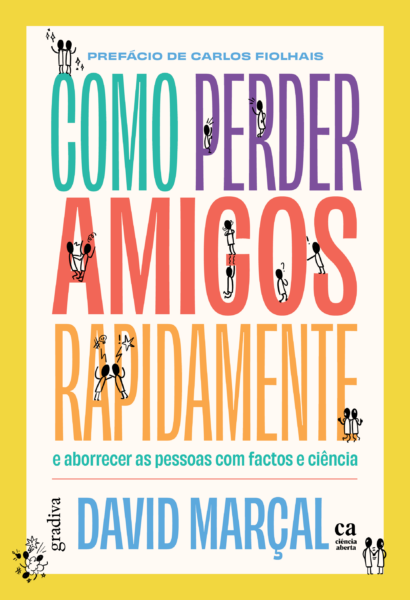
Disse que era mais um defensor da ciência do que um comunicador de ciência e também foi professor do mestrado em comunicação de ciência que junta a FCSH [Faculdade de Ciências Sociais e Humanas] e o ITQB da Universidade Nova de Lisboa. Para fazer uma boa defesa à ciência é necessário que haja uma maior formação de comunicadores de ciência mas também é necessário, ao mesmo tempo, incluir a literacia científica na formação dos jovens estudantes?
Sim, sem dúvida. Acho que isso era aquilo que estava a falar há pouco. Há uma grande incompreensão do processo científico. Precisamos todos de maior cultura científica. A sociedade precisa, no seu todo, de maior cultura científica. Tem de se perceber, por exemplo, que um artigo científico não é necessariamente a verdade escrita na pedra. Há poucos que são. Não podemos olhar só para o último, temos de olhar para a literatura científica. Saber analisar a literatura científica é algo que requer competências específicas. Convinha que todas as pessoas pudessem ter, pelo menos, uma ideia. Seria necessária uma melhor representação da ciência no espaço público, com uma maior comunicação acerca do processo científico, mais do que apenas os resultados. Os resultados são bestiais, toda a gente adora, mas podemos saber que há um novo medicamento bestial e continuamos sem saber nada sobre a ciência que lhe deu origem.
Basta pensar na inteligência artificial que neste momento está na moda. É uma área que existe há décadas. Quando andava na faculdade, na década de 90, havia uma porta no departamento de informática, onde tive algumas aulas, que dizia assim: “Inteligência Artificial”. Cada vez que passava por aquela porta desatava-me a rir, era ridículo a inteligência artificial [risos]. E para toda a gente foi ridículo, foi distante. Havia quem utilizasse inteligência artificial na academia mas muitos investigadores não lhe chamavam isso, chamavam-lhe coisas mais específicas. De repente, a inteligência artificial popularizou-se por causa do Chat GPT, cuja a primeira versão pública saiu em 2022. Toda a gente ficou muito surpreendida. Eu próprio também fiquei.
Hoje em dia toda a gente acha que a inteligência artificial é bestial. Começam a incorporar nas suas rotinas a inteligência artificial. Têm opiniões sobre o que a inteligência artificial deve ou não deve poder fazer. Em geral, a opinião das pessoas é que deve poder fazer tudo. Mas se perguntarmos às pessoas o que é que é a inteligência artificial, em que ciência ela se baseia, eu diria que uma percentagem quase total da população não faz ideia. Voltamos à ideia do Carl Sagan, de uma sociedade inteiramente baseada em ciência e tecnologia, em que ninguém sabe nada de ciência de tecnologia. Por isso diria que sim, é preciso aumentar a cultura científica.
Penso também que a situação deveria ser melhorada nas escolas, onde falta muito o ensino experimental das ciências. É através da observação e da experiência que nós obtemos conhecimento. Para a ciência uma coisa não está certa porque pessoas muito importantes dizem que está certa, ou porque está escrita em livros muito antigos. Uma coisa está certa porque há provas reprodutivas de que ela está certa. E, se por acaso chegarmos à conclusão que aquilo não está assim tão bem e que não é bem assim, então reformulamos. Também é preciso dizer que não está tudo em pé de igualdade. Seria, por exemplo, muito difícil repensarmos a forma da Terra, mas podemos pensar de forma ligeiramente diferente sobre as consequências da Covid longa. Não está tudo em pé de igualdade. Quanto mais investigação há sobre um tema, mais robusto é o conhecimento que temos acerca desse tema.
Acho que a escola poderia reforçar mais o ensino experimental das ciências e transmitir melhor o que é o processo científico. Um dos meus filhos está no 9.º ano e até agora ainda não estudou na escola a evolução das espécies. Tendo em conta que nada em Biologia faz sentido a não ser à luz da evolução, a evolução das espécies deveria ser dada logo no primeiro ciclo assim que se fala de seres vivos. Não consigo conceber outra hipótese. Claro que teria de ser uma explicação adaptada, mas acho que é preciso um ensino mais robusto na área das ciências. Em particular, o ensino experimental das ciências.

