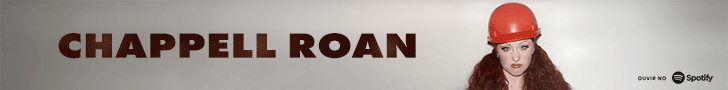“High Life”, de Claire Denis: presos ao próprio corpo

Falando de Claire Denis importa sempre invocar a sua obra maior – “Beau Travail” (1999) – um marco do cinema dessa década, que retratava a vivência na Legião Estrangeira de forma poética e paralela ao documentário. A realizadora francesa tem apresentado, ao longo da sua carreira, uma grande diversidade nas suas obras. Seja ao nível do género ou da forma, a cineasta não é facilmente rotulada, sendo difícil discernir um traço autoral que trespasse a sua obra. Tanto podemos encontrar trabalhos mais viscerais, como o neo noir “Les Salauds” (2013), como dramas mais “convencionais”, como “Un beau soleil intérieur” (2017), recorrendo apenas aos projetos mais recentes.

Mas há algo que, de facto, liga os seus filmes, por mais difíceis de catalogar que possam parecer. É a sua preocupação com o corpo, enquanto objeto de fascínio e desejo, no seu erotismo e sensualidade, no diálogo com o corpo de outrem, nos efeitos traumáticos que a violência contra o mesmo pode provocar. Toda esta atenção tanto aparece tratada de forma mais explícita na narrativa, como na própria forma com que os corpos são filmados, por norma pela Diretora de Fotografia Agnès Godard, lamentavelmente ausente do seu último filme.
Esta recorrência pelo corpo é levada ao extremo em “High Life”. A maneira como a realizadora isola estes corpos no espaço relembra um tubo de ensaio, uma experiência científica/cinematográfica de limite. Condenados a penas de morte ou prisão perpétua, um grupo de criminosos é lançado no espaço, em nome da ciência, com destino à morte certa. Liderados pela Doutora Dibs (a sempre excelente Juliette Binoche), os tripulantes são submetidos a uma vivência orientada para as experiências reprodutoras protagonizadas pela própria. Mais livres, mas ao mesmo tempo mais presos do que alguma vez estiveram em qualquer prisão, as tensões vão crescendo entre as personagens do filme, criando as condições ideais para que a violência entre corpos possa ebulir.

“High Life” é maioritariamente filmado em digital criando um forte contraste com os flashbacks da vida do protagonista (Robert Pattinson) em solo terrestre. Imagens sombrias, granuladas e com bastante textura, filmadas em 16 mm, que trazem à memória os filmes de Andrei Tarkovsky, nomeadamente “Stalker” (1979). Este contraste invoca também a distância de um passado longínquo, névoa que assombra a vida dos personagens, que lutam contra o seu inescapável destino.
Infelizmente o filme torna-se demasiado explicativo – facto acentuado pela intensiva utilização de um narrador – ao contrário dos seus filmes anteriores, onde a simbologia nos era transmitida pela própria imagem, ficando muitas vezes aberta a interpretação do espetador e potenciando o impacto lírico e enigmático que emanava da sua mise-en-scène.
É efetivamente nos momentos com menos palavras que o filme atinge os seus instantes mais crus e genuínos. As cenas de interação entre a personagem de Robert Pattinson e a sua filha quebram também o niilismo que atravessa “High Life”, lampejos de humanismo que o elevam para além da brutalidade exploratória daqueles corpos.