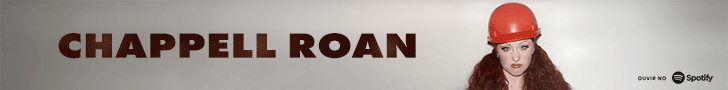Junto ao precipício

“Normalmente um precipício é um lugar muito bonito!” – disseram-me hoje. Não consigo negar. A linha do horizonte, o céu amplo, a sensação de gigantez e pequenez. Somos atraídos pelo e para o precipício mesmo sabendo-o como um lugar de queda e rutura.
A sociedade está enlouquecida, não tem norte, não tem saúde. Não há uma percepção clara de limites. Parece que não existe um compromisso de honra partilhado (Será que sabemos o que é honra?). Também parece não existir uma percepção clara de ordem e de liberdade. Queremos igualdade, mas não sabemos carregar a responsabilidade. Queremos segurança, mas não sabemos dar emergência ao risco. Mais importante ainda: queremos a verdade, mas não somos capazes de a amar. Há uma verdade partilhada dentro do colectivo: a existência de singularidade e a existência de diferença. E apesar de termos uma sede insaciável de obter a verdade, não somos verdadeiramente capazes de aceitar e amar a diferença. Para além disto, é necessário que dentro de uma sociedade exista a percepção de obrigação e parece que a nossa carece desse sentir.
Simone Weil no livro “O Enraizamento” diz que um homem que estivesse só no universo não teria qualquer direito, mas continuaria a ter obrigações. A filósofa diz-nos que o objecto de obrigação, no campo das coisas humanas, é sempre o ser humano enquanto tal. Só é eterno o dever para com o ser humano enquanto tal (Simone Weil, 1949). Desta forma, enquanto humanos a nossa maior obrigação seria ajudar outro ser semelhante. Contudo, quando passamos na rua por um sem abrigo não nos sentimos na obrigação de o alimentar. Queremos segurança, mas quando observamos cenas de violência, de perigo e de risco (seja um atentado à diferença, ou um acidente) não nos sentimos na obrigação de ter voz, de intervir. Quando estamos na praia e vemos alguém em perigo a reacção da maioria de nós é observar, gravar o momento com os nossos smartphones ou então ignorar. Como podemos querer igualdade, se não existe no colectivo um sentimento de empatia partilhado?
Somos capazes de julgar o que comete um crime, mas temos dificuldade em reconhecer a doença. Queremos liberdade, queremos ter possibilidade de escolha. Porém, nos momentos mais urgentes, muitas vezes optamos por nada fazer. Atrás da liberdade está a responsabilidade. Para suportar a responsabilidade é preciso consciência individual e colectiva e é necessário que o Homem seja capaz de fazer esforços contínuos. O Homem deve compreender claramente o papel que desempenha na sociedade, no colectivo. É necessário que exista castigo para os que não amam a verdade, que não aceitam a diferença, que não entendam que a liberdade acarreta responsabilidade. Weil (1949) diz-nos que só o crime deve privar quem o cometeu de consideração social e o castigo deve reintegrá-lo. De que nos serve castigar se não reeducarmos? Violência leva a mais violência, seja ela física, verbal ou emocional. Por mais anos de história que passem, por mais evidências, parece que não compreendemos e não aceitamos estes dados como verdade. E desta forma, a sociedade permanece doente e mais doente fica. Sabe-se que na raiz de vários criminosos está uma infância abusiva, está a doença. Isso desculpa o crime? Não! É necessário existir responsabilidade, é necessário existir castigo, mas é também necessário que o compromisso de honra para com o singular e colectivo não se perca. É importante reeducar e reintegrar. Desistir para sempre do criminoso é também desistir do colectivo, é desistir do Homem. Devemos reconhecer a doença e não perpetuar a sua disseminação. Porque de outra forma, como conseguimos ter uma sociedade saudável? Afinal para onde estamos a caminhar? Estaremos a caminhar para a berma do precipício?
A Simone (1949) afirma que não existe liberdade de pensamento se não existir pensamento. A autora acrescenta que é mais acertado ainda dizer que quando não existe pensamento, não há liberdade. Nos últimos anos (diz-nos Simone e eu digo, hoje e agora), houve muita liberdade de pensamento, mas não houve pensamento. Nós queremos voz, queremos liberdade de escolha, liberdade de pensamento e liberdade de opinião. Mas não praticamos o pensamento, não nos é incutida uma prática de escuta, de empatia, de amor à verdade. Queremos cidadãos responsáveis, livres, com direitos, mas esquecemo-nos de incutir pensamento sobre aceitar o outro e ajudar o outro. Queremos liberdade para pensar, mas não somos capazes de pensar no colectivo e muito menos na doença do colectivo. Engamo-nos ao achar que se não pensarmos no colectivo somos realmente livres.
A filósofa em foco afirma que um sistema social está profundamente doente, quando um camponês trabalha a terra com a ideia de que, se é camponês, é por não ter tido inteligência suficiente para ser professor primário. O que está no cerne deste pensamento é a dificuldade em reconhecer honra. Enquanto não formos capazes de aceitar o outro com a sua alteridade, enquanto não formos capazes de reconhecer que todos partilhamos coisas, enquanto não formos capazes de pensar e carregar a responsabilidade estaremos sempre a habitar uma sociedade doente. Existe honra e existe inteligência tanto no camponês, como no professor primário. E todos devemos perceber como é honroso o nosso papel singular e colectivo. Todavia o que observamos são abusos de poder erróneos. Acreditamos que é a profissão que nos define a liberdade, a honra, que nos dá poder. Esquecemo-nos que é o amor à obrigação para com o humano e o pensamento que nos eleva enquanto sociedade. Volto a sublinhar que continuamos com uma sede insaciável de chegar à verdade, mas vemo-nos incapazes de aceitar e amar uma das verdades inquestionáveis: a existência de diferença no outro. Inspirada na música “Se me deixasses ser” do Tiago Bettencourt, digo que estamos todos em frente ao precipício, juntos pelas mãos e se vamos saltar, então que o amor à verdade seja a única razão.