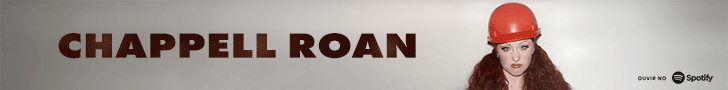Entrevista. Luís Severo: “É um disco muito meu e muito íntimo”

Para uma pessoa que se preze de ser um connaisseur da música portuguesa, Luís Severo não deve ser já um nome desconhecido. E para quem se está de momento a imergir nessa mesma cultura musical também não. Com o segundo álbum, “Luís Severo”, editado este ano, para grande crítica e aceitação do público – que esgotou por duas noites consecutivas o Teatro Ibérico – a música de Severo tem-se feito ouvir nos diversos meios de comunicação social.
Foi no final da semana passada que nos encontramos na Penha de França, um dos poucos bairros Lisboeta que ainda consegue preservar a identidade da cidade sem grandes gentrificações, e, com uma bica à esplanada, conversámos sobre o processo criação deste novo álbum, as inspirações do mesmo e o estado da música portuguesa.
Relativamente ao tema do álbum, do homónimo, se formos a ver este é um álbum em que abordas mais coisas do que o amor propriamente. Por exemplo, Lisboa é um tema recorrente.
É verdade. No fundo Portugal é um tema recorrente. Há uma comparação entre Lisboa, que é a minha cidade há um ano e pouco, e todas as outras terras que eu fui apanhando enquanto andava em tour. Como toco muito a solo, acabo por conviver com as pessoas, que é uma coisa que quando vais em banda muitas vezes acabas por não conseguir fazer, porque já tens ali os teus amigos. Eu como não tenho ninguém, em muitas ocasiões acabo inevitavelmente a jantar com a malta do sítio onde vou tocar. Isso é muito bom porque acabo por conhecer Portugal de uma forma mais humana, no sentido de ser um contacto bastante mais íntimo. E acho que a comparação Lisboa com outros lados acontece um bocado fruto disso mesmo, de eu voltar para Lisboa e de ser sempre uma coisa estranha, é outro mundo, a sensação de chegar cá e ver as coisas de forma diferente. O meu mood muda todo, acho que vem um bocado disso.
Neste disco também fiz uma coisa que acho que me ajudou bastante, que foi usar as histórias amorosas, não para falar delas em si, mas como veiculo para falar de outras coisas. Na “Olho de Lince”, mais importante que qualquer história romântica que esteja para ali a contar, que é até meia ficcional, é esta servir de fio condutor para várias opiniões e coisas que eu tinha para dizer, que era uma coisa de que tinha um bocado de medo. Nos últimos tempos tenho-me interessado mais por política. Tenho as minhas opiniões, claro, mas nunca fui uma pessoa muito informada politicamente, nem conhecedora da linguagem política, e portanto sempre tive alguma dificuldade em abordar esse tipo de questões, e acho que este disco acaba por ir falar de questões, até políticas, mas não de uma forma politizada, de uma forma de um gajo que não tem a intenção de converter ninguém.
Então foi intencional, foi o reflexo da tua vida nos últimos tempos…
Tudo o que faço é intencional, mas não significa que seja o reflexo daquilo que está a acontecer na minha vida quotidiana. Foi tudo muito intencional, a mudança de tema, de estúdio, vem tudo muito da questão de ser o segundo álbum. O segundo álbum é uma coisa que, quando o outro corre bem, ficas com a pressão de “pronto, correu bem e agora vai ficar tudo bem” ou é a deceção total e o fail. Eu decidi assumir à partida que, mesmo que este álbum não fosse superior, ter a certeza absoluta de que ia ser diferente, e como tal não esperei que ficasse só diferente por algum milagre, mudei o método como fiz as músicas, queria começar a falar de outros assuntos, a juntar outros instrumentos, tocar com outros músicos. No fundo mudei tudo, não houve nada que ficasse inalterado, então isso foi um bocado a minha salvaguarda.

Quanto à produção, enquanto produziste o “Cara D’anjo” sozinho…
O [Filipe] Sambado deu uma mãozinha.
Neste contaste com a colaboração do Diogo Rodrigues e do Manuel Palha.
O Diogo toca comigo desde 2015, desde que lancei o “Cara D’anjo” e é um gajo com quem tenho imensas afinidades e com quem me dou muito bem, é daqueles amigos que tenho e me acompanha sempre.
Estava noutra sala desde 2013 e não estava muito contente e então pedi ao Diogo para me juntar a Alvalade, que é o estúdio onde também ensaiam Capitão Fausto e todas as outras bandas deles. Pedi um bocado a medo, mas como também tenho algum equipamento que dei ao estúdio e fizemos ali uns acordos. A coisa deu-se e fui para lá. Eles nunca tinham deixado ninguém ir para lá porque já tem aquilo muito bem dividido. É um estúdio ótimo, e depois comecei a ir para lá compor e o Diogo foi ouvindo as malhas comigo e precisamente por nós já termos muita dinâmica juntos achei que era fixe chamar outra pessoa. E nesse caso o Manel aparece porque, de Capitão Fausto e da malta que andava para lá, sempre foi um gajo que me inquietou muito, que toca imenso e sabe imenso sobre música e que nesse sentido podia ser útil para me corrigir algumas limitações técnicas. Disse ao Manel para vir, ouvir as malhar, corrigir coisas que ele não gostasse, tentarmos perceber onde é que os arranjos podiam ir. Essa dupla foi muito importante, o Diogo como conhecedor da minha estética e dos meus vícios e o Manel como alguém que me podia abrir portas para um novo mundo. Ajudaram-me a fazer a ponte neste disco, mas para todos os efeitos a decisão final de tudo continuou a ser minha, e eles aparecem como influencias.
Por exemplo, no “Cara D’anjo” já tinha tido o Sambado a fazer a mesma coisa, mas nesse disco houve um episódio, foi uma loucura. Tive uma banda em algumas músicas e nós estivemos a fazer o disco entre Fevereiro e Maio de 2015, depois em Junho, Julho, Agosto vai toda a gente para fora e fico cá eu e mudo tudo e quando eles chegam em Setembro já está outro disco, até foi meio polémico, mas pronto, eu fiz o que me apeteceu, e neste disco não houve esse momento de alterar tudo, foi uma coisa mais continua. Também porque o “Cara D’anjo” era um disco em que eu estava mais a procurar, neste eu já sabia o que estava mais a fazer, e no próximo – já estou a compor outro disco – sei melhor o que quero.
Ia perguntar-te precisamente sobre a mudança para a Cuca Monga.
No fundo, como consequência de eu ir lá para o estúdio, eles começaram a tocar [comigo] as músicas de forma muito natural, a única mão mais forçada foi de facto o Manel, todos os outros tocam – por acaso o Domingos [Coimbra] é o único que não toca, mas só porque não calhou. Aconteceu tudo de uma forma espontânea e à vontade. Quando nos encontramos para decidir que o disco ia acontecer pela Cuca Monga, isso já estava meio decidido, era um bocado óbvio tendo em conta tudo o que estava a acontecer, não foi uma coisa de estarmos ali a forçar muito. Eles apresentaram-me o que podiam oferecer nesse sentido, porque é uma editora que já consegue algumas coisas e eu achei tudo correto.
E achas que estar assim com um grupo tão diverso de músicos contribuiu para uma maior instrumentalização neste álbum?
Vou-te fazer só uma pequena correçãozinha, mas que eu percebo, porque muita gente diz isso, mas na prática este disco tem menos instrumentos.
A serio?! Mas parece mais rico, mais cheio.
Sim sim, percebo perfeitamente porque no “Cara D’anjo”, como estava mais à procura comecei para ali a pôr camadas e camadas e aquilo ficou ali um bolo de muita coisa, que no fim soa a menos do que é. Neste disco foi precisamente o contrário, tem muito menos coisas, mas por serem coisas mais ricas e elaboradas soa a mais, por isso compreendo que tenhas achado isso, tu e muitas outras pessoas, mas na prática, eu que conheço e vi os dois, sei que este tem muito menos coisas e isso é uma coisa que tem piada.
Pois, até mesmo com os violinos…
Sim, os violinos enchem logo, mas tem menos. Tanto que foi muito mais fácil de mixar. Da minha parte houve aqui menos impulsividade. Ter tido os músicos, e nesse caso o Manel foi muito importante, pelo facto de ter um conhecimento mais cientifico, e a consciência clara e muito objetiva daquilo que é correto ou não. Sendo que muitas vezes eu gosto de ir contra com o que é indicado, e mesmo nisso, ajudou tê-lo lá, porque chega a um ponto em que ele diz mesmo “pá, não, isto não faças mesmo” e eu “pronto, está bem Manel, não vou por esse baixo com chorus e pits”, que em estúdio eu sou muito maluco e gosto de experimentar os efeitos todos.

E achas que o álbum ser editado pela Cuca Monga contribuiu para o aumento da tua visibilidade? Que tens tocado na rádio e foste a televisão.
Antes de tudo tendo a encarar a evolução sempre como uma coisa continua, gosto de ter uma existência sem hypes, e isso é uma coisa boa, porque quando há assim um hype para cima, também o há um para baixo. Se fores a ver bem, quando o outro disco saiu, enchi a ZDB, 200 pessoas a 5 euros, e neste disco fiz duas noites no Teatro Ibérico, que são 400 pessoas ao todo. Okay, é o dobro e é bom, mas não é uma evolução louca, claro que sinto isso, mas não sei se foi pela Cuca Monga, se por ser o segundo disco, se por eu ter evoluído. Acho que tudo junto contribui para isso. Eu noto que este disco chegou logo ao Spotify, enquanto que o outro houve muito tempo em que só se podia ouvir na minha página do Bandcamp, e nesse sentido este disco, só mesmo no Bandcamp, quando saiu, já teve mais plays, que é a única coisa que consigo controlar, sendo que já tinha o disco na Fnac, na Apple Music, no Spotify. Tenho a consciência que este disco foi ouvido por muitas mais pessoas, mas é uma evolução natural e não uma evolução de eu há um ano estar a tocar na ZDB e agora estar a tocar no Alive ou no Rock in Rio, com fogo e animais em palco. Está a ser uma evolução contínua e é isso que eu gosto, quero ir evoluindo aos poucos. Se cada vez que for a uma nova cidade mais cinco pessoas ficarem a conhecer, e se possível quando voltar a essa cidade, eles voltarem, é ótimo! Acho que é com calma, até porque temos uma terra pequena.
Falaste do Teatro Ibérico. Estava lá no primeiro dia e disseste que foi o set mais longo que já tinhas feito.
Eu tinha ensaiado imenso, claro! Mas nunca tinha tocado aquilo assim, por isso, na primeira noite estava um bocado em pânico. A primeira data foi muito mais especial, porque, apesar de tecnicamente ter sido mais insegura, foi a estreia e aquela tensão de ser uma coisa meio solene, que exigia que eu tocasse mais tempo. Assim num teatro, havendo contexto, acho que faz sentido ter um set mais longo, mas para tocar no Lounge 8 músicas chegam. Acho que não é preciso estares a impingir 15 ou 16 músicas às pessoas. De facto, na segunda data já estava a curtir, estava mais à vontade, a técnica foi mais consistente. Mas a primeira data teve o lado especial de viver cada segundo com uma intensidade muito alta.
Voltando um bocado ao álbum e às músicas. Porque é que escolheste a “Escola” e a “Boa Companhia” como singles?
Não fui eu, dei essa decisão. Houve um encontro, em que estava o Joaquim Quadros, da Vodafone FM e da Cuca, e estava o Tomás [Wallenstein], o Ró, do lado da Maternidade, outra coletiva ao qual estou associado, o Diogo e o Manel. E quando estava quase acabado, pus o disco todo a tocar e foi um bocado unanime a “Escola” como single inicial. Tanto que eu achava que eles iam dizer a “Boa Companhia”.
Pois, ouvindo as duas a “Boa companhia” parece uma transição mais comum.
Mas olha que a “Escola” está a ser a música com mais aceitação e mais consensual. A “Escola” a “Planície” também, esta semana venci o A3.30, não sei quantas pessoas votam naquilo mas esta a ter boa aceitação [risos]. Neste disco, em tudo o que tocou a comunicação, eu confiei e dei as pastas. Acabei o disco, estava cansadíssimo e disse “agora fodam-se, querem que seja esse o single? É, não me vou impor, vou afastar-me desse lado” que é uma coisa que faz sentido. Enquanto músico faço a minha cena, e não quero que nenhum produtor ou manager me diga como é que a minha música tem de ser, mas quando acabo o disco acho que eles devem saber qual a melhor ocasião, tanto que eu queria ter lançado o disco mais cedo e eles adiaram-me isso.
Sonoramente a “Boa Companhia” aproxima-se mais ao “Cara D’anjo”, mas a “Escola” representa mais o que estas a fazer agora.
Sim, este disco é mais uma surpresa, uma coisa que eu acho boa na “Escola” é ser uma canção um bocado diferente. Tu metes a canção a tocar e ficas tipo “wow o que é isto?”, enquanto que na “Boa Companhia” já tive pessoas a dizerem “ah isto lembra-me o Mac DeMarco” ou assim. A “Escola” não te lembra de nada, faz-te mesmo perguntar “quem é este maluco?”. No fundo, o single inicial que sai com o álbum deve ser um que ativa curiosidade das pessoas e a “Escola” ia mais de encontro com isso.

E porque é que decidiste que o álbum fosse homónimo?
Os álbuns homónimos tendem a ser discos importantes. Pelo que eu percebo, os músicos dão títulos homónimos aos álbuns por algumas causas, ser um álbum muito intimo, ser uma obra-prima desse músico, ou ser um ponto de passagem importante na evolução artística, e eu acho que [este álbum] é um disco muito meu e muito intimo, não é ainda a minha obra-prima, quero ainda fazer mais discos, mas é um disco sem dúvida importante na minha vida e vai ser importante para evoluir a partir dele, é significativo ter acontecido. Nesse sentido achei que o disco ficava bem homónimo. Mas acho que até hoje a malta só acha que só pus homónimo porque não me apetecia escolher o nome, mas não! “Epá pensa lá num nome” e eu “mas eu quero que seja homónimo”, porque faz sentido que seja e acabou por ser assim.
Sendo que a tua música aparenta ter um teor pessoal e biográfico, e mais uma vez voltando a pegar na visibilidade, achas que isso a partir de agora vai fazer-te ter mais precaução com aquilo que escreves e queres dizer?
Acho que não. Para todos efeitos, eu nunca disse que a minha música era biográfica, é uma suposição aceitável e compreensível. Acho que não, até porque não acho que as minhas canções sejam explicitamente intimas, até quem me conhece e quem está intimamente comigo a cada dia que passa não entende quase nada do que eu estou para ali a falar, imagina quem não saiba, não é? Para todos os efeitos, e é capaz de ser muito otimismo meu, acho que as pessoas se estão um bocado a cagar, as pessoas querem é ouvir música. Há muita gente que ouve música e está-se a cagar se eu ando com pessoa x, ou falo com pessoa x, ou vou ao sitio x no dia x. O meu objetivo vai continuar a ser o mesmo e, se se alterar, não vai ser por causa disso, o meu objetivo é continuar a fazer canções que sejam aquilo que eu quero ouvir e representem aquilo que eu gosto, não obrigatoriamente aquilo que eu sou – sendo que o que eu gosto é também um pouco o que eu sou. Além de que, mesmo no que eu digo, na poesia – ainda que eu não ache que seja poeta, poesia é outra coisa, eu sou uma pessoa que compõe algumas letras, já li bastante como influência e inspiração, mas quando estou a fazer uma letra não acho que esteja a fazer poesia, fico muito contente até quando as pessoas acham que sim –, nessa busca de cada palavra, não há só a componente pessoal, há a componente estética, a visual, a onírica, portanto não acho que isso vá alterar. Ninguém quer saber sobre quem o Rui Veloso pensa quando canta a “Jura”, e ele é muito mais conhecido que eu. Era preciso ser muito cusco não era?
Relativamente ao teu processo criativo, quando estás a escrever ou a compor uma música, pensas primeiro na melodia ou na letra?
Neste disco foi antes a música, com tudo o que ela envolve, acordes, melodia, tudo. Mas até este disco, era sempre ou quase sempre a letra. Teve a ver com o que falei à bocado de alterar o método, em que quis alterar tudo e inclusive isso. Mas acho que neste método me desenvolvi, agora consigo fazer de ambos os modos e isso satisfaz-me. Porque se um dia me apetecer posso voltar a fazer de outra forma, e isso é a maior riqueza que levo deste disco.
Luís severo, agora falando no facto de te apresentares com o teu nome neste dois últimos álbuns, e de antes te apresentares como O Cão da Morte. O estilo da música que fazias antes e fazes agora parecem ser algo distintos…
Oh, em algumas coisas só! Para alguém que seja fã de metal, ouve Cão e ouve o que faço agora e pensa “pá não, acho isto igual”. Enquanto Cão eu estive a experimentar coisas. O formato anónimo acontece quando eu comecei a fazer musicas e pô-las online, daí não assumir o meu nome. Com a evolução, o anonimato morre, as pessoas começam a saber quem sou, começam a ver fotos, eu toco ao vivo, e fiz muitos discos experimentando. Eu tenho 24 anos e comecei a fazer canções quando tinha 15, estou quase a fazer uma década, aos dez anos faço tipo um DVD ao vivo, com convidados [risos]. Mas já lá vai muito tempo e eu sinto esse tempo, apesar de ser relativamente novo já tenho nove anos em cima a compor e tive cinco ou seis de simples experimentação, mas não foi com a certeza de estar a fazer disto vida e neste momento estou, estou só a fazer mais uma ou duas coisas e não estou a fazer muito mais. Claro que assim já há outras intenções e certezas, e as dúvidas vão se acabando e dando lugar a uma consciência daquilo que eu sou e tenho de fazer. A mudança nesse nome, e no som – que ainda que não mude muito, tem algumas diferenças – acompanha a mudança de um método que tinha a experimentação como fim e não como meio, para hoje em dia, em que já tento ser conclusivo e a experimentação já não é um fim mas sim um meio.
E com Flamingos?
Estamos a tentar fazer um disco agora. Não nos apetece fazer mais singles, tivemos muito tempo a lançar singles, depois o Coelho [Radioactivo] começou a trabalhar noutras coisas, que ele faz mais coisas que eu, ele mete-se em mais coisas que eu, coisas fixes, ele teve ali uns temos metido nuns eventos mais na zona do Porto, e houve pouco tempo, mas estamos a tentar fazer disco agora e portanto acho que posso comprometer-me que em 2018 há-de acontecer.
Isso era fixe, que até tocaste a “Cabanas do Bonfim” no Teatro…
Sim sim, eu gosto de tocar pontualmente uma canção e naquele set como era mais longo eu decidi incluir.
Agora pegando na música portuguesa, mesmo desde o início da década, está a haver uma nova onda de artistas portugueses
Já vem de antes, tinhas FlorCaveira, Amor Fúria. Eu conheci Samuel Úria, que hoje já está noutro ponto, quando ele ainda tinha muito menos fama que aquilo que eu tenho hoje em dia. Eu cheguei a ir vê-lo a tocar para dez pessoas, isto para aí em 2009 e apercebi-me que eles já tinham estado a construir uma editora e uma ideia, não só de cantar a nossa língua, como uma ideia de estar a fazer coisas independentemente de ter ou não ter atenção e começa muito aí essa ideia. Antes deles, eu ainda não tinha encontrado na nossa música – possivelmente havia mas eu ainda não tinha encontrado – essa ideia de fazer coisas com menos meios, e isso continuou tudo e estamos numa fase boa. O facto de haver muita gente a fazer coisas é factualmente bom, mesmo que haja mais gente a fazer coisas más também há mais gente a fazer coisas boas, é ótimo haver muita gente e claro que nem todas aguentam ou nem todas chegam a ter uma consequência mas claro que acho que são todas importantes e ajudam a construir aquilo que é uma história.
E como é que achas que a Cafetra e a Xita e essas editoras hoje em dia contribuem para o aparecimento e capacidade de se apresentarem ao público de novos artistas?
No meu caso, eu comecei a compor canções antes de conhecer a Cafetra, e a Xita ainda menos, que são muito mais novos. Eu e a Cafetra evoluímos juntos e numa fase evoluímos de uma forma próxima, entre 2011 e 2013/14, com convívio constante, eles evoluíram e instituíram a cena deles, o que eles fazem já ocupa o seu espaço e o seu sítio, e imagino que isso seja inspiração para muitas pessoas, no meu caso eu já estava dentro, vejo as coisas de uma forma um bocadinho menos sonhadora. Tudo o que a Cafetra fez foi muito importante e tudo o que a Xita esta a fazer tem sido importante.
O processo colaborativo tem também importância nisso de apresentar e introduzir os novos artistas?
Bem, acho que cada um deve seguir o seu caminho. Eu pelo menos acho que é bom haver uma junção, mas não é bom ficar colado a isso muito tempo. É bom as coisas evoluírem e tocarmos com pessoas novas e diferentes. Quando és um músico a solo acho bem tocares com bué pessoas, porque se há vantagem em tocar-se a solo é essa mesma, teres essa liberdade.
Pois, que tu produziste agora o EP da Lucía [Vives] também.
Sim, já tinha feito um disco com o Éme, outro com o Sambado. Isso acontece porque eu gosto de estar em estúdio a produzir discos já não estava a produzir nada desde 2014/15 porque decidi, quando estava a fazer o “Cara D’anjo” focar-me mais na minha cena. Entretanto conheci a Lucía em 2015/16, fomos falando, ela foi-me enviando as cenas dela, e eu tinha vontade de voltar ao estúdio e produzir qualquer coisa e decidi que íamos ter essa junçãozinha.
Relativamente a novos músicos nacionais, há alguns que queiras recomendar?
Gosto de Pega Monstro, gosto do Sambado, do Éme, [Capitão] Fausto, gosto de tudo o que está a acontecer. Também não vou ser falso, tenho uma ligação próxima e muitas vezes quase dentro para ser completamente imparcial, mas genuinamente acho fixe. Gosto da malta da Xita, do Úria do Fachada, pronto, acho que há muita coisa boa a acontecer e cada um tem sempre alguma coisa que faz muito bem, e em todas essas pessoas houve coisas que me inspiraram.
E para fazer este álbum houve alguma coisa que ouviste especialmente?
Ouvi muito Sufjan Stevens, por acaso. Porque é que te estás a rir? Achas que se nota?
Acho que sim, agora que o dizes.
Ouvi Sufjan, não só o “Carrie and Lowell”, mas também os outros discos, mas em especial o “Carrie and Lowell”, que acho muito bonito. Eu oiço sempre o [Leonard] Cohen também. Para este novo disco agora, como estou a tentar fazer um disco mais animado, já fiz um pacto comigo mesmo de não ouvir mais musica deprê. Mas para este que saiu agora sim. Acho que ouvi mais música sem ser nossa do que nunca. Ouvi muita música anglo saxónica e acho que se nota por este ser o disco menos tuga de sempre que já fiz.
E agora, onde te podemos ver brevemente?
Vai sair uma tour agora, acompanhem na página do Facebook.
Fotografias de Diogo Caetano / CCA