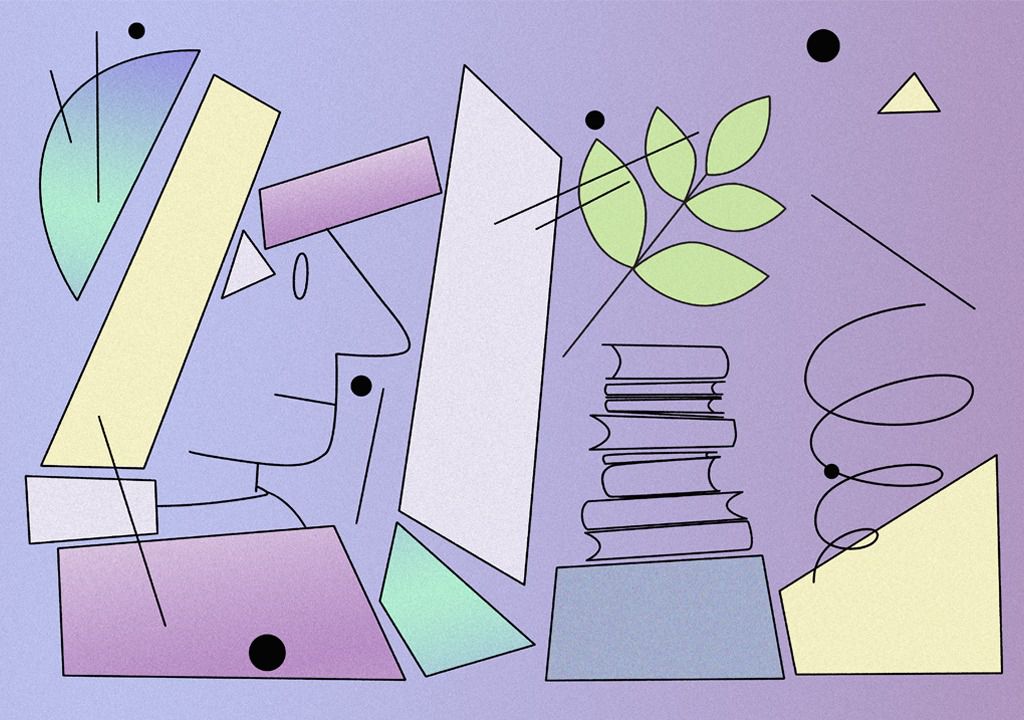Terapia de Divã. Manuel Matos: “o psicólogo clínico devia estar presente em todos os serviços hospitalares”

(‘Terapia de Divã’ é a rubrica da Comunidade Cultura e Arte dedicada à psicologia. Semanalmente, temos todos um encontro marcado neste divã para, com o auxílio dos especialistas, discutirmos e entendermos melhor os mais variados assuntos — desde a sociedade até à criatividade — à luz do enquadramento psicológico. O tema em análise é “os efeitos psicológicos dos internamentos hospitalares prolongados”. Quais são esses efeitos? Para tal, o psicólogo e professor Manuel Matos foca, na entrevista que se segue, os internamentos no caso dos adultos sem esquecer a terceira idade. Lê ou revê também a entrevista já publicada com a psicóloga Sofia Nunes Silva, que aborda os internamentos no caso da infância e adolescência. Na próxima semana, daremos início ao tema “a criatividade sob o ponto de vista da psicologia” Se te interessa, não percas.)
O professor Manuel Matos é psicanalista, psicoterapeuta psicanalítico e psicólogo clínico. É professor na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e fundador e presidente da PsiRelacional, organização que visa a dinamização da psicologia relacional, tendo em vista que é a “relação humana a fonte fundamental de todo o desenvolvimento psíquico e das dificuldades fundamentais do viver.” Como é que o tempo se altera para quem está internado, mesmo para quem já é adulto? Quais as consequências quando se alteram as nossas rotinas por muito tempo? Será que os hospitais estão preparados para lidarem com as especificidades da pessoa idosa, em geral, ou quando esta tem a agravante de ser internada já com um quadro de demência? E o que poderá desestabilizar a pessoa idosa e contribuir para a sua confusão mental num hospital? Há profissionais da saúde mental suficientes nos nossos hospitais? É o que vamos saber na entrevista que se segue.

Manuel Matos / PsiRelacional
Num internamento prolongado, a rotina de uma pessoa é quebrada, está numa realidade que não é a sua. Que implicações psicológicas podem surgir, quando a rotina de alguém é totalmente modificada durante um tempo considerável?
Bom, gostaria de dizer que há estruturas intermediárias entre a liberdade e a vida, como a prisão, e há estruturas intermédias entre a vida e a morte. O hospital é uma delas, sobretudo perante um internamento prolongado. Durante um internamento, a vida fica suspensa e nunca sabemos se saímos pela porta de entrada ou pela porta da morgue. Por isso mesmo, a hospitalização é uma situação ansiógena, porque prevalece a incerteza e a morte espreita.
A identidade de um internado é o número da cama na enfermaria onde está. Enfermo, o doente perde a sua identidade, porque está doente e está, consequentemente, na dependência de quem se ocupa dele/dela. Sujeita-se – que remédio – às rotinas do hospital. Perdida a autonomia, a pessoa regride a uma posição psíquica de dependência ou, até, de obediência e submissão. É por isso que o internamento é deprimente e gera depressão. Entregue ao outro, o paciente sente-se desvalorizado e desvaloriza-se. O internamento compromete, portanto, a auto-estima, gera inferioridade narcísica e entramos na orla da depressão narcísica, também dita de inferioridade. A doença física é susceptível de gerar doença psíquica, sem esquecer que o contrário também é frequente. Isto é, quando uma pessoa está deprimida, é uma porta aberta à doença física e, portanto, algumas pessoas, se estivessem nas melhores condições psíquicas, nem adoeciam nem seriam objecto de internamento. Assunto a pensar muito seriamente. O internamento priva o paciente do seu sistema relacional. Privado das suas relações, adoece. E é caso para dizer que o internamento adoece o doente.
É bom lembrar que os espaços onde vivemos, os objectos que possuímos e os ritmos que temos são organizadores da vida psíquica contra o caos. O internamento prolongado instala o caos, sobretudo se é prolongado; até porque associamos com frequência internamento prolongado a gravidade. O internamento corta com os parâmetros do dia-a-dia da pessoa e com os seus ritmos.
Focou um ponto muito importante, o facto das pessoas se sentirem inferiorizadas face à doença. Não esquecendo o factor da despersonalização, a pessoa não terá, também, receio de ser considerada, não pela pessoa que é, mas pela doença da qual é portadora?
A sua pergunta é muito interessante. Costumo dizer nas aulas de psicopatologia, quando abordo as questões da psicose, que não há psicose – há a Sra. ou o Sr. tal que, de momento, sofre de uma perturbação psíquica de natureza psicótica. A psicose não é o nome de ninguém, não vamos confundir, portanto, o nome da pessoa com a doença. Não vamos confundir a doença com a identidade da pessoa. Não há psicóticos, há pessoas que se chamam António, João ou o que quer que seja. A pessoa não pode perder a sua identidade para passar a ter a identidade da doença, até porque há doenças que discriminam, claramente, as pessoas.
No caso da terceira idade, por exemplo, isso é muito perceptível porque os seniores já são, por natureza, susceptíveis a serem negligenciados e e a serem considerados perigosos por poderem ser focos de doenças. Se pensarmos que houve a tentativa de relacionar um maior foco de Covid-19 à população idosa, ou às populações mais envelhecidas, temos aí mais um exemplo e mais um agravante. Portanto, as pessoas são discriminadas pela doença que têm. Depois, podemos dizer que, na saúde mental, há essa tendência para se dizer “ah, não sou capaz de tratar esta doença, vou considerá-la uma identidade.” Nessa altura, na perda da sua identidade, o doente passa a ter a identidade da doença.
A outra questão que me colocou e é pertinente, é o facto da pessoa se sentir culpabilizada por estar doente. Nós somos a sociedade da culpa. Estamos a aproximar-nos, cada vez mais, da patologia da inferioridade. Passo a explicar muito rapidamente. Se reparar, nós vivemos num mundo em que tudo o que fazemos parece que não conta, é preciso sempre mais e mais. Vivemos num mundo em que não valorizamos aquilo que está feito, valorizamos, sistematicamente, aquilo que ainda não está feito. Isto faz com que se altere a nossa noção da realidade. Porque eu quero saber se a realidade é aquilo que eu tenho ou é aquilo que falta. Se é aquilo que eu tenho, então é para consolidar e para valorizar aquilo que você fez ou eu fiz. Mas vivemos numa sociedade que não valoriza aquilo que está feito. Vamos imaginar que fazemos, cada um de nós, os cem metros de barreira, mas, depois de fazermos os cem metros de barreira, dizem, “não, mas a meta agora não é aqui”, “então onde é?”, “é mais além”, quando chegamos lá, “não, também não é aqui, é ainda mais longe”. Ou seja, nós vivemos, hoje, numa sociedade que passou a ser a sociedade da inferioridade, uma sociedade narcísica. Por mais que façamos, não é suficiente. Aquilo que conta é a imagem e não a substância.
Aliás, o termo culpa vem da religião católica romana. As questões religiosas impregnaram as questões da sociedade e do quotidiano. Portanto, parece que nascemos todos culpados desde que Adão e Eva fizeram amor para darem origem à humanidade, segundo o mito. Portanto, o nosso primeiro sentimento, à partida, é o sentimento de culpa e, consequentemente, a pessoa tem tendência a culpabilizar-se porque está doente. Esta tendência para dirigir a culpa para si próprio é latente na nossa sociedade. Claro que é verdade que, às vezes, é da nossa responsabilidade – o cancro do pulmão incide mais nos fumadores e, se continuar a ignorar esses avisos, tenho uma maior tendência para a doença, por exemplo. Outras pessoas há que não se culpabilizam de nada. O Trump não tem culpa de nada, os culpados são os outros; o Bolsonaro não tem culpa de nada, os culpados são os outros. São atitudes paranóicas, atribuir sempre a culpa e a responsabilidade ao outro. Mas sim, concordo consigo, há uma tendência para a pessoa sentir-se culpada pelo mal que lhe aconteceu.
Mas a questão da culpa poderá estar relacionada, penso eu, com dois aspectos. Em primeiro lugar, a pessoa nota que, afinal, somos muito frágeis e há coisas que escapam sempre ao nosso controlo. Em segundo lugar, quando isso ocorre, há uma maior dificuldade do ser humano perceber ou dar um sentido àquilo que lhe aconteceu.
Entendi a sua pergunta. Queria só voltar um bocadinho atrás e complementar a ideia. A ideia de que as pessoas de idade não fazem falta. Quer queiramos, quer não, fazem muita falta porque viveram as consequências de uma guerra mundial, porque viveram as guerras coloniais, porque passaram pela fome, porque viveram no exílio, porque estiveram na prisão, porque fizeram o 25 de Abril. São os que permitiram e ainda permitem aos filhos irem trabalhar quando é necessário, enquanto cuidam ou cuidavam dos netos e assim sucessivamente. Mas são sempre considerados uma carga muito grande para a sociedade, é-lhes sempre atirado à cara que são um encargo muito grande para a Segurança Social, enfim.
Mas respondendo directamente à sua pergunta, sim, efectivamente, a nossa consciência de que somos extremamente frágeis é susceptível de nos trazer um outro sentido, “eu sou tão frágil que não tenho controlo sobre o que me está a acontecer.” Portanto, se eu não tenho controlo, não consigo encontrar um sentido. E, quando uma coisa não tem sentido, ela não é pensável, é inquietante. Para nós darmos sentido à vida, portanto, temos de ser capazes de pensar e admitir uma estratégia. Se uma doença não tem sentido, e isso vê-se muito bem no que está a acontecer agora, gera medo. Nós vemos toda a ameaça da pandemia do Covid-19. Nós já sabemos que há coisas que são graves e que têm remédio e outras que não têm. O nosso problema é, não apenas o medo, a pandemia em si, mas o medo que provoca. Esse medo porque é que acontece? Acontece porque não somos capazes de arranjar um estratégia que possa passar pela vacina ou medicamento – a falta de estratégia. Mas o medo também esteriliza a nossa estratégia.
Pegando na deixa da sua resposta, na terceira idade coloca-se a questão da demência. Quando uma pessoa de idade é hospitalizada já com essa agravante, não sei até que ponto os hospitais estarão equipados para lidar, nas urgências, com essa especificidade da pessoa idosa.
Com a idade, efectivamente, há um decréscimo, por norma, da nossa capacidade intelectual. Quando andava na faculdade, aprendi que, até aos 65 anos, há uma curva que se estabelece e afecta a nossa capacidade de pensar, de tratar dos acontecimentos – que, a partir dos 65 anos, há um decréscimo que vai até a demência. Isto não é verdade. Quem mantém actividade física, intelectual, escrita, tem uma progressão do seu pensamento e da sua capacidade de raciocínio que não decresce com a idade. Há uma coisa extremamente importante para mantermos a nossa capacidade intelectual e não cairmos na demência. É um assunto muito pouco falado, é tabu. Sabe, as casas não se fabricam só com pedra ou com tijolo, e o ingrediente que liga a nossa identidade é uma pedra que se chama ‘as emoções’. E nós, neste tipo de sociedade em que vivemos, não temos tempo para elas. Os afectos e as emoções tornam-nos mais flexíveis, tornam-nos mais humanos, bons.
Mas imagine, por exemplo, uma pessoa idosa que entra nas observações de um hospital. Não tem, no entanto, consciência do espaço em que está. Então, a única forma que o profissional de saúde [auxiliar, enfermeiro] tem de o tentar controlar é dizer, constantemente, “fique quieto.” É difícil colocar a questão, mas são pessoas que, naquele momento, estão em realidades completamente diferentes.
Absolutamente. Eu compreendo muito bem a sua pergunta, sabe porquê? Porque já cá ando há uns anos e conheço muito bem os serviços de saúde, os hospitais, por dentro e por fora, em Portugal, em Paris, na Guiné-Bissau e mais. Tenho passado uma vida ligado às questões da saúde. sei muito bem daquilo de que fala. Em relação à sua pergunta, efectivamente, olhe, em primeiro lugar, quando uma pessoa, hoje, tem de ir a um hospital. Desde Leonor Beleza como ministra, os médicos passaram a ser avaliados em função das altas que dão. Hoje, quando no final de um mês ou de um ano, o chefe de serviço tem de avaliar os médicos, vai ver o número de altas que dão. Mas se um médico for consciencioso e não der alta a um paciente que precise de observação, que precise até que passe uma manhã inteira com ele, quando chegar ao final do mês ou do ano, esse médico vai ter uma má avaliação. Pode não ser tão produtivo, pode passar a ganhar menos. Porquê? Porque foi competente. Por isso, em muitos casos, vai-se ao hospital, dá-se simplesmente uma receita e é “vá-se embora e volte cá se for preciso, ponha-se a andar”.
É, além da latente falta de recursos humanos que estão mal distribuídos, a tal questão da produtividade que conta como parâmetro de avaliação. E podem-se ver cinco ou dez doentes e, se calhar, quatro desse leque precisavam de internamento ou de exames complementares e nem foram internados nem foram pedidos exames complementares, porque isso ia interferir no número de altas e aumentar os custos do hospital. Portanto, essa pessoa vai-se embora, é capaz de morrer a caminho de casa e acabou. O médico consciencioso que vê o doente, faz um bom diagnóstico, faz exames complementares e precisa de passar meio dia com esse doente, o trabalho desse médico é desvalorizado.
É neste panorama que nos encontramos hoje, quando uma pessoa de idade vai para um hospital. Depois, efectivamente, a pessoa, como lhe disse há um bocadinho, que sai da sua casa numa determinada idade, com um determinado ritmo, habituado à relação com as pessoas com quem vive, com o seu meio, o normal é que chegue a um hospital já desorientada ou porque teve um traumatismo craniano ou hemorragia, um trombo ou qualquer coisa na sua própria memória – pode, assim, momentaneamente, não ter a consciência ou não saber bem onde está. A tendência, obviamente, do pessoal de lá vai ser, sempre, achar que está louco, que não ouve nada, que não percebe nada e assim sucessivamente. Ou seja, isso era mais ou menos a mesma coisa que dizer a uma criança bebé, que está a choramingar e que dorme mal, que não, e os pais dão-lhe umas palmadas no rabo a ver se dorme melhor quando, por exemplo, está com as dores dos dentes a romperem. A criança não é capaz de falar e, por isso, chora como alerta. As pessoas que lidam com os doentes dessa forma nem sempre têm conhecimentos de como lidar com a primeira infância porque não se apegam à problemática psíquica que está subjacente aos comportamentos.
A psicologia cognitivo-comportamental tem ganho terreno a toda a força, porquê? Porque se agarra aos comportamentos. É o que interessa à sociedade, os comportamentos. Quando, afinal de contas, se considerarmos os comportamentos da criança, da pessoa normal ou da que é hospitalizada e não tem consciência, o que interessa é perceber qual a origem daqueles comportamentos. Há que ter a atitude de ir ao encontro do estado psíquico daquele paciente. Essa é a questão mas, efectivamente, a maior parte das vezes isso não acontece.
Mas a questão é, os psicólogos clínicos não deveriam ter uma actuação mais ampla nos hospitais ou serviços de urgência do SNS, sem ser, propriamente, em alguns serviços ou alas específicas, como a pediatria ou em Centros de Saúde?
Efectivamente, o psicólogo clínico deveria estar presente em todas as equipas de medicina e especialidade dos hospitais. Todas! Mas não está pela razão seguinte. Nós não apostamos hoje, no mundo ocidental, na medicina preventiva. A medicina preventiva não interessa. O que interessa é a medicina que actua sobre a doença. A medicina preventiva é o melhor investimento para a saúde, para a segurança, para a educação e para o bem estar das pessoas enquanto adultas. Esse pensamento não tem lugar na nossa cultura. São os laboratórios de análise, a maquinaria, os internamentos, e isso vai movimentar o que se chama a economia. Quando, já se sabe, há muitos problemas do foro psicossomático que, por não serem tidos em conta de forma adequada, podem levar a tratamentos médicos inadequados e desnecessariamente invasivos.
A medicina preventiva exigiria a presença da psicologia clínica e formada com competência nos diferentes serviços. A psicologia clínica deveria estar hiperpresente, hoje, na educação, na prevenção, nos bancos de hospitais, era um investimento extremamente valioso para a saúde e educação no nosso país e que seria benéfico para a economia da nossa própria Segurança Social. Agora, isso pode não interessar, porque se o interesse for a nossa economia, ah, então são precisos muitos medicamentos, muitas farmácias e assim sucessivamente. A questão é se queremos uma medicina curativa ou preventiva, essa é a questão.
Num internamento hospitalar prolongado, a noção de tempo altera-se?
Pois, com certeza que sim. O tempo está relacionado com os nossos ritmos. É um assunto extremamente interessante, porque o ritmo das noites, das estações do ano, da hora da refeição, da hora de se deitar, cria uma espécie de marca contra o caos. Portanto, quando alteram o estilo de vida de uma pessoa, a pessoa é enviada para uma certa desorganização psíquica. Ela já não se sabe situar. Podemos ter o hábito de jantar às 21 horas da noite e de adormecer à meia-noite. Temos tempo de fazer a digestão e dormir até às oito horas da manhã. Mas isso não vai acontecer num hospital. Depois é o doente do lado que chora, o outro que grita, ainda outro que chama pela enfermeira: portanto, estes ritmos são desorganizadores da temporalidade e, se uma pessoa estava já confusa ao entrar num hospital, fica ainda mais confusa depois de lá estar. Portanto, a noção de temporalidade prende-se com os nosso ritmos, os nossos ritmos prendem-se com as rotinas e, a partir daí, se isso for alterado por muito tempo, entra-se num agravamento.