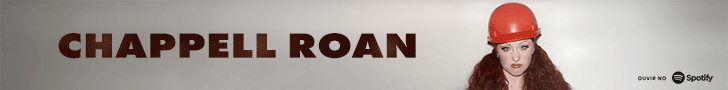Na minha aldeia

Somos um País demasiado pequeno para haver pessoas tão poderosas. A quantidade de pessoas que o Estado emprega, financia ou influencia decisivamente é uma crítica antiga, tal como o facto de os partidos no poder (e quase todos aqueles que querem lá chegar) quererem usar o poder para se consolidarem lá, nunca pondo a hipótese de reduzirem a influencia que têm na sociedade. Também no setor privado temos questões semelhantes, com uma mão cheia de grandes empresas a concentrarem peso suficiente para serem insubstituíveis e inimigos bastante indesejáveis.
Este não é obviamente um fenómeno exclusivamente português. De Nova Iorque a Shangai, vivemos uma era da concentração de poder, com governos cada vez mais fortes e centralizados e poder económico cada vez mais cartelizado e menos distribuído. Não é o primeiro momento histórico em que isso acontece, lembrando o fim do século XIX. Nessa altura, os Estados começaram a assumir cada vez mais funções sociais e económicas (nas comunicações, nos transportes, na expansão imperial e na capacidade militar) e poucas empresas viram lucros brutais que lhes permitiram dominar enormes setores de atividade, especialmente aqueles em que foram pioneiros.
Nos Estados Unidos da “Gilded Age”, os grandes milionários enriqueceram graças à inovação financiada pelo governo, aos materiais usados na inovação ao dinheiro que isso movimentou. As grandes fortunas eram na banca, nos caminhos de ferro e na produção de aço. Não sei se conseguem ver o paralelo.
Depois, estes milionários começaram a exercer a sua influência. A corrupção tomou conta de diversas administrações democratas e republicanas, os jornais eram subservientes ou mesmo propriedade destas pessoas. Isto levava a consequências óbvias, com determinados tipos de opinião a serem silenciadas como extremistas, nomeadamente a tentativa de aumentar a democraticidade das instituições (voto feminino, eleição direta de senadores), o fim do padrão ouro e a regulação dos monopólios. Estas ideias tomaram primeiro conta do Partido Democrata, que foi derrotado sucessivamente e depois chegaram à Casa Branca acidentalmente com Theodore Roosevelt, que deu o pontapé de saída num capitalismo mais humano, num Estado e num setor privado pouco dominantes sobre a opinião pública, num esforço ambientalista e num sistema devidamente regulado e cada vez mais democrático.
Em Portugal precisamos de um choque sistémico deste nível, que ponha em causa os poderes instalados e acabe com uma cultura democrática pobre. Não precisamos de ordem bruta como defende a extrema direita nem de transformação total como defende a esquerda mais radical. Precisamos que o Estado pare de esquecer a função de árbitro para jogar em todos os lances. O Estado tem de se focar na sua função reguladora e impedir concentrações de riqueza tão grandes que criam agentes económicos mais poderosos que o Estado. Tem de se conseguir separar do partido que está no poder, para que sirva uma agenda coerente e baseada em análise séria de riscos e benefícios, que possa ser consultada com facilidade.
Precisamos de uma revolução na transparência, na justiça e na equidade social, sob pena de o nosso sistema que tanto desenvolvimento e prosperidade trouxe, impluda de tanta desigualdade e tensão.
Muitos saberão falar melhor sobre reformas regulatórias, económicas, sociais e até políticas do que eu, portanto vou focar-me numa revolução de cultura democrática.
Sim, pus o “democrática” para não acharem que virei maoista. Uma revolução de costumes tem de começar com pequenas coisas. Começa a denunciar o que a bolha sabe que é óbvio e que as pessoas que estão na sua vida ignoram, a criticar as vaidades que se sobrepõem ao conteúdo, a incomodar os que evitam ser incomodados a todo o custo.
Vivemos numa pequena aldeia. Não podemos atacar alguém politicamente sem que essa pessoa se ofenda pessoalmente. Sem que nos contacte de alguma forma ou nos apareça na vida. Qualquer badameco com uma conta de Twitter, qualquer comentário de Facebook, enche os nossos atores políticos de preocupação e deixa-os sedentos de o silenciar ou limitar. Ainda temos muita cultura de respeitinho e muito provincianismo. O poder político ainda usa o acesso como moeda de troca para não ser chateado pelas questões que se impõem. Ainda usa a influência para dificultar a vida a quem lhe é inconveniente.
Sobram-nos os meios de comunicação independentes para não cairmos na teia de calculismos e interesses que limitam a criatividade e a liberdade de expressão.
É preciso combater o rumo que a história neste momento toma, de acumulação inexorável de poder por poucos. Porque podem ter a certeza que no dia em que ele cair em mãos realmente mal intencionadas (que já se começam a fazer a ele e a pedir ministérios em Portugal) vão-se arrepender de terem permitido que isto chegasse a este ponto. Vão arrepender-se de ter um Estado tão confundido com os partidos e tão dominante na vida coletiva que lhe fica apenas a faltar a força bruta para se assemelhar ao Estado Novo. De ter uma política tão mais preocupada com a imagem do que com as ideias que as conquistas materiais para os portugueses ficam todas por fazer. De ter uma Democracia feita de cartão, que não resiste a um verdadeiro (e eternamente adiado) banho de ética.
Nos Estados Unidos, nunca expurgaram realmente os grandes interesses económicos da ação política. Em Portugal, nunca expurgámos o absolutismo da ação política. Em ambos os casos aquilo de vez em quando rebenta. Podíamos pensar nisso.