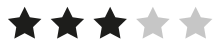“Os Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese: o massacre dos índios Osage e o nascimento do FBI

Este artigo pode conter spoilers.
Di Caprio e De Niro dominam neste neo-western de Scorsese.
Sim, “Maio é a época em que a lua mata as flores”. E é isso que lemos logo no primeiro parágrafo do best seller de David Grann, Os Assassinos da Lua das Flores, um good read imediato (aliás, gentilmente oferecido pela editora Quetzal no visionamento de imprensa). A obra agora adaptada ao cinema por Martin Scoresese, em colaboração com o habitual Eric Roth, concretizara o seu eterno desejo de fazer um western. E em que o subtítulo O Massacre dos Índios Osage e o Nascimento do FBI funciona como adequada descrição sobre o que se passa nos 206 minutos de fita (cerca de 3h30), apenas quatro minutos menos que o anterior O Irlandês.
É assim entre violetas, beldroegas e centáureas (as ’flores’ mencionadas do título e descritas do livro) que nos é servido este épico tête-à-tête entre DiCaprio e De Niro, devidamente acompanhado pelos piores defeitos do homem branco, como a ganância, o racismo e violência bruta. E que poderá ser visto, a partir do dia 19 de Outubro, num IMAX perto de si; seguindo depois para o streaming, em muitos casos, uma sala ainda mais perto de si, provavelmente, em formato de mini-série, como sucedeu com O Irlandês. E acompanhado pela chancela da gigante Apple (que terá assegurado os 200 milhões da produção), embora com o acordo de distribuição da Paramount.

Apesar do filme escapar à obra prima, são incríveis as primeiras sequências que nos revelam a realidade da nação índia Osage. Sobretudo o seu breve momento de vida abastada depois de ser descoberto petróleo nas suas terras, por volta de 1896, a coincidir com a descoberta (invenção) do cinema pelos irmãos Lumière no ano anterior. Embora, seja inacreditável que esta história verídica tenha sido ignorada e remetida para um mero fragmento e referência enciclopédica.
Bem andou David Grann, jornalista de investigação da prestigiada revista New Yorker, perito em histórias obscuras, ao iluminar este episódio digno de figurar nos mais incríveis contos do velho Oeste. Aliás, um trabalho na linha do obscuro The Lost City of Z, igualmente escrito por Gann, em 2009, e adaptado ao cinema por James Gray, em 2016.
O processo foi igualmente longo, e seria mesmo Leonardo DiCaprio a assegurar os direitos do manuscrito, como informam as notas de produção do filme, antes mesmo da publicação em livro, em 2016. E lançou a proposta ao amigo Marty que logo terá vislumbrou na sua mente o big Picture. Ainda assim, antes desse novo encontro, Leo haveria de filmar Era uma Vez em Hollywood, com Tarantino, tal como Scorsese deveria terminar a montagem de O Silêncio (2016) e até de produzir O Irlandês (2019). E até, para que se conste, só depois de Roth terminar a adaptação da sequela de Dune, para Denis Villeneuve (2001).

Mas voltemos aos Osage, a comunidade índia que remonta ao século XVII e que acabaria por se instalar no Midwest, fundando em 1907 o estado de Oklahoma, onde haveriam de decorrer, entre as décadas de 1910 e 1930, os assassínios de dezenas de índios abastados e proprietários de terras abençoadas, no período que ficou conhecido como o “reino do terror”.
O filme começa mesmo com uma pose para a fotografia. Aí vemos as famílias Osage orgulhosas, ostentando mantos adornados por jóias, diante de mansões luxuosas, servidos até por criados brancos, ou exibindo-se ao volante de modernos automóveis. Isto nesses primeiros anos da década de 1920, precisamente, durante o início da actividade do FBI, quando os Osage foram considerados “a nação mais rica do mundo”. Antes da cobiça dos caras pálidas comprovarem a informação do subtítulo do filme. Naturalmente, there will be blood a manchar este retrato demasiado prosaico da realidade do ‘ouro negro’ daqueles tempos.
E quem outro senão Scorsese para abordar semelhante tema? Fundindo a verdade histórica com o mundo da maldade e daqueles que se serviram dela para fazer crescer a nação (branca) americana? Aliás, a singularidade da história funciona como se o cineasta nos mostrasse uma realidade alternativa. Pelo menos, assim parecerá ao leitor que dispensou qualquer informação prévia ao filme. Aliás, num outro momento totalmente distinto, veremos uma sequência igualmente insólita em que a personagem de DiCaprio, Ernest Burkhart, um oportunista à procura de fama e fortuna, com problemas dentários e de intestinos, é copiosamente açoitada no traseiro com uma tábua diante do tio William Hale, com quem vem viver. Ele é, como se imagina, um De Niro imperial. E que irá sugerir ao sobrinho, no seu estilo falsamente manso: “podes tratar-me por tio, ou por king”.

Dir-se-ia até que este exemplar corretivo evocaria o primeiro encontro deste duo de atores, há precisamente 30 anos atrás, em A Vida Deste Rapaz, de Michael Caton-Jones. Embora seja oportuno referir que estes dois rostos mais habitués no cinema de Scorsese nunca antes haviam sigo captados em conjunto pela lente do mestre novaiorquino.
O alvo da cobiça maliciosa de King Hale será o desejo de aproximação aos direitos de propriedade das terras e das respetivas riquezas, os ‘headrights’. Só que estes direitos hereditários, colocavam alguns problemas aos seus proprietários, uma vez que os índios foram, convenientemente, considerados ‘incompetentes’ para a sua assinatura, só a podendo executar recorrendo a um guardião de cara pálida.
É aí que se escancara a porta aos marialvas e caçadores de fortunas, como Ernest Burkhart, regressado como veterano da Primeira Guerra Mundial que aterra na região dos campos de petróleo para se juntar a William ‘King’ Hale, um latifundiário local, embora, hélas, com terras limpas de petróleo, apenas calhadas para criação de gado. Ao sobrinho irá sugerir a corte à índia Mollie, numa prestação justíssima de Lily Gladstone (a mais justa nomeação aos prémios do cinema do final do ano). Antes dela própria ser visada pelas teias e intrigas de Hale e Burkhart.
De rei do gado, Hale passará a ser conhecido pelo ‘o reino do terror’, pela forma sibilina como foi introduzindo no sobrinho a mesquinhez de se acercar da possibilidade da herança desses direitos. É precisamente essa dúvida que fará com que o aparente amor que tenha pela mulher seja temperado por uma certa ambiguidade de fundo negro, de resto, reforçada pelas doses de insulina, com veneno, para combater a sua diabetes.

Scorsese vai gerindo, com um cinema suave toda esta narrativa, este longo lamento, devidamente traduzido pela banda sonora de Robbie Robertson, que se nos coloca debaixo da pele, como que a deixar ferver em lume brando, bem como pela montagem habitual de Thelma Shoonmaker, ainda que, sem gestos de cinema que nos fiquem na memória. Dir-se-ia, já conformado com um look entre a tela grande e a pequena. Ainda assim, apostará nos dotes interpretativos de DiCaprio, sobretudo na sua expressão facial contorcida, mais na parte final, a sublinhar o’boneco’ de dimensão hiper-expressiva. Curiosamente, compensando com um De Niro muito mais sóbrio que a sua notável galeria de ‘monstros’.
Curiosamente, é no final que Martin Scorsese nos reserva uma saborosa surpresa feel good, ao ensaiar este assombroso conto dentro da dramatização de espetáculo radiofónico, plena de efeitos sonoros, devidamente patrocinado por uma marca de tabaco, em estilo de história de true crime. Uma opção que acaba por funcionar, até para sublinhar o seu lado mais inacreditável, com o detalhe inédito do próprio realizador a aparecer numa inesperada cameo dirigindo essa dramatização final dos eventos. Finalmente, Marty tem o seu western. Pelo menos, o seu neo-western.