Reportagem. Músicos em dificuldades: como pagar uma sala de ensaio se nem consigo pagar a renda?
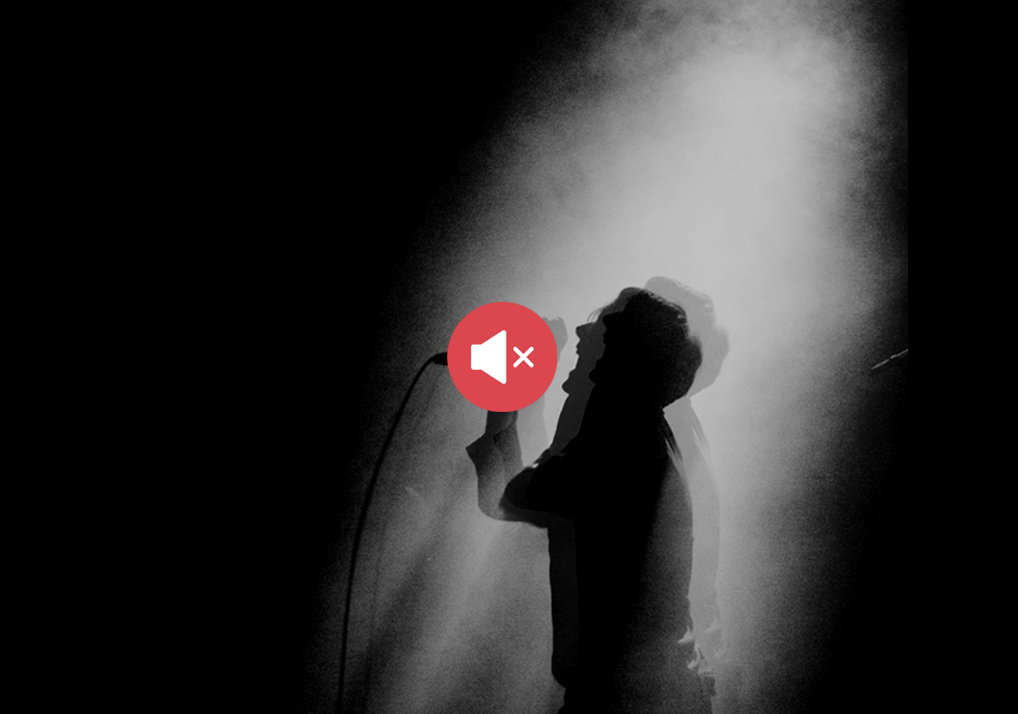
Não sei como costumam imaginar a origem das vossas bandas favoritas, mas a minha mente transporta-me para garagens cheias de pó e com pouca luz, ou para salas pequenas repletas de material velho e de suor dos corpos de inocentes, mas ambiciosos criativos.
Regra geral, o mito da superestrela, antes de chegar ao sexo, drogas e rock ‘n’ roll, começa com muito trabalho, pouco glamour e encafuado nestes pequenos espaços onde são criadas as bandas sonoras que vão acompanhar as nossas vidas.
No entanto, numa altura em que o custo de vida se encontra preocupantemente inflacionado, motivado pela guerra na Ucrânia (e não só), o acesso a estes espaços de ensaio são cada vez menos acessíveis a jovens músicos que ainda não conseguiram criar uma forma sustentável para sobreviverem.
Este fator, aliado ao aumento do preço das rendas, de bens essenciais e da energia, deixa a atual geração de músicos receosos de como poderão sobreviver e coloca mais interrogações do que nunca na viabilidade do seu percurso musical.
“Quando me mudei para Lisboa o preço das rendas já era absurdo”, recorda João Borsch, músico de 22 anos, natural da Madeira, que, em 2021, lançou o seu disco de estreia, Uma Noite Romântica com João Borsch.
Para alguém que tem as suas raízes numa ilha, o músico não tem hipótese de fazer uma simples “escapadinha” para casa dos pais de forma a poupar uns “trocos”, por isso, confessa-nos, este “é um problema impossível de ignorar”.
“Atualmente, estes valores estão ainda mais ridículos. Não existe uma justificação para praticar estes preços, é pura especulação, uma inflação sem sentido praticada por senhorios que estão a tentar lucrar ainda mais à custa de um direito básico da população”, acusou, acrescentando que esta luta, que se estende a toda uma geração de jovens que procuram começar uma vida na capital, é “um escândalo”.

Mas este não é um problema exclusivo da capital. João Martins, membro fundador dos Summer of Hate, que no ano passado editaram o seu primeiro álbum, Love is Dead! Long Live Love, utiliza, desde 2015, espaços do Centro Comercial STOP, no Porto.
Aqui existem mais de cem salas utilizadas para ensaios ou como estúdios e que se tornou uma espécie de incubadora musical do Porto, no entanto, a sua “estadia” neste sítio pode estar em risco.
Numa altura em que muito se fala sobre o possível encerramento deste Centro Comercial, devido a problemas estruturais que o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirma serem impossíveis de corrigir devido à falta de dinheiro, João Martins explica-nos que o encerramento deste espaço irá dificultar a vida da sua banda e colocará em risco toda a noite do Porto. “Mesmo que me consiga desenrascar e encontrar um sítio novo para ensaiar, todo esse processo ia atrasar muito aquilo que estamos a preparar, especialmente numa altura em que temos diversos concertos marcados”, explicou, alertando que se as portas do STOP encerrarem permanentemente “muitos projetos que vão, pura e simplesmente, acabar”, afirmou à Comunidade Cultura e Arte (CCA).
Complementou ainda que “o fim do STOP vai representar grandes problemas para a noite do Porto”, prevê o membro fundador dos Summer of Hate. “Vais perder muitas bandas que eram atrações em concertos, vai prejudicar técnicos de som porque não tem espetáculos onde possam trabalhar. Vai ser uma avalanche de problemas inimaginável”, enfatizou.

Tentar vingar em Lisboa
O autor de Uma Noite Romântica com João Borsch chegou a Lisboa em 2018, proveniente do Funchal, quando tinha 18 anos. Mudou-se para o continente para começar a sua licenciatura em Jazz e Música Moderna, na Universidade Lusíada, que, entretanto, terminou no ano passado.
A mudança para Lisboa trouxe muitos fatores positivos para as suas ambições. “A maior diferença que senti quando me mudei para a capital foi o maior número de oportunidades que existe, seja para ver concertos, para conhecer pessoas, ter oportunidades para fazer música”, conta-nos.
“No geral, foi muito mais fácil até para conseguir arranjar novos espetáculos ou para ser agenciado. A minha vida, a nível musical, desde que vim para Lisboa, teve um crescimento gigantesco”, disse, acrescentando que, atualmente, a sua maior concentração de fãs está em Lisboa.
O artista reconheceu ter tido “sorte” desde que chegou à capital porque teve acesso a diversas salas e espaços facultados pela sua faculdade, assim como de outros músicos com quem costuma tocar e que lhe permitem ter um local onde possa ensaiar e criar música nova: “Este costuma ser o refúgio de muitos músicos que conheço, pelo menos aqueles mais ligados ao mundo do jazz”, explica.
Contudo, agora que já não se encontra na Lusíada, este pode tornar-se um problema mais recente na sua vida.
“Quando não existia possibilidade criava alguns problemas. No meu caso, era um pouco ‘saltimbanco’, a saltar de sala em sala, mas num futuro próximo, terei de arranjar um local onde possa tocar com mais frequência, porque vou voltar a ter diversos concertos e como já não estou na faculdade não posso ensaiar lá. O meu problema agora vai ser arranjar um sítio fixo”, afirmou.
Quando precisa de pagar para utilizar outras salas de ensaio, João Borsch conta-nos que, normalmente, por duas horas de ensaio, cada membro do grupo paga cinco euros, o que totaliza 40 euros por ensaio. Para um jovem que ainda precisa de pagar renda e as despesas básicas do seu dia-a-dia, esta é mais uma despesa que vem dificultar a sua vida.
Questionado se ponderaria arranjar um segundo emprego para se conseguir sustentar, este reconheceu que não é uma ideia “descabida”, apesar de afirmar que, no momento, é algo impossível.
“Sinto que esta não devia ser vista como uma opção desprestigiante para qualquer artista”, confessou. “Este é o meio em que infelizmente vivemos, é muito complicado conseguirmos sustentar-nos apenas com os nossos trabalhos”, revelou, afirmando que, neste setor, é normal “encontrarmos músicos que tenham um segundo emprego”, por exemplo, a dar aulas, a fazer concertos em outros projetos que não sejam o seu, ou até mesmo noutra área, a trabalhar em lojas ou na área da restauração, referiu.
“É muito comum no meio do jazz ou mais académico é a possibilidade de arranjar mais facilmente um local onde seja possível dar aulas”, disse. “Diria que, em Portugal, músicos que não tenham rendimentos que venham de dar aulas até são uma minoria”, complementou.
Sobre esta situação angustiante e com o receio de que, de um momento para o outro, fique impossibilitado de pagar a sua renda, João Borsch escreveu a canção Douradinhos, que surge no seu disco de estreia, onde canta: “Tão bonito o meu quarto ao sol / Mas eu vou rumo a um buraco melhor / Porque a renda já nem é transparente / A cidade é grande, mas o bolso é maior”.
Acrescentou que foi a primeira canção que escreveu “quando me mudei para Lisboa”, recordou, “e surgiu precisamente neste contexto”.
Continuou que “toda a letra fala sobre o choque de ser um estudante deslocado, ter que encontrar um quarto, dar-me de caras com todos estes preços absurdos e sobre as consequências que isso pode ter”, explica.
“Existe uma parte da letra onde canto: ‘Apegar-me aos lençóis para quê / Não vá outro gostar do colchão / Há lugar por cá para toda a gente / Mas a cidade é que paga a lição’. É engraçado olhar para esta letra agora, passado estes anos todos, e pensar nas questões dos nómadas digitais que se estão a mudar para cá e, em contraste, com os despejos que tem acontecido”, reflete entre risos.
O músico descreve como em Lisboa se vive “um momento em que inquilinos são simplesmente descartáveis para construir casas e residências para pessoas que estão com melhores condições financeiras que se estão a mudar para cá”, um fator que contribui para a descaraterização da cidade.
“Mesmo não sendo de Lisboa, quando vou para a Baixa é possível sentir uma completa descaraterização da cidade, não sinto que estou rodeado de portugueses ou pessoas que vivam em Portugal, mas sim de pessoas que vem cá passar umas ‘férias de trabalho’”, confessa o músico.
“Por causa disso, muitos perdem o interesse de visitar estes sítios na cidade. Parece que perde toda a identidade que torna a cidade tão interessante e faz crescer o turismo e prejudica as pessoas que estão estabelecidas na cidade”, revela.
Não é fácil conciliar pagar uma renda em Lisboa com uma carreira artista, uma opinião partilhada por Francisca Ribeiro, que assina com o nome artístico Chica, e que também tem adotado esta luta como um dos motes da sua carreira musical.

A primeira música lançada pela artista e que fez despertar a atenção de muitas pessoas para os seus talentos foi Brincar Com o Cão, lançada em 2020, escrita um dia depois dos despejos de diversas pessoas na condição de sem-abrigo da Seara (Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios), em plena pandemia.
Chica é natural de Arcos de Valdevez, uma vila de Viana do Castelo, e mudou-se para Lisboa, em 2016, para estudar Ciência Política na Nova FCSH.
Quando chegou a altura de começar a ensaiar com mais intensidade para se preparar para concertos e para editar o seu primeiro EP, Cada Qual No Seu Buraco, editado no ano passado, esta passou por diversas salas de ensaio, incluindo a sala principal do espaço noturno, Desterro, e espaços dos estúdios da Cafetra Records, no Bairro Alto.
A cantautora descreveu-nos como às vezes é difícil conciliar as despesas da sua vida com ainda ter de pagar para utilizar uma sala para fazer música: “Tenho um trabalho na restauração, em regime de part-time, mas praticamente só me dá para pagar a renda e cobrir as contas, não me chega para mais nada”, explica, referindo que foi uma escolha que fez de forma a ter mais tempo para dedicar à sua arte.
A cantora minhota acrescenta que também foi uma “escolha” estar a viver num quarto interior e pequeno “onde quase que só cabe a cama” de forma a pagar uma renda mais baixa, 200 euros, para poder continuar a trabalhar neste regime.
“Assim, no final do mês, ainda me sobra dinheiro para pagar a sala de ensaio” e ainda “sobram uns dias por semana para escrever”, afirma, reconhecendo que nem sempre é fácil encontrar a energia para ser produtiva depois de um dia de trabalho.
Enfatiza ainda que “é muito complicado, mesmo em part-time, encontrar as rotinas apropriadas para a criação artística”, confessa. “Existem situações onde entro às 17h e saio tarde, depois, no dia seguinte, acordo mais tarde para conseguir descansar, mas já são quase horas de voltar a ir trabalhar”, ilustra.
Continua que “nem sempre tenho o espaço mental para a criação artística e acaba por ser um processo bem mais lento em comparação quando posso estar semanas apenas preocupada em fazer música”, diz.
Apesar de ter conseguido, durante o Verão, juntar algum dinheiro devido aos vários concertos que teve, que aproveitou para investir em material musical e na criação do disco, mas também na sua vida pessoal, e de conseguir receber alguns apoios da GDA e do SPA, existe sempre algum receio por parte da artista de ter de regressar para os Arcos de Valdevez caso a sua situação financeira deixe de ser sustentável: “Já tive de voltar antes por causa da pandemia, foi inclusivamente lá que comecei este projeto”, esclarece, “mas tenho de ficar em Lisboa para manter a minha carreira, não há grandes hipóteses porque tenho aqui a minha comunidade musical, e é um trabalho que não conseguiria estar a fazer sozinha em Arcos de Valdevez”.
Continua que “ainda por cima porque não sei que trabalho é que conseguiria ter caso voltasse para lá”, admite.
Quando perguntamos a Chica se esta pretende continuar a cantar sobre estas questões e lutas nas suas canções, esta ri-se e explica-nos que são reivindicações que já tem séculos, por isso, às vezes é difícil encontrar novos e interessantes ângulos para explorar.
Confessa que “às vezes já não sei para quem é que estou a cantar. Sinto que faço estas canções para outras pessoas se identificarem e não para atacar as pessoas que estão nas posições de poder, porque essas já sabem o que estão a fazer. É mais para tirar um certo véu de uma experiência coletiva”, reflete.
O fim da noite no Porto?
Apesar de ter começado a fazer música em Espinho, a sua terra natal, com o passar do tempo, João Martins, que também assina artisticamente como Father John Misery, sentiu a necessidade de passar a ensaiar no Porto, onde, naturalmente, passou a adotar o STOP como o seu espaço criativo.
Entre as centenas de salas deste centro comercial, o membro fundador dos Summer of Hate revela-nos que já passou por cinco espaços diferentes. Alguns eram maiores, demasiado grandes até, e outros eram tão apertados que mal havia espaço para os artistas depois de instalado todo o material, mas o que tinham em comum todos estes compartimentos era uma coisa: a acessibilidade.

“Uma das grandes vantagens do STOP são os preços acessíveis para os músicos e que mal têm aumentado ao longo dos tempos”, explica. “A sala mais cara que utilizei foi a primeira quando me mudei para lá, pagava 250€ por mês, a dividir com mais três pessoas, mas era demasiado grande”, descreve o músico.
Complementa ainda que “na segunda sala paguei 120€, mas desta vez era demasiado pequena, era uma tira com pouco espaço. A terceira pagávamos 125€, mas como éramos 15 pessoas na sala ficava mesmo muito barato. Neste momento, mudei-me para uma sala onde pago 150€, a dividir por sete pessoas”, expôs.
O músico afirma que o STOP, devido à sua acessibilidade, é um espaço muito importante para a cultura do Porto, servindo não só como uma incubadora de projetos, mas também como um armazém de material (confessando-nos que tem medo de guardar o seu precioso amplificador Twin Reverb a válvulas em casa porque os seus gatos podem destruir os seus cabos) e de ponto de encontro entre músicos provenientes de classe trabalhadora.
Para João Martins, o fim do STOP pode também significar o fim de uma importante parte da noite do Porto: “As bandas mais pequenas, com caches mais curtos, vão deixar de conseguir apresentar a sua música porque não tem um espaço onde possam ensaiar, só as bandas mais consagradas é que vão ter essa capacidade. Mas essas não vão tocar de graça e vão pedir muito mais dinheiro”, começou por exemplificar neste efeito de “bola de neve”.
“A noite do Porto vai sofrer muito porque vão acontecer muito menos coisas. Os concertos vão acontecer com menos regularidade. Vai haver menos pessoas a ir a menos a bares, menos consumo de álcool, o que vai trazer problemas também às pessoas extra-banda. Vai-se gerar uma mentalidade de ‘cão come cão’”, lamentou o músico, receando que o Porto volte a ser o “deserto cultural” registado durante a administração de Rui Rio.
Avaliando quais seriam as suas opções após o possível encerramento deste centro comercial, João Martins, que chegou a estar em cinco bandas ao mesmo tempo para se sustentar (confessando-nos que teve de abandonar alguns destes projetos porque já não aguentava esta carga), afirma que, por exemplo, regressar a Espinho para ensaiar seria impossível porque “se o mercado imobiliário no Porto está horrível, então em Espinho está muito pior”.
Segundo avisou, “se tivesse dinheiro ou se existisse um subsídio de base universal, onde todas as pessoas tivessem dinheiro para sobreviver e para investir, se calhar pensava em abrir um espaço onde todos pudessem ensaiar, mas, para já, é impossível”, admite. “Vivemos num período muito selvagem e desregulado do capitalismo. Não existe um teto máximo sobre as rendas. Portanto, é muito complicado”, complementou o músico.
Estas dificuldades podem ser demasiado para os músicos conseguirem ultrapassar e, em muitos casos, representam o fim dos seus sonhos e ambições artísticas: “Conheço pessoas que queriam ser músicos, mas nunca conseguiram alcançar este objetivo e, por muito bem-sucedidos que estejam — com uma casa, família, a conta recheada — é possível notar que no olhar deles falta qualquer coisa, é uma frustração enorme”, descreve. “Esta sensação de deixar os sonhos para trás deve ser algo que deixa uma pessoa doente”, referiu João Martins.
Da Covilhã para as Caldas, de Coimbra para Gaia
Quando Moisés Feliciano se mudou para a Covilhã, para estudar cinema na Universidade da Beirã Interior, dificilmente, este imaginaria que seria noutra área artística que começaria a dar cartas.
Tal como Cher ou Madonna, apenas munido com o seu primeiro nome enquanto alter-ego musical, Moisés começou a criar rimas e batidas no seu quarto e, em pouco tempo, começou a publicar as suas primeiras músicas em plataformas como o Bandcamp.
Este processo culminou, em abril de 2022, no lançamento do seu disco de estreia, Valsa Até ao Fim, um álbum de hip-hop experimental marcado por batidas industriais e uma interessante experimentação vocal.

Na cidade beirã, o rapper e produtor revela-nos que fez a sua música sempre em casa, não só porque sente que esta é a melhor forma de captar o ambiente intimista das suas canções, mas também porque não tem hipóteses de conseguir cobrir o preço de salas de ensaio ou estúdios de gravação: “Preços de estúdios de gravação são ridículos e não tenho esse tipo de posses em meu nome”, explicou-nos Moisés, acrescentando que estes valores vão “para além do dinheiro gasto em tempo de estúdio”, referiu.
Acrescentou que “é também preciso pagar a engenheiros, profissionais para misturarem e masterizarem as tuas músicas. Como não tenho a possibilidade de estar a pagar a outras pessoas para fazer este tipo de trabalho, aprendi sozinho a fazê-lo”, revelou, tendo ainda afirmando que nem sequer procurou uma sala onde pudesse ensaiar, algo que se deveu tanto por “preguiça”.
Falando sobre os tempos que passou nesta cidade, Moisés queixa-se sobre a falta da oferta cultural, afirmando que não havia uma oferta musical com que se conseguisse identificar, exemplificando com os concertos “formais” organizados pela câmara ou pelo teatro municipal ou os eventos académicos, como a Receção ao Caloiro ou a Semana Académica.
Depois de terminar o curso regressou à sua terra natal, Caldas da Rainha, onde, pelo seu tom de voz, dá para perceber que se identifica mais com esta cidade.
“Há muitos eventos a acontecer nas Caldas e muito mais oportunidades para mim como artista musical”, afirma. “Há mais oportunidades de conseguir dar concertos mais pequenos e existem festivais como o Impulso ou o Caldas Late Night. Há sempre alguma coisa a acontecer e explora todos as variantes da cultura, como eventos dedicados à pintura, escultura, música ou cinema”, avançou.
Instalado nesta cidade, Moisés continua a realizar o seu processo criativo em casa onde, conta-nos, se sente mais à vontade. Contudo, já apanhou um susto: “Estava nesta casa, há cerca de duas semanas, e vieram bater-me à porta. Era a filha da minha vizinha de baixo, uma senhora que deve ter uns 80 anos, e veio avisar que estava a fazer muito barulho e que tinhas as paredes a abanar”, recordou. “Fiquei mesmo preocupado. Já estava a pensar que ia ter de gastar centenas de euros a preparar e isolar este meu espaço para poder fazer música”, confidenciou.
Felizmente, nada disso foi necessário. Teve mais cuidado com o volume e não voltou a incomodar ou a ser incomodado pelos vizinhos. Mas, para o autor de Valsa Até Ao Fim, esta história podia ter tido um desfecho bem menos feliz.
O músico explica-nos que não tinha forma de conseguir comprar material de isolamento. Quando questionado pela CCA se o dinheiro que fez com a sua arte permitiria financiar este custo, Moisés riu-se (uma reação comum entre todos os entrevistados para este artigo): “Consigo dizer que, em termos de streaming, em toda a minha carreira, e eu comecei a fazer música em fevereiro de 2020, no total fiz 30 dólares. Acho que isso responde perfeitamente à pergunta”, reforçou.
Apesar dos seus esforços no mundo da música e de ter uma licenciatura em cinema, Moisés neste momento está a trabalhar em part-time no Continente. Na Covilhã chegou a trabalhar no McDonalds.
Apesar de reconhecer que aufere de um salário “horrível para viver”, pelo menos consegue sustentar e ter tempo para dedicar à sua carreira e à sua vida pessoal.
Contudo, este tem noção de que se os custos do seu dia-a-dia continuarem a aumentar e este se vir obrigado a adotar um trabalho a tempo inteiro, isto pode significar o fim da sua curta carreira musical.
“Tenho noção que, a partir do momento em que começar a trabalhar num full time, a minha vontade e energia para conseguir fazer arte vai diminuir bastante. Tenho receio desse momento”, confessou o músico.
Perguntámos ao músico se ele estaria disposto a mudar-se para uma cidade maior de forma a conseguir mais propostas na área da música, mas Moisés, apesar de confessar que já pensou nessa possibilidade, este afirma que é um cenário muito complicado.
“Se tiver de me mudar para uma cidade maior vou ter de trabalhar a tempo inteiro, porque é impossível conseguir pagar uma renda com o dinheiro que ganho na música”, lamentou, mas acrescentou que, ao viver nas Caldas, conseguiria dirigir-se até, por exemplo, Lisboa, em pouco tempo.
“Gostava de estar numa cidade maior, mas, honestamente, agora estou bem aqui. É mais barato e se surgir alguma oportunidade para ir tocar a Lisboa consigo deslocar-me para lá em cerca de uma hora e voltar, o que é fantástico”, expôs.
Mas nem todos os músicos optaram pela mesma solução, como é o caso de Miguel Vale, vocalista e guitarrista de Mike Vhiles, uma banda que funde os elementos mais alucinantes de estilos como o garage ou o stoner rock para criar músicas bem musculadas.

O músico e os restantes membros do conjunto, João Vilas Boas e André Figueiredo, naturais de Coimbra, sempre fizeram a sua carreira musical nesta cidade, mas, agora, estão em vias de se mudar para o Porto, Miguel Vale, inclusive, conta-nos que já está a viver em Gaia.
“A banda gostava muito de continuar a contribuir para a cultura conimbricense e, como se diz, a levar Coimbra para o mundo, mas sentimos que não vai ser possível tendo em conta o panorama musical atual da cidade”, reflete.
Antes de chegar aos Mike Vhiles, que estão prestes a lançar o seu disco de estreia, Mystic Dream Sequence, a meio de março, o músico esteve em diversas bandas, os Wasting Time, BunnyMan on a Pony ou os Bitoque.
Ao longo deste percurso, Miguel passou por diversas salas e espaços de ensaio em Coimbra, como a Osga Turca, espaço que foi encerrado em 2017, que ficava no centro de Coimbra, perto da Praça da República; no Centro Comercial Avenida, que custava cerca de 6€ a 7€ à hora; a Music Light, uma opção mais cara, “que criava algumas dificuldades”, uma vez que, na altura, eram “desempregados e músicos precários”, e em diversas garagens.
“Isto é algo muito comum em Coimbra”, afirma Miguel, “existem vários sítios, mas que não tem condições para a prática da música”, recordando os momentos em que tocou numa garagem que ficava no piso -4, ao lado da Loja do Cidadão.
“Era ótimo porque ninguém se queixava do barulho, mas o som era horrível porque tinha uma porta de metal. Não existia a qualidade necessária para fazer justiça ao nosso material e para perceber de facto o que é que tínhamos em mãos”, lamentou.
Nos últimos tempos, os Mike Vhiles encontram-se a ensaiar em casa de Vilas, o baterista, que conseguiu criar um estúdio em casa, uma decisão tomada uma vez que “deixou de haver espaços decentes em Coimbra que sejam minimamente baratos à hora ou com qualidade, privacidade e ambiente criativo” que precisavam, criticou Miguel.
O músico fala com algum desencanto sobre a atual cena musical conimbricense, afirmando que os dias das bandas com espírito mais DIY, como os Tédio Boys ou os Parkinsons, estão a “desaparecer” e que, atualmente, os grupos que existem são muito “territoriais”.
“Os músicos da velha guarda, obviamente, mantêm essa postura e isso é muito positivo. Gosto bastante de falar com eles e partilhar ideias, às vezes acontece encontrarmo-nos na noite e falar sobre como estão as nossas bandas, mas é uma coisa que está a desaparecer e está a criar-se uma cena que não seja assim tão agradável e benéfica para a cena conimbricense”, reconhece.
Todas estas razões levaram Miguel a mudar-se para Gaia, onde, atualmente, trabalha como analista de qualidade do apoio ao cliente e formador do customer care para uma empresa farmacêutica, um trabalho anti-rock, como costuma descrever Manuel Molarinho, membro dos Baleia Baleia Baleia e amigo da banda.
Apesar das vantagens em mudarem-se para uma cidade maior, como estarem mais perto do seu público-alvo, da sua editora e de existirem mais oportunidades para darem concertos, existem várias dificuldades inerentes a este processo: “O dinheiro que eu ganho enquanto trabalhador precário é gasto em comida e na renda, mas também em viagens para Coimbra”, afirma. “Tenho que ir uma vez por semana para ensaiar, mas como saio do trabalho às 18h, para estar lá a uma hora decente muitos vezes tenho de utilizar a autoestrada, que é mais um custo, assim como dinheiro em gasóleo. Chego ao fim do mês com o cinto apertado”, reforçou.
As portas que se abrem em Londres
Apesar de ainda não ter uma grande presença em Portugal, tendo um dos seus concertos mais mediáticos por cá acontecido no ano passado no NOS Alive, no Palco Coreto, destinado a promover jovens promessas da música nacional, Raquel Martins, que já esteve no festival We Out Here do conceituado radialista Gilles Peterson.

A cantora e guitarrista portuguesa que se mudou para o Reino Unido aos 17 anos, mal acabou o secundário porque “na altura ser música profissionalmente não parecia ser uma possibilidade e senti que em Londres iria ter muito mais oportunidades alinhadas com o tipo de música que queria fazer”, um misto de R&B, com jazz e alguns toques de bossa nova.
Apesar de algumas dificuldades que se colocaram no início do percurso e de reconhecer que existiram algumas experiências que a podiam ter desviado do seu “caminho”, agora, Raquel afirma que está com os pés mais assentes na terra e, depois de ter lançado o seu primeiro EP em 2021, The Way, lançou o seu sucessor, Empty Flower, no passado dia 17 de fevereiro.
Desde que se mudou para a capital britânica, Raquel Martins tem alugado salas de ensaios ou, caso o material seja mais pequeno, consegue praticar na sua casa, “mas sempre que envolve bateria fica impossível por causa do barulho que incomoda os vizinhos”, conta.
A artista descreve como no Reino Unido existe um número maior de salas de ensaios, o que é normal, visto que se trata de um país maior, e em termos de custo argumenta que, apesar de serem um bocado mais caros, são “proporcionalmente equivalentes”.
Esta revela ainda que existem diversos apoios financeiros para artistas e jovens músicos, no entanto, nem sempre é fácil aceder a estas “muletas” uma vez que “é muito difícil ser selecionado porque há muita competição”.
Sobre se tem sentido dificuldades acrescidas no seu estilo de vida com o aumento da inflação, esta revela que se sente “uma grande diferença do custo de vida”, acrescentando que isso tem vindo “a alterar a maneira como os artistas vivem”.
“Isto sente-se especialmente entre músicos, uma vez que os rendimentos não são fixos e muito inconstantes. No meu caso todo o dinheiro que faço é investido na minha carreira, então fica bem mais complicado ter margem para poupar”, explica.
Contudo, apesar desta dificuldade em conseguir juntar algum dinheiro, Raquel confessa que consegue sustentar o seu estilo de vida com o dinheiro que faz com a música e acrescenta que, desde que abandonou Portugal, todos os trabalhos que teve foram relacionados com música. “Existem muitas coisas diferentes que se podem fazer por aqui”, descreve.
Questionada se ponderaria regressar a Portugal caso deixasse de ter capacidade para sustentar as suas próprias despesas e gastos, a sua resposta foi muito simples: “não”.
E o povo pá?
Depois de tanto falar sobre as dificuldades que tem passado ao longo da sua carreira, questionámos estes músicos sobre como olham para os seus colegas de profissão que vem de meios mais abastados e tem mais facilidades ao longo do seu percurso artístico, uma vez que não precisam de se preocupar em ter de arranjar um segundo emprego ou com as despesas das rendas.
Preocupa os jovens músicos portugueses que as próximas gerações musicais sejam mais privilegiadas e desligadas de uma consciência de classe?
“Esta é uma realidade que já vivemos há muito tempo em Portugal, mas essa sempre foi a realidade da música”, afirma João Martins, numa opinião que ecoa os sentimentos expressos por todos os músicos citados neste artigo.
“Isto é algo que me preocupa porque sei o que é nós tivemos de lutar para chegar aqui”, descreve Miguel Vale. “Eu tenho bandas há quase 12 anos, e nunca conseguimos chegar ao ponto em que estamos e não chegámos a lado nenhum”, lamenta.
“Sendo as condições básicas de cada vez mais difícil acesso, seja para pagar a renda de uma casa, para comprar comida ou o passe de transportes públicos, como é que uma pessoa que não tem condições financeiras ou familiares para o ajudar se pode focar em criar artisticamente?”, interroga-se Chica. “Essa pessoa vai precisar de um trabalho full-time e não vai ter tempo para dedicar à composição”.
A cantautora minhota explica-nos que existe um paradoxo na carreira dos músicos no que toca à forma como gastam o seu tempo.
“Existe um paradoxo no trabalho criativo. Este tem de ser capitalizado, tem de ser vendido, porque precisamos todos de dinheiro e é um processo que leva imenso tempo e que nem sequer é remunerado”, começa por explicar.
“Somos pagos em concertos onde tocamos músicas que, às vezes, demoramos anos a criar. Só nesses momentos é que estamos a gerar dinheiro, nos outros, não estando a gerar dinheiro com a criação, temos de estar a trabalhar noutra área”, recorda.
“Se tivermos um posicionamento mais privilegiado onde familiares possam cobrir as contas enquanto vamos atrás do seu sonho isso pode criar uma certa vantagem para quem já está mais favorecido”, conclui. “Isto são questões de classe que se vão acentuar cada vez mais com o passar do tempo”.
Em relação ao que gostaria de verem ser feito para atenuar estas dificuldades, João Martins fala sobre a necessidade de existirem espaços para ensaiar mais acessíveis e um subsidio universal que ajude as pessoas a garantir as suas necessidades básicas, Moisés apela a uma maior exposição por parte de meios de comunicação e Chica apela a rendas mais baixas, um salário mais justo num horário de trabalho menor e que ofereça mais tempo livre às pessoas, mas deixa claro que o mais importante é implementar medidas que funcionem a longo prazo.
“É tão fácil estes avanços serem todos quebrados e termos de voltar atrás. Basta uma mudança de um governo, o apertar de uma crise e os apoios ligados à arte são os primeiros a serem deitados por terra”, acusa.
“Não acredito nestas soluções de média-rés e que se limitam a tapar buraquinhos. São necessárias medidas mais estruturais”, sublinha.
Mesmo com estes entraves colocados aos músicos que entrevistámos, existe um sentimento que é partilhado por todos: a vontade de continuar a fazer música.
Em garagens, nos seus quartos ou onde quer que seja, estes artistas prometem continuar a lutar para se poderem expressar e criar as canções que nos acompanham e a fazer sonhar num mundo melhor.
A luta continua, mas a música também.
