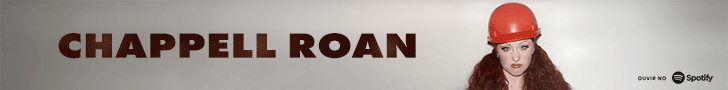Se é precisa uma vila para educar uma criança, é precisa uma vila para abusar dela

O mundo está em constante mudança. Os últimos anos em especial têm sido repletos de mudanças políticas e sociais. Podia dizer que, aos poucos, se torna um lugar melhor. Ao mesmo tempo, torna-se impossível dizê-lo sem soltar uma gargalhada de quem não acredita no que é dito.
Estas mudanças ainda não se veem, infelizmente, nos sistemas que regem as nossas vidas. Pelo menos, ainda não na magnitude que desejaríamos que se vissem. Um dos maiores exemplos desta inércia de sistemas é o abuso sexual infantil, no antes (a enorme ineficácia na prevenção), no durante (o fracasso no ensino e dádiva às crianças de meios de denúncia e do ambiente a ela propício) e no depois (o ainda mais redondo falhanço no acompanhamento que deve ser prestado às vítimas após a denúncia).
Em pleno 2022, temos já dados e conhecimento sobre o fenómeno do abuso sexual infantil que se diriam mais que suficientes para trabalharmos, enquanto sociedade, em programas de prevenção de abuso que fossem realmente eficazes nessa prevenção. No entanto, ainda aqui estamos. Com um pouco mais de abertura para falar disto do que os nossos pais tinham há 30 anos e do que os nossos avós tinham há 50, é certo. Mas ainda não é suficiente. Não quando diariamente se descobrem novos casos, alguns entre famílias, outros em instituições base do Ocidente e que teríamos como confiáveis, por mais ingénua que seja essa crença. Não quando estes casos que todos os dias vêm a descoberto são varridos para debaixo do tapete ou olhados com o mesmo desdém de há 30 anos, em particular por mentes pequenas, bafientas, amarradas ao patriarcado e presas num contínuo de indiferença de quem não sente dor ao ler e ouvir as histórias horripilantes de crianças abusadas desde tão pequenas, de quem protege as instituições em que estas histórias se desenrolam, de quem ignora as vítimas de atos comummente vistos como tão cruéis.
Em primeiro lugar, haver prevenção é necessário consenso na definição de abuso sexual de crianças. A National Child Traumatic Stress Network descreve o ato como “qualquer interação entre uma criança e um adulto (ou outra criança) em que a criança é usada para estimulação sexual do perpetuador ou de um observador. O abuso sexual infantil pode incluir comportamentos de toque e de não-toque. Os comportamentos de não-toque podem incluir voyeurismo, exibicionismo ou exposição da criança a pornografia.”. No Código Penal Português está escrito, no Artigo 171.º, que qualquer “acto sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com outra pessoa”, de “cópula, coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos” e de “atuar sobre menor de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espectáculo ou objecto pornográficos”, “aliciar menor de 14 anos a assistir a abusos sexuais ou a atividades sexuais”. E, claro, praticar qualquer um destes atos com intenção lucrativa. Mas de que nos servem tais definições quando um Tribunal da Relação decide que funciona como atenuante à sentença de um professor de inglês condenado por “sentar ao seu colo alunas do 3.º e 4.º anos de escolaridade, aproveitando para acariciá-las em zonas íntimas, por fora ou por dentro da roupa” o facto de, supostamente, os atos não terem o “relevo exigido” para ser considerado crime de abuso sexual de crianças e terem ocorrido “apenas uma vez”?
Falar em educação sexual nas escolas desde muito cedo não se trata, como alguns parecem acreditar, de ensinar crianças do 1.º ano de escolaridade a praticar atos sexuais. Parece óbvio, mas talvez não o seja assim tanto para quem tão acerrimamente acusa os “movimentos woke” de serem pedófilos e pervertidos. Educação sexual não é, nem pode ser, ensinar 20 estudantes numa sala a colocar um preservativo numa peça de fruta e chamar a isso “ensino”. O que se defende — e, na minha opinião, o que é bom senso para qualquer indivíduo e comunidade cujo objetivo seja a proteção e empoderamento de crianças e jovens para que se sintam seguros para dizer “não” e para denunciar quando a sua vontade não é respeitada — é que se lhes dê o conhecimento, as ferramentas e o ambiente propício às denúncias. Conhecimento sobre o próprio corpo, sobre o certo e o errado. Métodos para avaliar situações, intenções e acontecimentos. E, logicamente, um ambiente em que se sintam seguros, confiança nos adultos que os rodeiam e devem ajudar.
Sabemos que a esmagadora maioria dos casos de abusos sexuais de crianças acontece por pessoas que a elas lhes são próximas — sejam do seio familiar, círculo de amigos da família, entre outros. Já em 1988, o estudo de Dubé e Hébert sobre 511 casos de abuso e negligência infantil afirmava que 78% dos casos estudados envolviam agressores conhecidos das vítimas, enquanto apenas 22% envolviam estranhos. Mais recentemente, as estatísticas do Projeto CARE de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual da APAV entre 2016 e 2021 mostravam que, dos 28.247 atendimentos realizados, 51% dos casos aconteceram em contexto intrafamiliar; apenas 7,5% foram cometidos por pessoas desconhecidas.
Defender a ideia de que este género de conversas e ensinamentos devem estar reservados ao meio familiar é ignorar que nem todas as crianças provêm de espaços e casas seguras, em que existe abertura e confiança suficiente para a sua existência. É ignorar que, não, as crianças não pertencem ao Estado, mas também não são propriedade da família. Não são objetos nem extensões dos progenitores ou parentes que delas cuidam. São, sim, seres próprios, individuais, com sentimentos, emoções e capacidades que os distinguem de meras caixinhas de órgãos e vasos sanguíneos. E é, sim, da responsabilidade do Estado assegurar que estão seguras e conscientes o suficiente para terem vidas decentes, livres do sofrimento que causa o trauma sexual, por mais que o conservadorismo bafiento e problemático que reina em Portugal (e, leia-se, no Mundo) queira manter as crianças numa bolha que não faz mais do que magoá-las.
Assim, devemos exigir educação sexual adequada e programas de prevenção de abusos sexuais eficazes nas nossas escolas. E, claro, dar voz a quem disto melhor compreende. Por mais importantes que sejam os professores de Português, História, Matemática ou Educação Física, não estão treinados para tal. É necessário que os responsáveis por estes programas tenham as qualificações, empatia e paciência necessárias à educação de crianças que, como sabemos, não são sempre os mais fáceis de ensinar. E é necessária também a formação de todos os professores e educadores de qualquer área para que consigam, também eles, avaliar e ajudar os seus alunos da melhor forma possível. Afinal, os alunos do 1.º ciclo, por exemplo, passam muitas vezes mais tempo com professores, educadores, auxiliares e/ou responsáveis de centros de estudos do que com os próprios pais e restantes familiares. São até, muitas vezes, pessoas em quem as crianças confiam mais do que na própria família. Se todos os responsáveis por educação da vida de uma criança abusada souberem reconhecer os sinais e sintomas de abuso sexual, que se manifestam de tantas e tão diferentes formas (dependendo da criança, do meio, da sua educação), não será mais provável a descoberta do caso, respetiva denúncia e acompanhamento da vítima e do processo? Formação adequada a todos os profissionais de educação não facilitaria toda a situação?
Enquanto, como sociedade, preferirmos dar voz a ideólogos (e, diga-se, tudólogos) retrógrados e tradicionalistas (em todos os sentidos pejorativos possíveis que a palavra possa ter) ao invés de pessoas experientes e com conhecimento, corremos o risco de sermos coniventes com casos de abuso sexual. É, no fundo, dizer a todas as vítimas que, enquanto sociedade, não falhámos, que não temos responsabilidade na falta de meios de denúncia e na falta de qualificações dos adultos que as rodeiam e que não viram os sinais.
Crianças ignorantes relativamente ao próprio corpo são crianças caladas quando são abusadas — e é assim que os abusadores as querem.
Crónica de Joana Fernandes.
Licenciada em Línguas e Relações Empresariais pela Universidade de Aveiro, ativista feminista e pelos sobreviventes de violência sexual.
O título desta crónica é uma referência directa ao filme “Spotlight” (2015), realizado por Tom McCarthy.