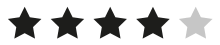“The Fabelmans”, de Steven Spielberg: pedaços da vida pessoal

Este artigo pode conter spoilers.
Num artigo da revista The Atlantic, Bret Anthony Johnston redige uma lista de armadilhas das quais os jovens escritores de ficção devem fugir a sete pés. Sucedendo a “não comeces com um alarme despertador” ou “não reduzas a coisa toda a um bilhete de suicídio”, a última regra, apesar de simples, implanta confusão e pânico entre os alunos: “Não escrevas sobre o que conheces”.
Admitindo a contradição — “encorajá-los a não escrever sobre o que conhecem parece tão errado como um treinador de futebol mandar para o banco um grande ponta-de-lança” —, o professor e autor americano passa a explicar. Resumidamente, exige que aspirantes a contadores de histórias se desapeguem de quaisquer amarras da vida real, da “verdade literal”, e deixem fluir a sua imaginação com naturalidade, almejando novos contornos, estruturas e desfechos, assim como uma densidade emocional consentânea com o que pretendem contar.

É seguro afirmar, aliás, que as fontes de inspiração pessoais, no esqueleto dum livro, dum filme ou duma série, pouco ou nada interessam ao público. No fim, cada espetador, não obstante as diversas personalidades, retira as mesmas coisas: as tramas, a relação entre personagens e as emoções advenientes.
Não seja, no entanto, por isso que a regra dourada de Johnston conquista um estatuto inquestionável. Em cinema, por sinal, já muitos a refutaram. O último a fazê-lo é um perito que, após décadas de diversificadas e empolgantes histórias, decidiu contar a sua. Ou lá perto.
“The Fabelmans”, realizado por Steven Spielberg, começa numa noite invernal de 1952, na Nova Jérsia. Um casal judeu leva o filho, pela primeira vez, ao cinema. Os pais começam por encorajar a criança agasalhada e amedrontada a entrar na sala escura, que provirá uma noite ou de encantamento ou de sorumbáticos pesadelos. Para espanto de ambos, o rebento é hipnotizado pelas imagens de “The Greatest Show on Earth”, o clássico de Cecil B. DeMille. Regressando a casa, a mente infantil rebobina as frenéticas sequências visuais, qual sonho inesgotável, uma máquina de humores ainda por decifrar. Carente doutra qualquer resposta comportamental, rende-se à repentina urgência de produzir semelhante objeto, pedindo emprestada a câmara Super 8 do pai. Esta é a história de Sammy Fabelman. A de Spielberg.

Diante da projeção duma história semiautobiográfica, desengane-se quem antecipa um canto de cisne — enquanto a mente e o corpo não impedem, é certo que Spielberg, de setenta e seis anos, está longe de pendurar as botas. Pena que não deixe de ser frequente que um filme, pelas bocas do auditório ou da publicidade, ganhe a inadvertida conotação duma carta de despedida. O mesmo aconteceu com “Cry Macho” (2021), de Clint Eastwood.
O que destaca “The Fabelmans” no vasto currículo de Spielberg — mais uma colaboração com o guionista Tony Kushner, após “Munich” (2005), “Lincoln” (2012) e “West Side Story” (2021), “alguém que verdadeira e carinhosamente admira e adora e que o conhece tão bem” — é a habilidade com que, seguindo uma carreira tangente a quase todos os géneros, este abdicou de trabalhar a metáfora, para se debruçar sobre a memória. Na mesma entrevista, aliás, menciona o quão fácil é para um realizador, autor do argumento ou não, deixar que escorreguem para a película pedaços da vida pessoal. “Quer ele queira, quer não”.
Note-se que sempre foi possível (e sedutor) identificar a repetição de temas na filmografia do cineasta nascido em Ohio, independentemente do tom ou público-alvo das histórias. De jeito nuclear ou passageiro, tanto se vislumbrou, por exemplo, a relação de pais e filhos em “Jaws” (1975), como em “Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) ou em “Hook” (1991). “The Fabelmans”, portanto, não propõe fechar a cortina. Propõe um cúmulo.

Interpretado por Mateo Zoryan, na infância, e Gabriel LaBelle, na juventude, Sammy Fabelman é um insaciável sonhador. Vive rodeado de irmãs, avós, pais — ele um engenheiro informático, ela uma pianista e dona de casa —, interpretados por Paul Dano e Michelle Williams, e um amigo de família interpretado por Seth Rogen.
Sem propriamente um inciting incident — o acontecimento propulsor duma história, o “incidente incitante” — ou um antagonista definitivo, Spielberg serviu-se desta perspetiva singular para, evitando um “espelho de vaidade”, proporcionar uma experiência comunitária, ao recriar experiências com que toda a gente se consegue identificar. Claro está, nada de novo. Já adotara o ponto de vista da criança em “Empire of the Sun” (1987) e “A.I. Artificial Intelligence” (2001).
Uma mesa cheia, um canto solitário, as brigas de irmãos, as graçolas dum tio, os conselhos das avós, a escola, os amigos (e as bicicletas), o rufia (e o antissemitismo), o primeiro amor, os sonhos, as desilusões. O momento em que os pais deixam de ser “os pais” para passarem a ser pessoas.

Dito isto, não estamos perante o apogeu de Spielberg — as altas expectativas são amiúde o maior perigo. De facto, certos segmentos da história perdem gás e são questionáveis algumas decisões das personagens. Contudo, tecer apreciações técnicas e narrativas acerca de “The Fabelmans” torna-se quase entediante, tão bem que se provaram as aguardadas virtudes. Esse é o maior elogio.
Muito graças aos suspeitos do costume. A fotografia de Janusz Kamiński é a mais acolhedora do ano. A palavra-chave da montagem de Michael Kahn é “paciência”. E a banda sonora minimalista de John Williams — foram ainda pedidos emprestados temas de Kuhlau, Clementi e Bach — navega por todos os estados de espírito adequados.
Ainda sobre o guião, não desfazendo o arco do miúdo com uma paixão desmedida pela sétima arte — o poder ilusório e mimético desta é, ademais, retratado com brio —, “The Fabelmans” aproxima-se mais de uma tradicional história de divórcio. Após ofuscar a rotura dum ambiente doméstico com ficção científica, em “Close Encounters of the Third Kind” (1977), “E.T. the Extra-Terrestrial” (1982) e até “Jurassic Park” (1993), o cineasta chega à sua abordagem mais vigorante.
O elenco, mais que tudo, é o combustível do drama. Paul Dano brilha com uma presença pragmática e atenciosa, cometendo o erro (nunca mal-intencionado) de subvalorizar o que escapa à sua sensibilidade de “homem da ciência”. No polo oposto, Michelle Williams consome locais e pessoas com um positivismo fervilhante, com que omite uma divisão entre deveres convencionais, sentimentos desordenados e saúde mental. Merecem igualmente destaque Gabriel LaBelle, para quem se prevê uma carreira muito promissora, e Seth Rogen, que, no cenário atípico de ser dirigido por Spielberg, surpreende com pequenas e sentidas demonstrações de afeto, disfarçadas pelo rotineiro sentido de humor.
Por esta altura, Steven Spielberg tem pouquíssimo ou nada a provar. Ainda assim, continua a dar cartas com uma direção de atores autêntica e uma relação benigna com técnicos e criativos. Mormente, é invejável a paixão com que prossegue a atividade. Por esta e por outras, os amantes de cinema agradecem.