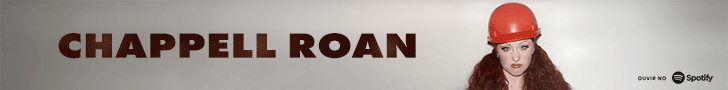Vinte anos de “Funeral”: ainda é possível acreditar na comunhão dos Arcade Fire?

Escrever sobre Funeral é uma experiência estranha. Por um lado, obriga-me a falar da minha reverência a um dos melhores álbuns de sempre, um dos que mudou eternamente a minha vida. Por outro, Funeral significa outras coisas hoje além disso. Não é mais o disco que apresentou os Arcade Fire ao mundo nem um álbum que reflete sobre a perda de quem amamos, da inocência, a nostalgia do passado que parece tão presente. Nada disso.
Por trás da comunhão que Funeral (ainda) oferece, paira (agora) uma escuridão. A das acusações de assédio e outros comportamentos impróprios reveladas em 2022 pela Pitchfork sobre Win Butler, vocalista, multi-instrumentista e cofundador da banda canadiana. Surge a questão: “Vinte anos após o lançamento, ainda é possível acreditar no mundinho de Funeral?”
“Há 20 anos, tudo mudava para os Arcade Fire. No período de revivalismo pós-The Strokes, nada fazia prever que seria em Montreal, no Canadá, onde seria encontrada uma nova meca do’“indie rock’.”
Descobri os Arcade Fire em 2013. Na altura, tinham acabado de lançar Reflektor, disco megalómano onde pairam algumas das canções mais dançáveis da banda. Eram das maiores bandas do mundo, acarinhados pelo público e pela crítica. Dois anos antes de os ter descoberto, tinham ganho o prémio de Melhor Álbum do Ano nos Grammys com o excelente The Suburbs (2010), álbum que de certa forma fecha a trilogia iniciada com Funeral onde a banda disseca a sua infância em busca de respostas para crescerem em paz. Ou, pelo menos, assim parecia.
Lembro-me de sacar a discografia inteira dos Arcade Fire para o meu velhinho Alcatel (sim, um daqueles que parecia um Blackberry falsificado). Ouvi The Suburbs e apaixonei-me. Perante a megalomania de Refletkor, The Suburbs soava a um abraço sincero. Soava “gigante” aos meus ouvidos na mesma, mas aquilo que escreviam aquecia o coração daquela já-não-tão-criança sonhadora a virar adolescente em busca de respostas. “Sometimes I can’t believe it / I’m moving past the feeling”, escutava. Chorava.
Ouvi Neon Bible e não percebi a devoção (ainda hoje não percebo). Soa demasiado a U2 já na fase descendente da sua carreira. Ouvi Funeral. Poucas coisas me deixaram sem chão como da primeira vez que cliquei no play e escutei os primeiros acordes de “Neighborhood #1 (Tunnels)”. Era como entrar num universo paralelo, num subúrbio recheado de americana à la Born To Run do Bruce com tanto de real como de imaginário. Com aqueles acordes, podíamos imaginar o nosso próprio cantinho escondido. Para mim, sempre foi um subúrbio onde a neve caía e as ruas estavam preenchidas por flores de todas as cores. Era outono, mas não estava frio. Era refúgio. Gosto tanto de “Neighborhood #1” que a tive durante anos como despertador e não me fartei – mais uma prova do seu enorme poder devocional.
Há 20 anos, tudo mudava para os Arcade Fire. No período de revivalismo pós-The Strokes, nada fazia prever que seria em Montreal, no Canadá, onde seria encontrada uma nova meca do “indie rock”. Se bandas como os Strokes, Yeah Yeah Yeahs ou The Walkmen ofereciam catarse através das suas guitarras efervescentes, os Arcade Fire e outros colegas de Montreal – como os Broken Social Scene ou os Wolf Parade – ofereciam catarse através da emoção grandiosa (já o disse e continuarei a dizer – Funeral está muito próximo de ser um disco de emo). Nada espelha melhor isso que o efeito de ouvir “Wake Up”, hino maior do indie e dos canadianos, pela primeira vez. Não era preciso um refrão para fazer uma canção gigante. Era só preciso fazer com que as pessoas berrarem em uníssono “WHOA-OH”. Desde aí, múltiplas bandas tentaram replicar esse sentimento. Nunca nenhuma o conseguiu fazer tão bem como os Arcade Fire em “Wake Up”.

Os Arcade Fire mudaram bastante desde a sua formação até ao momento que lançaram em Funeral. Inicialmente, em 2001, eram um duo. Win Butler e Josh Deu, amigos, companheiros de secundário. Butler, um miúdo rico melómano oriundo de uma família mórmon com aspirações a escrever canções, decidiu acompanhar Deu para Montreal após um ano falhado em Boston a estudar fotografia. “Um ano em Boston e nada. Cheguei a Montreal e rapidamente encontrei uma banda para tocar. Foi difícil achar que não era destino.”, disse ao The Guardian Butler em 2007. Na cidade canadiana, Butler e Deu conheceram Régine Chassagne. Tinha ascendência haitiana (daí “Haiti”) e estudava canto jazz em McGill, a universidade que Butler frequentava. Deu e Butler convidaram-na a juntar-se a eles e os Arcade Fire passavam de duo a trio.
“A morte é apenas um dos reflexos do tema maior de Funeral: a passagem do tempo. E que há maior indicação da passagem do tempo que a morte? Afinal, a morte é o derradeiro grão de areia na ampulheta do tempo. Tudo, eventualmente, termina.”
Em 2002, já em formato de coletivo, gravaram o EP homónimo, antes de tensões dentro do grupo levarem a mudanças na sua formação. Seria só em 2003, ano em que foram para estúdio gravar Funeral, que os Arcade Fire se transformam naquilo que reconhecemos serem durante anos: uma família. Por essa altura, Deu abandonou a banda. Continuaria a colaborar com a banda daí para a frente de múltiplas formas. Butler e Régine tinham iniciado uma relação e casaram-se em 2003. Ele era o cérebro dos Arcade Fire, ela a alma e coração da banda (ou assim parecia). Além deles, havia Will Butler, irmão de Win, o multi-instrumentista showman. Richard Reed Parry tocava mil e um instrumentos também e a sua adição e de Tim Kingsbury permitiu aos Arcade Fire tornarem-se “mais aventureiros no seu som e nos espetáculos ao vivo”, escreveu a Spin em 2006. Howard Bilerman era o responsável pela percussão, enquanto nomes como Sarah Neufeld e Owen Pallett ajudavam a erguer a palete orquestral, tão crucial à enormidade sonora de Funeral.
Dita a história que, alegadamente, a composição de Funeral foi inspirada parcialmente pela morte de vários amigos e familiares próximos aos membros da banda. Não há melhor indicação disso do que “In the Backseat”, cantiga sonhadora e ruidosa que encerra o disco, onde Régine canta sobre o dia em que a sua mãe, Alice, morreu (“Alice died / In the night / I’ve been learning to drive”).

No entanto, a morte é apenas um dos reflexos do tema maior de Funeral: a passagem do tempo. E que há maior indicação da passagem do tempo que a morte? Afinal, a morte é o derradeiro grão de areia na ampulheta do tempo. Tudo, eventualmente, termina. A infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice se lá chegarmos. A verdadeira marcha fúnebre de Funeral não é sobre a morte definitiva, mas sim sobre a morte da inocência, e da criança que temos no nosso interior, por percebermos que a vida tem muito de mau e engano e pouco de verdadeiramente bom. Ainda hoje essa máxima se aplica. Esta marcha fúnebre, afinal, não é só sobre alguns. É sobre todos nós.
Escutar Funeral no momento em que entrava na minha fase adolescente fez com que o álbum fosse uma das suas principais bandas sonoras. Em 2013, entrava na minha fase de “puto do indie” (já escrevi nestas páginas sobre essa fase no ano passado aquando dos dez anos de AM). O Tumblr batia, o desejo de ir a festivais de verão começava a aparecer, o desejo de encontrar compinchas com quem falar sobre música era frequente. Em Cucujães, não havia muitos – ou se havia, estavam escondidos. Era a minha namorada da altura e pouco mais (e já não me lembro se ela gostava ou não de Arcade Fire). Neste dormitório a 40 minutos de carro do Grande Porto, vi em Funeral um escape. As histórias que Butler e Regine cantavam, sobrepostas àqueles instrumentais grandiosos, eram vitrine para uns subúrbios que não eram os meus. Soavam a sonho distante, a rebeldia desejada. Em “Rebellion (Lies)”, canção onde se nota uma clara devoção aos The Cure, o mote é dado no segundo verso: “People say that your dreams / Are the only things that save you / Come on baby, in our dreams / We can live our misbehavior”.
Perdi a conta quantas vezes vi o vídeo do concerto dos Arcade Fire em Paredes de Coura 2005 (desde 2005, tornaram-se queridos do público português e já tocaram em Portugal mais de dez vezes). Por essa altura, o hype já estava assegurado. Os três Bs, Bowie, Byrne e Bono, já tinham dado o seu patrocínio aos canadianos. A Pitchfork, publicação que criou uma relação simbiótica com a ascensão dos Arcade Fire, nomeou Funeral como o melhor disco de 2004, descrevendo-o como um longa-duração “capaz de restaurar o adjetivo de emoção ao seu verdadeiro significado”. Os seus concertos ao vivo já se tinham tornado em grandes acontecimentos. Funcionavam como verdadeiras missas do indie, onde melómanos gritavam aqueles refrões onde palavras não eram necessárias. Ali, a poesia era outra. Um instante condensado no tempo onde o passado, presente e futuro colidiam. Mudavam vidas, diziam muitos. A morte também.
“Os Arcade Fire trabalharam as suas referências para construir um universo próprio, onde existisse espaço para sermos capazes de criar o nosso subúrbio escapista.”
Em 2003, foi a força do seu espetáculo em cima de palco que os levou a assinarem com a editora independente Merge Records, responsável pelo lançamento de discos como In the Aeroplane Over the Sea dos Neutral Milk Hotel, Kill the Moonlight dos Spoon ou Foolish dos Superchunk, entre muitos outros objetos de culto. Funeral podia ter-se tornado só nisso. Num objeto de culto partilhado entre melómanos, discutidos em fóruns se os Arcade Fire eram mais devotos aos já mencionados The Cure, Talking Heads, Radiohead, U2, David Bowie, Roxy Music, Bruce Springsteen, Godspeed You! Black Emperor ou Codeine. Funeral partilha influências de todos estes discos, mas não soa a nenhuma destas bandas. Os Arcade Fire trabalharam as suas referências para construir um universo próprio, onde existisse espaço para sermos capazes de criar o nosso subúrbio escapista.
Muitas bandas tentaram replicar Funeral – a influência do subúrbio construído pelos canadianos é imensa. Dos Coldplay aos Black Country, New Road, dos Band of Horses aos Lumineers, dos LCD Soundsystem aos Beirut, de Noiserv aos First Breath After Coma, a obra dos Arcade Fire ressoa pelo trabalho destes artistas. Além disso, depois de Funeral, o indie, de repente, já não era indie (alguma vez o foi?). Como escreveu Stuart Berman na Pitchfork em 2014, Funeral transformou o indie rock de um “movimento marginal” em um “modelo de carreira possível”. Ocorria o “aburguesamento” do indie, assinalou recentemente Davide Pinheiro na sua Mesa de Mistura. Para trás, ficavam os tempos “primórdios das quatro pistas”, prontos a serem substituídos por arenas preenchidas por um público de hipsters esfomeados por música como a dos canadianos.
Vi os Arcade Fire ao vivo pela primeira vez em 2022, num dos concertos do Campo Pequeno. Sim, aqueles que ocorreram meras semanas após as acusações em torno de Win Butler terem saído cá para fora e meros meses depois de Will Butler ter saído da banda. Lembro-me de na altura eu e os meus amigos termos discutido bastante se íamos ou não, mas acabámos por decidir ir. Foi um sentimento estranho. Lembro-me de me sentir egoísta. Algumas daquelas canções tinham definido a minha vida, sim, mas o amor nelas espelhado já não sabia a doce; sabia a amargo. Os Arcade Fire, a banda pela qual os fãs tinham uma devoção quase religiosa, pela qual eu tinha uma devoção quase religiosa, já não pareciam a família supostamente feliz de outrora. Teria, afinal, o subúrbio de Funeral sido sempre um oásis puramente fictício? Em “Wake Up”, sem querer, talvez encontramos a resposta: “But now that I’m older / My heart’s colder / And I can see that it’s a lie”.