‘Canção Doce’, de Leila Slimani: uma história de um infanticídio

Há pior inferno do que o aberto pela primeira frase de “Canção Doce” (Alfaguara)?
Leila Slimani (Rabat; 1981) enfrenta o pior pesadelo de um pai ou de uma mãe: a morte dos filhos.
Depois de narrar as desventuras de Adèle, uma mulher sexualmente compulsiva, em “Dans le Jardin de l’Ogre”, Leila Slimani- vencedora do Prémio Goncourt com “Canção Doce”- enfrenta os seus próprios medos (a escritora foi mãe recentemente).
O horror na primeira frase apresenta de imediato ao leitor uma contradição entre o título e a história: “O bebé morreu”.
O paradoxismo entre a atitude de Louise, ama dos filhos, e a sua decisiva e vil acção motiva o leitor a procurar respostas. O romance não dá a a sensação de “closure”, porque Leila Slimani não é maniqueísta na formação das personagens.
O enredo parece saído de um dos contos de Grimm, mas subtraído do tom irreal. A génese desta história está, precisamente, num acontecimento passado em Nova Iorque. Em 2012, a dominicana Yoselyne Orteg esfaqueou até à morte Lucia Krim (6 anos) e Leo Krim (2 anos), duas crianças que estavam ao seu cuidado.
Em “Canção Doce”, a vida de Myriam, Adam e dos seus dois filhos pequenos é igual à de tantas outras famílias de classe média-alta. Eles têm uma vida estável, sem dificuldades financeiras e ainda com dinheiro suficiente para passar férias no estrangeiro.
Myriam programa a segunda gravidez, sem disso dar conta ao marido, para poder ficar em casa a cuidar das crianças. Ela quer estar presente a tempo inteiro na vida dos seus dois filhos pequenos. Viria a perceber a própria ingenuidade. Começa a ter vergonha de dizer que é doméstica e sente que nada tem para contar. A sua narrativa é repetitiva e subordinada a vontades alheias. A individualidade é suprimida pelo que dela é exigido:
“Ela não tinha noção do que a esperava. Com dois filhos, tudo se tornou mais complicado: ir às compras, dar o banho, ir ao médico, arrumar a casa. (…) Sentia, de dia para dia, uma necessidade cada vez maior de caminhar sozinha, tinha vontade de berrar como uma louca na rua. «Eles devoram-me viva», dizia, por vezes, para si própria.”
A difícil conjugação entre profissão e maternidade impõe um enorme peso na consciência de Myriam. Ela vive um constante conflito entre ir trabalhar ou cuidar dos filhos.
A concretização dos seus sonhos esbarra na impossibilidade de haver tempo para tudo. O sucesso profissional é tantas vezes antagónico à auto-realização com a maternidade.
A expectativa de Adam é de ser ele a sustentar a casa e de ela assegurar a educação das crianças. É uma atitude com raízes históricas, em que a esfera familiar era independente da esfera profissional. Cada um dos elementos do casal vivia numa esfera diferente.
Passaram 54 anos desde a publicação de “A Mulher mistificada”, de Betty Friedan. Apesar do choque cultural desse livro que sublinhou a insatisfação das “donas-de-casa” dos subúrbios norte-americanos (influenciando demais países ocidentais), ainda subsiste a ideia de que as tarefas domésticas são algo exclusivo do género feminino. As ideias de Adam, na sociedade parisiense do século XXI, dão a noção de que a prática mantém-se ainda separada do que as ideias defendem. Continuam a ser duas esferas separadas.
A custo, Myriam abandona a ilusão de ser uma mãe sempre presente e contrata uma ama. O marido prefere uma magrebina, pois Myriam, da mesma nacionalidade, não quer ensinar árabe aos filhos. Ela recusa porque sempre desconfiou daquilo a que chama «solidariedade entre imigrantes».
Louise, a ama, conquista a família paulatinamente. Tudo o que faz parece perfeito. O grau de dependência é crescente e mútuo. O casal confia-lhe as tarefas pragmáticas e quotidianas. Ela é mais do que a ama das crianças; Louise gere a casa para Myriam e Adam.
Myriam depara-se com uma nova forma de amar. Louise entrega-se a essa missão que é cuidar das crianças e também da felicidade do casal. O papel de mãe é assim declinado em duas vozes, diferentes, mas com capacidade de se adaptarem e complementarem. A educação das crianças está entregue a um complexo sistema afectivo, em que mãe, pai e ama assumem a parentalidade. Louise tem a ingrata missão de cuidar e educar filhos que nunca serão seus e de cuidar do bem-estar de uma família a que, na realidade, nunca pertencerá. E fora daquele ambiente, a vida de Louise é soturna. Ela tem a vida em ruínas. Louise conhece quase tudo daquela família, mas a família não conhece Louise fora daquele seu universo. Ao longo da narrativa, Slimani vai deixando pistas até esses escombros.
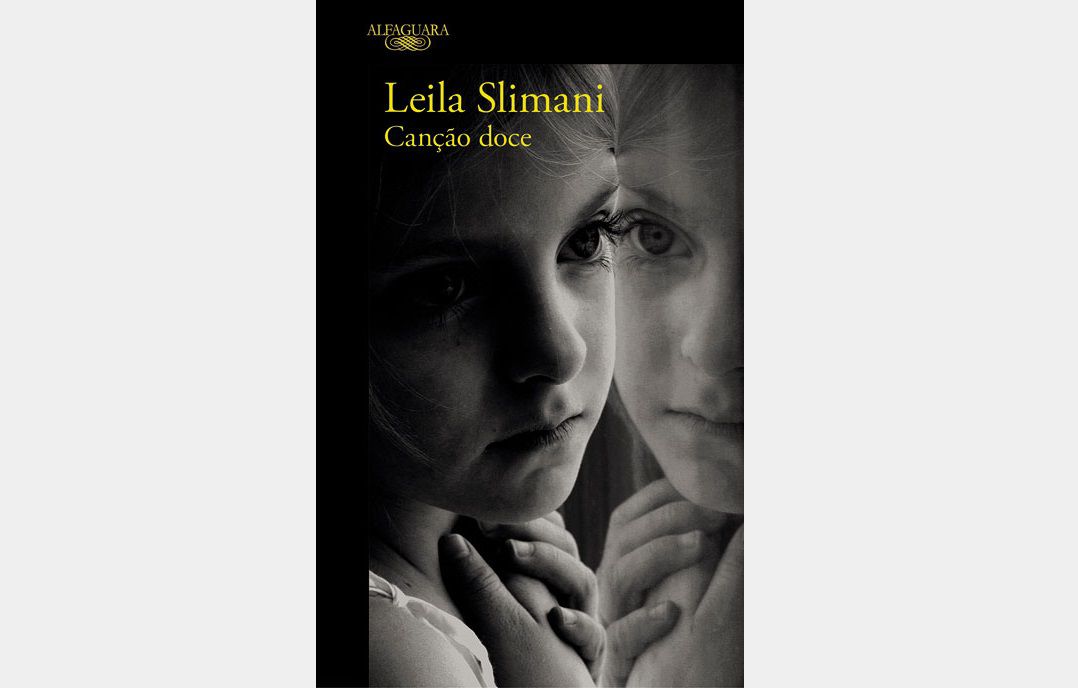
A distância entre Louise e Myriam vai diminuindo ao ponto de Adam chamar a atenção para o facto de haver uma relação patrão-empregada que não está a ser cumprida. As brechas naquela aparente perfeição aparecem, o sentimento de posse é cada vez maior em Louise e a unidade familiar dá sinais de desgaste.
A insatisfação por ter uma vida incompleta, por via da falta de realização profissional, é substituída por um sentimento de culpa fomentado pela família e pela sociedade, por ela se dedicar à profissão.
Adam afirma que ela trabalha demasiado e que só procura a satisfação pessoal fora de casa. A sogra acusa-a do mesmo, apontando o facto de ela não estar presente na vida dos filhos e de estar entregue a uma ambição irresponsável.
Numa reunião com a professora, Myriam pede desculpa por faltar às reuniões. Este simples gesto de educação tem em si a culpabilidade de alguém que sente falhar e que sabe que os outros a apontam por essa falha. E assim acontece, pois a professora responde (abrangendo pai e mãe):
“A senhora nem faz ideia! É a doença do século. As crianças estão entregues a si próprias, enquanto os pais se deixam devorar pela ambição”
É um jogo de perdas, em que os personagens parecem estar sempre em iminente derrota.
Leila Slimani mantém-se cautelosa e sem cair em maniqueísmos.
Apesar de se concentrar na maternidade, Slimani não deixa de abordar a paternidade, fazendo paralelismos credíveis de como o pai também passa por muitos dos mesmos problemas da mãe.
Um dos factores relevantes na prosa de Slimani é a capacidade da autora de ir registando o progressivo afastamento das personagens umas das outras sem recurso a sentimentalismos inócuos.
A progressiva revelação de Louise é um exemplo da capacidade de sugestão da autora. Ela mostra que a realidade é construída com base em ilusões e projecções. As pessoas não são só o que deixam ver; são muito mais do que isso. Há uma corrente interna que não se conhece. São jogos de luz e sombras que constroem a forma como vemos a realidade, sempre inalcançável na sua totalidade.
A autora enfrenta questões como a realização pessoal da mulher, numa sociedade que vê na maternidade um obstáculo profissional, e a relação de poder no casal. Slimani analisa, sem diabolizar.
“Canção Doce” expõe também o racismo e a divisão entre classes sociais numa hostil sociedade parisiense. Notam-se nas conversas entre amas, nas conversas entre amigos, ou, objectivamente, nas decisões a tomar. Essa hostilidade é uma corrente mais interna do que ostensiva. É um sentimento quase envergonhado e confessado em surdina.
Os problemas de Myriam e do seu marido são os problemas que a sociedade contemporânea apresenta a um casal. Um dos motivos para o sucesso imediato deste livro é o realismo da situação narrada. Adam e Myriam poderiam ser nossos vizinhos. Ou nós poderíamos estar na mesma situação que eles.
Uma nota para a tradução. Tânia Ganho é autora de “A Mulher-Casa”. O último livro da tradutora e escritora portuguesa partilha essa hostilidade social para com a mulher, seja na vertente sexual, na profissão ou na maternidade. A temática comum-embora com grandes diferenças de enredo e estilísticas- e a experiência de Tânia Ganho (traduziu Siri Hustvedt, Rebecca Solnit, Alan Hollinghurst, Ali Smith, Rachel Cusk, Chimamanda Ngozi Adichie, Annie Proulx, Jeanette Winterson, Anaïs Nin, Mathias Malzieu) fazem desta combinação uma escolha bem-sucedida.![]() Fotografia de capa de artigo: Thierry Rajic
Fotografia de capa de artigo: Thierry Rajic

