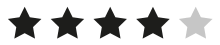“Babylon”, de Damien Chazelle: uma dedicatória redigida sob sangue, suor e lágrimas

Este artigo pode conter spoilers.
Em «Génesis», o primeiro livro do Antigo Testamento, é descrita a megalómana construção da Babilónia. Reza que a lenda que, junto dos primeiros palácios, jardins e monumentos, o Homem elevou a chamada Torre de Babel, em forma de zigurate e coroada por um templo no topo. Destinada a aproximar os seus habitantes do Céu, esta ficou também conhecida como “a porta de Deus”.
“Babylon revela-se um filme maduro sobre um país que tropeça em repetitivas contenções da liberdade, que têm danos colaterais inevitáveis, ciclos de moralidades dúbias, crime organizado e violência.”
Obra do orgulho humano e representante de um único idioma, motivou as ofensas do Todo-Poderoso, que desceu à Terra para castigar os seus autores, dispersando-os por diversas linguagens, para não mais se entenderem. A Babilónia ficou, portanto, para sempre conotada como um símbolo de fraqueza e desordem aos olhos divinos, capital da extravagância, da devassidão e do pecado.
Uma das mais antigas civilizações históricas, o Império Babilónico existiu desde o século XVI a. C. até ao século VI d. C., na Mesopotâmia, região que corresponde, atualmente, ao Iraque e ao Kuwait.
Por sua vez, “Babylon”, escrito e realizado por Damien Chazelle, é uma viagem pela Hollywood dos loucos anos 20, prévios à transição do cinema mudo para o cinema sonoro e à Grande Depressão. No decurso de intensas orgias e rodagens sem condições de segurança para figurantes e técnicos, a Babilónia aqui retratada é um palco balburdiento para as ambições e lamúrias de distintas personagens, que partiram para a Cidade dos Anjos em busca de prosperidade, luxúria, arte e estrelato.
Diferente de outras ficções históricas, o projeto que Chazelle desenvolveu nos últimos 15 anos evoca a idealização duma Hollywood, certamente, mais virtuosa do que esta alguma vez foi. E do que continua a ser. Não obstante a fieldade ao respetivo período — a direção de arte e o guarda-roupa mostraram-se incansáveis —, “Babylon” acomoda-se na prateleira de títulos de Hollywood a gostar dela própria, a pensar sobre ela própria, sobre os rostos que escaparam à revelação da película e os danos que, décadas depois, são alvos de tanto escrutínio. Vêm à baila fenómenos como a exploração laboral, o desprezo pelos sindicatos, a politização da indústria — estão presentes figuras como o produtor Irving Thalberg e o empresário William Randolph Hearst —, o racismo, a censura e a nocividade da imprensa cor-de-rosa.
Com a dura metamorfose sociocultural dos Estados Unidos da América a servir de fundo, Chazelle exibe um firme controlo do caos audiovisual em deslumbrantes planos sequência. Sem esquecer os momentos de intimidade, em que a montanha-russa abranda e as personagens se dão, se abrem em leque, cujo único remédio é a concretização de sonhos ilusórios e desmedidos. Chazelle estica o braço ao espetador, convida-o a conhecer caras de variadas origens, cujos dias experienciavam como se do último se tratassem, num espaço livre de pudores e moralismos, propício ao consumo desmesurado e à destemida sexualidade. Até deixar de o ser.

De maneira muito inteligente, o homem por detrás de “Whiplash” (2014) e “La La Land” (2016) migra desta transpirada selvajaria para uma indústria assaltada, de rompante, por inovações técnicas que vieram comprometer a integridade (e sanidade) do negócio. Negócio esse que reflete uma sociedade engolida por vaidades e elitismos, típica dum novo contexto económico e antecessora de vindouros turbilhões políticos. Além do circo de droga, sexo, palavrões e bizarrias, “Babylon” revela-se um filme maduro sobre um país que tropeça em repetitivas contenções da liberdade, que têm danos colaterais inevitáveis, ciclos de moralidades dúbias, crime organizado e violência.
“Babylon” acomoda-se na prateleira de títulos de Hollywood a gostar dela própria, a pensar sobre ela própria, sobre os rostos que escaparam à revelação da película e os danos que, décadas depois, são alvos de tanto escrutínio. Vêm à baila fenómenos como a exploração laboral, o desprezo pelos sindicatos, a politização da indústria — estão presentes figuras como o produtor Irving Thalberg e o empresário William Randolph Hearst —, o racismo, a censura e a nocividade da imprensa cor-de-rosa.”
Não é surpresa para ninguém: os tempos mudam. Como não é surpresa para ninguém, no século XXI, que a estreia de “The Jazz Singer” (1927) potenciou a tecnologia sonora, originando a sétima arte que todos apreciamos. Nem era tampouco surpresa que, como veio sugerir a respetiva campanha publicitária, o filme nos contaria uma história sobre um meio, uma cidade, uma ideia utópica e ultrapassada que fosse, sobre sonhadores e desafortunados, repleta de humor negro e pessimismo. Para uns, um glamoroso e demorado canto de cisne. Para outros, uma travessia que lhes envenena a inocência.
Mais do que na tese sobre uma sociedade em radical mutação, “Babylon” concentra-se nas pessoas, nas ascensões e quedas, nos amores e desamores, na partilhada consciência de que, mais cedo ou mais tarde, lhes cairá o pano, lhes será fechada a porta. Lucidez esta que se mantém ausente, inoportuna à diversão e à magia de Hollywood, que vive de assassinar as estrelas que pariu em primeiro lugar. Pois, tal como a Babilónia, também Hollywood um dia cessará.

Nesta maré de progressiva deceção navega Jack Conrad, ator da era silenciosa com traços de ícones como John Gilbert e Douglas Fairbanks. Ora no topo do jogo, carismático, magnético e numa cama de pretendentes, ora votado às gargalhadas involuntárias, às maldizentes manchetes de revista, ao oblívio. A personagem dificilmente funcionaria, claro está, sem a star quality automática de Brad Pitt, que se mantém numa entrega esplêndida ao ofício e desafia a hipótese de o seu auge ter ficado lá atrás.
No polo oposto, surge uma arrebatadora e asfixiante Nellie LaRoy, acabada de chegar de Nova Iorque com o sonho imbatível de conquistar o grande ecrã, livremente inspirada em Clara Bow e noutras estrelas do cinema mudo que transitaram com brio para os talkies. Peça-chave do melhor elenco que Damien Chazelle já reuniu, Margot Robbie é uma força da natureza, leoa duma presença eletrizante, larger than life. Numa das melhores interpretações da sua carreira, a atriz admite, aliás, que nunca se identificou tanto com uma personagem.
Contemplativo no assento central para ocupar o centro da ação está Manny, interpretado por Diego Calva, ator conhecido por “Narcos: Mexico” e que aprendeu inglês especificamente para “Babylon”. Dosado com a mesma ambição de Nellie, a personagem passeia pelas diferentes fases duma típica jornada de herói, nesta hostil batalha por influência, dividida entre deveres, amizade, paixão e a americanização da própria identidade.
Ainda no elenco, merecem destaque a insolente Jean Smart e o sinistro Tobey Maguire. O mesmo não pode ser dito de Jovan Adepo, Katherine Waterston e Li Jun Li, atores sólidos que não recebem um material muito além da caracterização inicial. Fica evidente que “Babylon” prioriza as situações epopeicas das personagens de Pitt, Robbie e Calva, mas é estranho como, ao longo de mais de três horas, fiquem histórias por contar. A duração, aliás, pode pesar para alguns, mas deve ser mencionado que Tom Cross, colaborador recorrente de Chazelle, mantém uma montagem vigorosa. O filme sabe saltar entre pequenas e grandes escalas, entre a introspeção e a barafunda, semelhante ao que fez “The Wolf of Wall Street” (2013), de Martin Scorsese.
Para isso, o realizador serviu-se também da fotografia de 35 mm de Linus Sandgren, que captura a estética “ríspida e deslavada” da Hollywood dourada. Uma odisseia visual que vai da zaragata ao remanso, do elegante ao apático, do carnal ao minimalista. E o que seria de um filme de Damien Chazelle sem a música de Justin Hurwitz? Vencedor do último Globo de Ouro para Melhor Banda Sonora, o compositor recorreu à instrumentação duma banda jazz real dos anos 20. Daí resultou uma natureza “agressiva e descarada”, parceira no desenvolvimento do tom da história.
Consultando os dizeres da crítica especializada e a infeliz receção financeira, as expectativas acumuladas para “Babylon” tornam-se, agora, incertas. Não desfazendo a imperfeição dalguns elementos, é garantido o reencontro com a excelência técnica e narrativa de Damien Chazelle. Desta vez, numa épica aventura sobre mortalidade e os homenzinhos que brincam aos deuses, o espetáculo que sempre continua e o mercado que todos os fracos e fortes consome. O que se reencontra, acima de qualquer outra coisa, é uma profunda carta de amor ao cinema, uma dedicatória redigida sob sangue, suor e lágrimas.