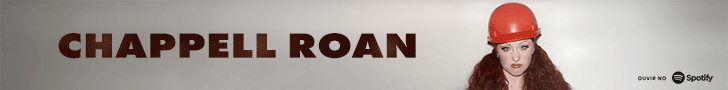A Húmus do Paraíso

Na vida, pairam duas certezas: a morte e um comum mortal – em algum momento da sua obtusa existência – proferir isto ou algo deste género. Se atentarem no que aqui redijo, notarão a veracidade da afirmação. Normalmente, esta forma de expressão surge de modo que se inicie um discurso ou se pratique uma invasão aos pronúncios do próximo. O retrato de algo que azucrina, verdadeiramente, as pessoas foi depositado aqui, sem segundas intenções ou exigências. Caso concordem, deixem “gosto” na publicação; em sentido contrário, continuem a ler porque – por vezes – tenho tendência para o ato de “armar ao pingarelho”.
Perguntam vocês: o que há de comunitário entre “Húmus”, de Raúl Brandão, e “Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore?
Aparentemente, nada – respondo com prontidão.
“Olha este, olha! Quer relacionar duas obras de miolo distinto e tecer analogias incomparavelmente distintas que possam comprovar as teses que ousa destilar”. A acusação parte do público-alvo, como bem sabem. “Não, não é isso! Quer dizer, não é só. Soma-se, também, o facto de ter privado com esses instrumentos “culturais” recentemente e necessitar de o afirmar”. Vocês, quando querem, são pessoas de vileza, não são? “As pessoas deglutem estupidez agora? Que raio de comparação é esta? Este tipo de conversa só contribui para a desinformação”. Alto! Isto já se traduz numa nova estirpe de negacionismo, não?
Raúl Brandão filia-se num solilóquio constante durante as 300 e tal páginas e discorre sobre questões que, por serem enigmáticas e recheadas de abstracionismo, não respeitam uma cronologia. Inquire-se sobre Deus, o Diabo, o grotesco, a fé, a vida, a dor, a felicidade. A introspeção enforma o exercício mental que o leitor urde e, por isso, torna-se a palavra de ordem. Divaga-se, eclode a sensação de erigir uma disfunção psíquica e emocional, simultânea e intermitentemente. A escapatória não é visível, sustenta-se. E a decomposição é composta…
Invoca-se a “composição”, raia Ennio Morricone. Escutam-se as sinfonias inspiradas pelas diferentes tonalidades da alegria e o sorriso instala-se em qualquer feição, subitamente.
(Giuseppe Tornatore belisca o autor deste texto para que este lhe conceda o devido reconhecimento. Deferido!).
O enredo é aparentemente simples: Salvatore (Toto) é noticiado, pela mãe, com a morte de um amigo; seguem-se constantes recordações da infância e das peripécias vividas com a recente perda, até ao regresso do protagonista à cidade natal e posterior despedida.
Levanta-se o véu da casualidade. Repousa, imperturbável, uma ode ao cinema e à técnica do fotograma. A audiência espreita pela brecha e observa não só uma absorção daquilo que é secular, mas uma forma de vida e evasão à aborrecida monotonia. O declínio da narrativa – extinção da sé cinéfila – é condicente com o crescimento de uma angústia existencial. Sabia-se que naquela cabine – aos olhos da modernidade rudimentar – subsistia um fundamento para não sucumbir.
A morte. Personificada em circunstâncias e vivências diferenciadas. Palmilhada por dialetos que não se cruzam. Pensada, revolvida, observada, sentida. Segmentada, pode dizer-se decomposta. A última paragem da alma. O primeiro contacto com o Húmus ou o portal para o Paraíso.