A Nouvelle Vague aos olhos da vida e da obra de Jean-Luc Godard
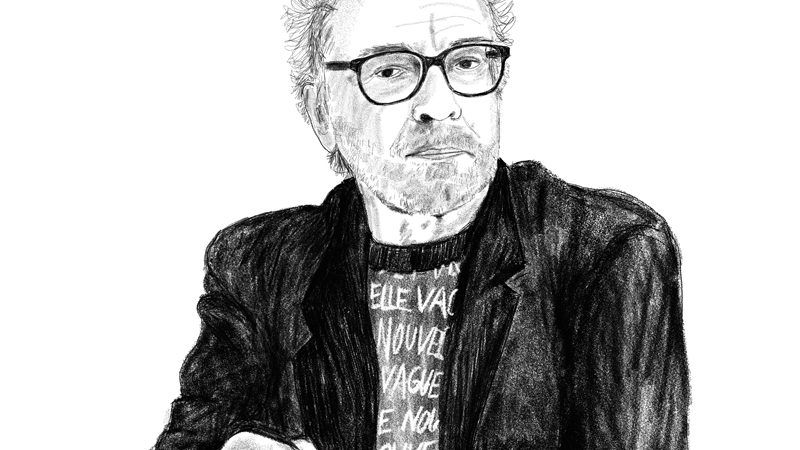
Jean Luc-Godard, nascido a 3 de dezembro de 1930, é o grande rosto da Nouvelle Vague, que marcou indevelmente o cinema europeu. Durante os anos de 1960 e de 1970, tornou-se um dos mais badalados cineastas, assim como um crítico cinematográfico de renome. Aliás, foi esta experiência que o permitiu confrontar as velhas vagas do cinema norte-americano, sempre com um pendor mais existencialista do que aquilo que se fazia mais a ocidente. Godard inspira, ainda hoje, um sem número de cineastas, tanto europeus como americanos, a dar forma e movimento ao cinema que parte da identidade e que não se alinha com linhas programáticas rígidas, que em pouco contribuem para um cinema personalizado e identitário.
Godard nasceu em Paris, numa família franco-suíça protestante. Foi na Suíça, país neutro, em que viveu o período da Segunda Guerra Mundial, e foi lá que frequentou a escola. A sua introdução ao cinema partiu da leitura de um ensaio de um pensador francês e futuro Ministro da Cultura, André Malraux, sobre a psicologia do cinema. Já em Paris, e fazendo valer as ligações da sua família aos grandes nomes da elite cultural, estudou no Lycée Buffon e ganhou proximidade com esse meio. No entanto, ainda voltaria à Suíça e foi em Genebra, quando conviveu com um grupo de cinéfilos e de filósofos, que, aliado à pintura – um gosto passado pela sua irmã mais velha -, se entregou ao estudo e à devoção pelo cinema. Com 19 anos, estava de volta a Paris para ficar e inscreveu-se na Sorbonne, para estudar antropologia.
No entanto, esse não seria mais do que um pretexto para dedicar o seu tempo aos cineclubes do célebre Latin Quartier, em Paris, em especial à Cinémathèque Française. Tornou-se, assim, um assíduo membro das suas sessões, assim como da Work and Culture e do Ciné-Club du Quartier Latin, e conheceu futuros realizadores, como François Truffaut, Claude Chabrol e Jacques Rivette. Era uma fase em que o cinema era um autêntico instrumento de conhecimento, como um telescópio, e, para Godard, uma fonte de sonhos e de objetivos. Por isso é que, ao lado de Rivette e de Éric Rohmer, fundou a Gazette du Cinéma, uma revista de crítica de cinema, em 1950. Porém, com a criação da emergente e futura proeminente Cahiers du Cinéma, em 1951, por parte de André Bazin, Godard não hesitou em lá colaborar. Sendo um dos mais novos, era, também, um dos mais irreverentes, alimentando ideias contrárias àquelas que Bazin defendia, ideias como o uso da shot-reverse-shot (uma técnica de filmagem que mostra uma personagem a olhar para outra), e como a predominância dos melodramas do cinema em relação aos formalismos que muitos realizadores procuravam fazer na forma de objeto artístico.
Porém, enquanto escrevia sobre o cinema dos outros, Godard ia espreitando uma eventual carreira como realizador. Assim o fez, quando foi ajudando Rohmer nos seus primeiros passos e quando, num regresso à Suíça, acompanhou o seu padastro no seu trabalho, numa barragem de gravidade nos Alpes. Munido da câmara, criou o seu primeiro documentário em “Opération Concrete” (1955), que seria usado pela própria administração da barragem como forma de publicidade. Um outro breve trabalho foi “Une Femme Coquette” (1955), uma curta gravada em Genebra, baseada numa obra de Guy de Maupassant, em que uma mulher imita os jeitos de uma prostituta enquanto esta procura atrair os seus clientes. Em Paris, voltou a entrar em contacto com Truffaut, com quem planeou fazer alguns projetos, embora sem efeito (“Une Histoire d’Eau”, de 1958, seria uma criação conjunta de uma viagem de uma jovem num grande lago em Paris). Seria mesmo com Rohmer que Godard voltaria à realização, pegando num argumento deste para fazer “Tout les Garçons s’appellent Patrick” (1957), acompanhando a vida de um sedutor, que procura atrair a atenção de duas jovens que moram juntas. Em 1958, faria o seu primeiro filme com um dos seus futuros colaboradores frequentes, o ator Jean-Paul Belmondo. Este seria “Charlotte et son Jules”, uma curta em jeito de desabafo por parte do protagonista em relação à sua amada, um tanto ou quanto autobiográfica.
Depois deste trabalho, tornou-se mais conhecido no meio, criando uma amizade com os também realizadores Jacques Demy, Jacques Rozier e Agnès Varda. Em 1959, após assistir ao Festival de Cannes, começou a mover mundos e fundos para a sua primeira longa-metragem. Chegou, assim, “À Bout de Souffle”, protagonizado por Belmondo e por Jean Seberg, e que se tornaria um dos marcos desta “Nouvelle Vague” do cinema. A história de amor de um criminoso e de uma norte-americana desenrola-se de uma forma profundamente inovadora, desde a espontaneidade do enredo e da interpretação, até à própria filmagem, feita por Raoul Couttard (com experiência na filmagem da guerra da Indochina nos anos 1940 e que se tornaria num dos seus fiéis colaboradores) quase documental e simplificada, assim como cortes abruptos da ação na edição do filme. Indiretamente, bebe muito do film noir americano (não é de forma inocente a presença do poster de Humphrey Bogart), embora com muitas quebras da fourth wall, pondo as personagens a falar para a câmara, e colocando a perspetiva do olhar do espectador como a da própria personagem.
Muitas são as referências culturais que Godard usa neste seu primeiro grande êxito. Fritz Lang, Ingmar Bergman e até Pablo Picasso ou Renoir surgem como marcos visuais, assim como autores, como William Faulkner, no enredo, ou até Mozart e Bach na música. É um cinema na primeira pessoa, invocando a presença direta do realizador, com um diálogo que se vai construindo no dia-a-dia e que não surge de forma convencional. São premissas que não deixam de marcar o presente e o futuro de Godard, que parte para “Le Petit Soldat”, onde resgata Anna Karina, a sua musa, a sua grande paixão. Ela, que havia rejeitado um papel no seu filme anterior, entra neste enredo em plena Guerra da Argélia, em que os protagonistas, subitamente apaixonados, procuram fazer frente ao poder francês a partir da Frente de Libertação Nacional em que ambos estão envolvidos. O protagonista não é mais do que um fotojornalista ligado a uma milícia de direita, embora acabe ele e a sua amada por serem torturados pelos argelinos. A performance de Karina é a sua primeira no cinema de longa-metragem e, tanto ela, como Michel Subor, o ator protagonista, acabam envolvidos na construção do diálogo, em que Godard os convida e os incentiva a criar. Seria um filme que, claro está, geraria controvérsia junto do governo francês, que o censurou durante dois anos.
Godard poderia não ver o seu filme na tela durante algum tempo, mas havia conquistado a sua musa. Eram, enfim, um casal. E o seu fascínio seria materializado logo de seguida, no filme “Une Femme est une Femme” (1961), em que Karina faz parceria com Belmondo e com Jean-Claude Brialy num tributo aos musicais americanos sustentado num triângulo amoroso que se vai descobrindo por Paris. É o primeiro filme de Godard a cores e é, também algo, um tanto ou quanto autobiográfico, em que o realizador revela as dificuldades da vida doméstica confinada entre quatro paredes do casal, assim como as lacunas artísticas e emocionais tão vívidas. “Vivre sa Vie” (1962) volta a trazer Karina como protagonista, desta feita como uma prostituta, após abandonar o seu marido e o seu filho na esperança de ser atriz. A ideia de liberdade é muito colocada em causa no desenrolar deste filme e é-o de forma bem-sucedida, tanto que acabaria por ter, por parte da Columbia Pictures, uma proposta de realização com um orçamento de cem mil dólares mais controlo criativo total. Chegaria dois anos depois, com “Bande à Part”.
Antes, Godard continuaria a dar volume à sua irradiante carreira. “Les Carabiniers” (1963) relata a história de dois jovens pobres que servem na guerra em prol do seu país fictício. Não é mais do que uma crítica profunda sobre os horrores da guerra e sobre a injustiça que lhe é latente, bebendo da trilogia romana do cinema de Roberto Rossellini. Ainda nesse ano, assiste-se a “Le Mépris”, em que Michel Piccoli contracena com a grande estrela Brigitte Bardot numa coprodução entre França e Itália. É baseado na obra “Il Disprezzo”, de Alberto Moravia, e conta a história de um dramaturgo que é convidado a reescrever o argumento da adaptação da “Odisseia” homérica por parte do célebre cineasta Fritz Lang. A obsessão do trabalho do protagonista acaba por colocar em evidência a dificuldade de conciliar o trabalho com o amor, assim como a despersonalização artística em prol das hierarquias comerciais da indústria do cinema.
Chegado 1964, chega também a produção com a chancela da Columbia Pictures, “Bande à Part”. É o regresso de Anna Karina, envolvida em mais um triângulo amoroso, desta feita com dois criminosos, com quem, à imagem de “Une Femme est une Femme”, se mostra desprendida dos preconceitos formais e se revela com simplicidade, liberdade e espontaneidade, algo quase chocante perante os preconceitos da produção cinematográfica e artística. Logo de seguida, “Une Femme Mariée” traz uma breve, embora densa, história sobre uma relação conjugal que se encontra em constante interrogação e reflexão e cujo enredo se vai construindo pela imagem e pelo diálogo, na dúvida e na incerteza de um matrimónio. É quase uma descrença e uma abulia em relação aos valores pré-concebidos do cinema de Hollywood; algo que volta a ser problematizado, embora de uma forma bem distinta, com “Alphaville” (1965), em que se assiste ao confronto da máquina, que controla toda uma cidade (Alphaville) e os seus habitantes, em relação ao humano, personificado na figura de um detetive que procura superar esses obstáculos. É um enredo futurista e distópico, apesar de filmado no coração de Paris, na sua ala mais modernista, sem deixar de recorrer ao preto-e-branco para a construção dessa atmosfera silenciosa, maquinal e tenebrosa. Este filme viria a dar a Godard o Urso de Ouro do Festival de Berlim de 1965.
Este ano não estaria terminado sem a produção e lançamento de “Pierrot le Fou”, que acompanha a história de Pierrot (Jean-Paul Belmondo), um homem casado que procura soltar-se da sua vida entediante e convencional e partir à descoberta. É aqui que conhece e que leva Marienne (Anna Karina), uma jovem que está em fuga de um grupo de algerianos, a desbravar caminho na costa sul francesa, em pleno Mediterrâneo. Foi um dos filmes mais folgados financeiramente da produção de Godard, em que a cor e a abundância do espaço têm um papel marcante, soltando-se das rédeas que o limitavam a produções minimalistas e curtas em pessoal e em recursos. No ano seguinte, “Masculin Féminin” (1966), uma produção franco-sueca, acompanha a estreia de Jean-Pierre Léaud (o ator que havia sido sensação nos “Le Quatre Cent Coups” de Truffaut) nos filmes de Godard, num drama romântico que abunda em referências à pop culture e às figuras políticas na contracultura emergente. Inspirado, também, em histórias do autor Maupassant, o protagonista procura conquistar uma jovem pop star, apesar de bastante diferente deste, envolvido politicamente e formado intelectualmente, e envolvê-la num romance a quatro.
“Made in U.S.A.” é, também, desse ano e, protagonizado por Karina e Léaud, inspira-se na história “The Big Sleep”, eternizada em livro por Raymond Chandler e em filme por Howard Hanks, num policial à moda da Nouvelle Vague, recheado das suas marcas visuais e argumentativas. É Karina a protagonista, procurando perceber os motivos por detrás da morte do seu amado. No ano seguinte, chega “La Chinoise”, um filme de grande conotação política – uma adaptação dos “Demónios”, de Fiodor Dostoievski -, em que cinco estudantes universitários criam um grupo no seio de um partido maoísta e apelam à revolução violenta. É um trabalho inspirado no crescimento dos grupos ativistas em França, que fariam parte das manifestações de maio de 1968. Ainda nesta toada política, “Week-end” conta a história de um casal de Paris – cada um deles com um amante e conspirando contra o seu cônjuge – que viaja para o interior de França para recolher uma herança do pai da mulher. A surrealidade do enredo torna-se pautada pelo surgimento de personagens-tipo que procuram representar a burguesia consumista, para além de cenas quase estapafúrdias, como uma de oito minutos do carro de ambos parados no trânsito.
O cinema de Godard seria muito visado nas manifestações que começariam com o maio de 1968 e que se tornariam patentes daí em diante. De igual modo, o realizador sentia-se movido por essa vontade de tornar o seu cinema ainda mais político e de confrontá-lo com os limites pré-concebidos de como fazer um filme. Procurava, porém, fintar o culto da personalidade que muitos lhe endereçavam e deslocou-se para outros países com um novo colaborador: Jean-Pierre Gorin, um estudante de ciências sociais que seria o seu pupilo e um futuro cineasta, com quem formaria um coletivo de cinema de cariz maoísta: o Groupe Dziga Vertov (nome de um cineasta russo dos anos 1920 e 1930). Pautado por valores marxistas e pelo teatro de Bertolt Brecht, com um sentido proativo perante a “luta de classes” e pelas classes fragilizadas, Godard alteraria o rumo do seu cinema e chegaria a “Tout Va Bien” (1972), protagonizado por Yves Montand e Jane Fonda (que tinha ganho um Óscar no ano anterior com a sua performance em “Klute”); e permite ver as dificuldades vividas no pós-Maio de 1968, em que um realizador de comerciais e a sua esposa experienciam as vicissitudes advindas da desarmonia social capitalista. Nota-se, nesta interpretação, uma maior distância entre as personagens e o espectador, embora com a câmara a deambular entre diferentes salas de uma fábrica, que é o pano de fundo deste filme, de forma a fazer valer o sentido cinematográfico deste trabalho. Neste filme, Godard, que sofreria um acidente de viação, veria o seu pupilo, Gorin, a efetuar quase todo o trabalho prático que antecipou a conclusão das filmagens.
Um outro filme desta dupla seria “Letter to Jane”, um complemento ao filme anterior, onde se examina e se desconstrói uma foto de Jane Fonda a visitar o Vietname, visando em especial a “ideologia ocidental imperialista”. Godard continuaria um pouco por todo o mundo e chegou a passar por Moçambique, onde foi convidado a fazer uma curta para o seu governo. Porém, considerou aquilo que havia reunido para o filme como racista, dado que não conseguia englobar a variedade da pele negra. Godard conheceria Anne-Marie Miéville em 1970, cinco anos após terminar a sua relação com Karina, tendo-se tornado, para além de parceira conjugal, também uma colaboradora assídua no seu trabalho daí em diante, tanto como fotógrafa, como nas funções de edição, de guionista, de diretora artística e de co-realizadora. A primeira grande colaboração entre ambos seria em “Numéro Deux” (1975), um documentário que, exibido em tela dividida, apresenta uma jovem família numa de muitas habitações sociais, para além de uma dimensão autobiográfica com declarações do próprio realizador. O casal viria a criar uma empresa de distribuição e de produção chamada Sonimage, que realizou diferentes trabalhos para a televisão europeia e produziu filmes, como “Sauve qui Peut (la Vie)” (1980), um trabalho filmado na Suíça e estruturado como uma peça musical, com três movimentos: eles acompanham um realizador e a sua namorada, que procura uma vida independente para lá da sua frustrada relação conjugal, para além da personagem de Isabelle, uma prostituta.
Em plenos anos 1980, Godard não deixa de trabalhar, realizando “Passion” (1982, em que um realizador procura fazer a recriação viva de uma série de pinturas de artistas europeus ao som de música clássica), “Lettre à Freddy Buache” (1982), “Prénom Carmen” (1984, baseado na ópera homónima de Georges Bizet, onde a protagonista se apaixona por um assaltante de um banco), “Je vous salue, Marie” (1985, que se torna controverso ao mostrar uma mulher virgem que engravida após o aviso do seu tio, Gabriel, de que ela ficaria grávida) e “King Lear” (1987, mais do que uma adaptação da peça de Shakespeare, trata-se de um dos seus descendentes a procurar restaurar o legado do seu familiar e das suas peças após a catástrofe de Chernobyl, que, consigo, levou grande parte da civilização humana e da sua cultura). Godard também colabora no filme de antologia “Aria” (1987), onde cria um episódio chamado “Armide”, sobre dois homens que, num ginásio, se mantêm concentrados mesmo quando duas mulheres, empregadas de limpeza, se começam a despir.
Já nos anos 1990, os destaques vão para “Nouvelle Vague” (1990, um filme em que uma industrial bastante abastada conhece um homem que anda à boleia e com quem desenvolve uma relação afetiva, sendo quase um requiem da história de “Pierrot Le Fou”), “Allemange Année 90 Neuf Zéro” (1991, onde se assiste ao regresso do detetive de “Alphaville”), “JLG/JLG, Autoportrait de Décembre (1995, uma autobiografia do realizador), e”For Ever Mozart” (1996, onde uma realizadora desenvolve um projeto chamado “Fatal Bolero”, pretendendo que esta se passe na cidade de Sarajevo, então visada pela Guerra dos Balcãs, e chegando a visitá-la). É nesta década que termina a sua empreitada “Histoire(s) du Cinéma” (1988-1998), uma série de oito partes onde examina o conceito de cinema cronologicamente e o seu papel contemporâneo, numa crítica ao estado da arte do século XX.
No século XXI, Godard não deixou de trabalhar e manteve-se ativo, desde logo, com “Éloge de l’Amour” (2001), onde o tempo é invertido na perspetiva do amor, desde o encontro, a paixão física, a separação e a reconciliação, na trilogia da juventude, da adultidade e da velhice. O protagonista é um jovem artista que se vai redescobrindo numa ode às relações humanas e nas próprias nuances bíblicas a si subjacentes. Em 2004, “Notre Musique” é um filme que incide no entendimento e no estudo das relações de violência e na sua transposição para o cinema. Para isso, socorre-se do passado colonialista, do conflito Israelo-Palestiniano, da Guerra Civil Americana e dos confrontos entre os nativo-americanos e os demais e estrutura o filme em três partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Godard surge diretamente neste filme e distorce estas três dimensões tendo em conta conceções morais americanas.
Em 2010, ano em que recebeu o seu Óscar honorário, “Film Socialisme” procura fazer um traçado entre a diversidade cultural e a pluralidade do mundo e dos seus membros, com o reforço para a liberdade, a equidade e a fraternidade. Quatro anos depois, “Adieu au Langage” é um dos filmes mais arrojados tecnologicamente de Godard, já que é filmado em 3D (pelo suíço Fabrice Aragno, com quem explora o alcance do olhar na tela), e conta a história de um casal que, após um grande desentendimento, vê o marido a matar o amante da esposa. Perante tal incapacidade de comunicação, é o seu cão que se torna o intérprete entre ambos os cônjuges. Em 2018, “Le Livre d’Image” é mais um ensaio que Godard realiza e onde apresenta uma série de filmes, pinturas e de músicas com alguma narração por parte do francês, para além de apresentar mais nuances sobre a história do cinema e sobre os desafios políticos e tecnológicos presentes.
Godard nunca deixou, assim, de ter um apetite político e revolucionário no seu cinema, por mais que este fosse perdendo fulgor e protagonismo, muito pela força dos tempos. Questões nacionais e internacionais passaram pelo seu cinema, tanto de forma metafórica, como em discursos diretos. Nunca se mostrou conformado com uma eventual hegemonia americana ao nível da criação artística, mas também ao nível do controlo de toda a sociedade mundial, de forma mais ou menos explícita. Assim, de Brecht, procurou impor um cinema épico, capaz de fazer valer o cinema por si só, distanciando o espectador da tela e fomentando o seu espírito crítico, forçando-o a entregar-se mais ao conteúdo do filme. Nos seus trabalhos, os sons assíncronos e os títulos alarmantes eram elementos que ajudavam a despertar a atenção de quem os via, complementados pelas intervenções das personagens sobre as suas mundividências e sobre as suas emoções. Já de Marx, ficam as traves mestras desse cinema anti-burguês e anticonsumista, que não mercantiliza todos os aspetos da vida mundana e que não aliena as personagens envolvidas num pano de fundo guinado por uma sociedade desenfreada, movida pelas forças invisíveis do capitalismo.
Jean-Luc Godard é um dos cineastas mais reconhecidos a nível mundial, transportando, para a atualidade, uma “Nouvelle Vague” que se mantém sempre fresca e renovadora. Apesar do seu cinema se ter prolongado por mais de quatro décadas, a verdade é que o seu maior e mais decisivo contributo se fixou na década de 1960, onde desenvolveu mãos cheias de filmes que se tornaram icónicos no inconsciente coletivo daqueles que mais admiram cinema. Que fosse pela proximidade e pela familiaridade das personagens, ou que fosse pela naturalidade e pela intimidade dos diálogos, ou até pela materialização dos desejos e das emoções que tantos têm e sentem, Godard captou muito da vivência humana no seu cinema. Uma vivência que conhece juventude e velhice, tal e qual a sua vida e a sua obra, mas que, também ela, se mantém presente e eterna, tal e qual todos aqueles que fizeram o ontem, fazem o hoje e farão, decerto, o amanhã.

