Entrevista. Júlio Machado Vaz: “A paixão é, em si mesma, um engano. Abençoada!”

Num dia de gravações do programa O Amor é, com Inês Meneses — programa esse que teria como convidado Manuel Sobrinho Simões para assinalar o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, a 4 de Fevereiro — o psiquiatra e sexólogo Júlio Machado Vaz ainda teve disponibilidade para receber a Comunidade Cultura e Arte (CCA), em pleno solo portuense. Além de uma retrospectiva sobre o inicio da sua carreira e sobre o tempo do programa de rádio O Sexo dos Anjos, da Rádio Nova, e o Sexualidades, da RTP, ainda se falou sobre a forma como encara a comunicação, se esta é uma forma de poder, as novas tecnologias e, claro está, sobre a sexualidade e relações amorosas. Dos tempos do Sexo dos Anjos destaca que era possível as pessoas reconhecerem-no pela sua gargalhada característica e como um livro de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, constituiu um gatilho para, no programa, também se poder falar de livros e filmes, havendo uma maior flexibilidade na conversa desde então. Do tempo do Sexualidades, menciona como, nos anos 90, nas entrevistas de rua, notava uma população mais preparada para as temáticas do programa, ao contrário de certos setores da sociedade de então: daí o motivo do programa ter passado para a RTP2 e passar a ser transmitido à 01h30 da manhã: “Há muita forma de fazer censura”, explica.
À questão sobre se a paixão também poderia ser um equívoco, Júlio Machado Vaz responde: “A paixão é, em si mesma, um engano. Abençoada! Quase todos nós, mesmo que as coisas não tenham corrido bem, lembramo-nos de momentos magníficos na paixão. Mas na paixão, se temos a sorte do outro se apaixonar por nós, nós não estamos apaixonados pelo outro, estamos apaixonados pela maneira como vemos o outro e vice-versa”, refere.
Falou-se ainda dos altos índices de violência no namoro e relembra um estudo que, segundo o próprio explica, referia que 1/3 dos estudantes universitários não considerava uma bofetada “nada de especial”. A 14 de Fevereiro deste ano, saía na comunicação social portuguesa que mais de metade dos jovens, em Portugal, já sofreu violência no namoro; que quase 20% dos jovens já sofreu violência sexual no namoro e que as autoridades registaram o número mais alto de denúncias em cinco anos. Também saiu um estudo realizado pela associação feminista UMAR, nas escolas, referia que uma grande parte dos jovens legitima o controlo no namoro, através das redes sociais. “Há a violência, se estamos a falar do homem, ele arrepende-se, pede desculpa e tal, e tudo continua. Normalmente, quando se começa, a tendência é para se manter, e não para parar”, refere Júlio Machado Vaz na entrevista que se segue.
Além da sua formação académica e científica, quando se apercebeu que poderia usar a comunicação a seu favor como forma de comunicar mas, também, como forma de partilhar conhecimento?
Foi um acaso. O que aconteceu é que eu andava num curso de sexualidade extracurricular, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Esse curso, como era completamente voluntário e fora das horas habituais das aulas, juntava alunos de várias faculdades, nomeadamente aquelas que estavam ali perto. Psicologia, por exemplo, era muito perto e a temática da Psicologia era atrativa. O que aconteceu é que um desses alunos de Psicologia era o Aurélio Gomes que, hoje em dia, está em Lisboa.
Quando a Rádio Nova começou, foi 1989, o Aurélio Gomes telefonou-me e perguntou-me se não queria fazer um programa sobre educação sexual com ele e com o nosso querido Zé Gabriel, que perdemos alguns anos depois. Isso foi, salvo erro, em Setembro de 89: combinámos fazer três meses, até ao Natal, e eu chegava lá, escolhíamos um tema e bibliografia; ele, depois, fazia perguntas formais e eu respondia. No vou dizer que era incorreto, mas era razoavelmente chato [risos]. Um dia, eu levava um livro debaixo do braço, e foi nesse dia que, provavelmente, começou o Sexo dos Anjos. O Aurélio olhou e disse: “O que é que anda a ler?” E respondi: “ando a ler Milan Kundera.” E ele: “Ai sim? Está a gostar?” Pronto, nunca mais combinámos nada e, a partir daí, O Sexo dos Anjos foi o que sempre foi.
Chegávamos e falávamos de livros, de filmes, do que estava a acontecer à nossa volta, e isto durou uns 5 a 6 anos até que, e ele mereceu, o Aurélio teve uma boa oferta em Lisboa e foi para Lisboa. Eu e o Zé Gabriel dissemos que O Sexo dos Anjos éramos nós 3 e que, portanto, era para acabar. Ainda fiz, um ano, um programa na Rádio Nova, mas já não se chamava O Sexo dos Anjos e, portanto, o início foi assim. Isso também teve influência na questão da televisão porque, o que aconteceu, é que a Maria João Rolo Duarte ouvia O Sexo dos Anjos e, depois, na Relógio d’água, publiquei um livro baseado no programa. Ela [Maria João Rolo Duarte] mostrou-o ao Carlos Cruz que, nessa altura, estreava o Carlos Cruz – Quarta-feira e, dessa forma, o Carlos Cruz convidou-me para ir ao Carlos Cruz – Quarta-Feira. Aí o Carlos Cruz disse-me: “Quando lhe propuserem um programa de televisão, não aceite nada sem falar comigo, primeiro.”
Não estava nada à espera de fazer um programa de televisão mas, realmente, um ou dois meses depois, uma produtora perguntou-me se estava disponível para conversar sobre um eventual programa sobre sexualidade. Cumpri o prometido e telefonei ao Carlos Cruz. Foi assim que, em Setembro do ano seguinte, começou o Sexualidades.
Lembra-se qual era o livro do Kundera que trazia debaixo do braço, nessa altura?
A Insustentável Leveza do Ser.
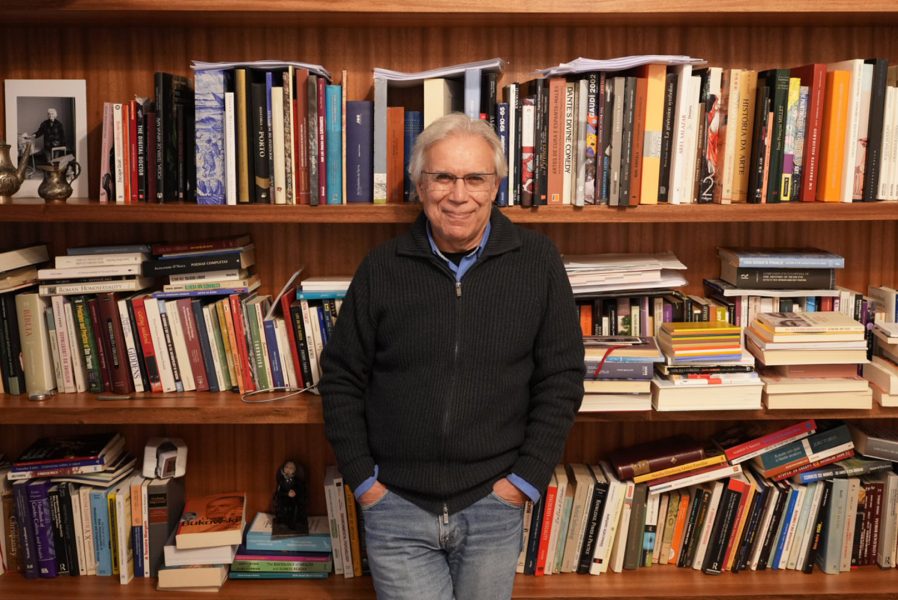
Considera-se também um comunicador?
Espero que sim, mas não é por causa da rádio e das televisões. Vamos ser completamente honestos: um professor que não comunique de forma razoável, muito dificilmente consegue ser, minimamente, atrativo para os alunos. É evidente que há colegas meus que, além de serem professores, são investigadores: fizeram, portanto, uma carreira, publicaram investigações e têm conceitos originais que lhes pertencem. Já eu nunca fui investigador, portanto, aquilo que tentei, sempre, foi despertar a curiosidade dos meus alunos. Se não se consegue isso, para o exame eles têm os livros lá em casa. Porque é que têm de ir para a faculdade aturar-nos, às vezes, às 8h30 da manhã? Espero que, pelo menos, nos dias bons, tenha conseguido comunicar bem com eles.
Depois, a questão pôs-se na rádio e na televisão porque, não é segredo para ninguém, aquilo que prefiro é a rádio porque, na rádio, a palavra é rainha. Qualquer um de nós, ao ouvir rádio, se ao fim de 10 segundos não se interessa, muda de estação e ponto final. Na televisão, quer se queira, quer não, há toda uma importância visual que pode, digamos assim, diluir a importância da palavra. Quando fui para a rádio, aí não era eu que me ia julgar, eu era o mesmo. Conversava com o Aurélio da mesma maneira como conversava com os alunos.
O que aconteceu é que o Aurélio dizia que as audiências eram boas e o programa estava a correr bem. Na televisão foi mais complicado porque aquela questão do que se veste, o que não se veste, como é que estão as luzes, como é que não estão, era tudo muito mais artificial. Continuei, no entanto, a falar da mesma maneira: umas vezes tinha convidados, outras vezes era eu e a câmara, mais nada. Comuniquei o melhor que pude, ponto final, parágrafo.
E nessa altura também começaram a associar mais a cara à voz.
Ah, isso foi muito engraçado porque, quando era o programa de rádio, por exemplo, eu, como muitos outros, era — às vezes ainda sou — um cliente regular da beira-mar tripeira. Ia para lá, estava lá, e, de repente, alguém vinha ter comigo e dizia: “Acho que reconheci a sua gargalhada. É o homem do Sexo dos Anjos, não é?” Bom, com a televisão, não estava minimamente preparado para estas situações: o ir no meio da rua, as pessoas pararem — e eram amabilíssimas, atenção — mas porem as questões, eventualmente pedirem autógrafos. Isso foi uma exposição brutal comparado com aquilo a que estava habituado.
No programa Sexualidades, houve um episódio sobre a homossexualidade. Estamos a falar, portanto, em plenos anos 90. Como foi abordar esses temas numa altura em que, se calhar, as coisas estavam mais escondidas? Que sociedade encontrou na altura?
Na questão da homossexualidade, e ainda por cima articulada com a seropositividade, foi o suficiente para ter de falar com pessoas que estavam de costas e com a voz deformada. Mesmo assim — nessa altura recebiam-se cartas — recebi cartas e telefonemas que diziam que estava a dar cabo da moral do país. Algumas cartas eram um bocado mais agressivas, tive direito a uma ou duas ameaças de morte, pronto.
Depois, também, o facto de falar de outras questões como a anticonceção. Independentemente do ambiente, digamos assim, que ainda reinava, com toda a franqueza, fazíamos entrevistas na rua, e a rua estava completamente preparada para as problemáticas abordadas. Nunca tivemos uma pessoa a recusar dar uma opinião, com um microfone à frente. Em contrapartida, determinados setores não estavam assim tão preparados e, portanto, ao fim de seis meses, o programa saiu do primeiro canal e foi para o segundo canal, à 01h30 da manhã. Há muita maneira de fazer censura.
Sente que nessa altura ocupou um espaço que precisava de ser ocupado, no que diz respeito à comunicação da sexualidade?
Foi um mero acaso. Já não pertenci à primeira geração. A primeira geração, que faço sempre questão de honrar, era a geração do Júlio Silveira Nunes, que nos deixou há semanas; do Francisco Allen Gomes e do António Palha, entre outros. No fundo, toda a geração que criou a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e que tentou, muito, que as coisas fossem diferentes.
Ainda andei com alguns deles e ainda dei com o nariz na porta em escolas secundárias que não nos deixavam entrar. Eram situações complicadas. Sei lá! O meu querido Francisco Allen Gomes teria feito o Sexualidades tão bem ou, provavelmente, melhor do que eu. O que acontece é que quem fez O Sexo dos Anjos, na altura, fui eu. Isso coincidiu: o Sexualidades foi 91, 92 e, nessa altura, ainda havia o Sexo dos Anjos, portanto, estava na rádio e na televisão ao mesmo tempo. Foi a mim, portanto, que o Carlos Cruz ouviu e foi o meu livro que ele leu, daí ter sido eu o convidado. Foi um mero acaso.

Nessa altura, se virmos algumas peças de então, principalmente sobre a mulher, nos telejornais, é engraçado notar que ainda se discutiam as principais consequências da entrada da mulher no mundo do trabalho e que consequências isso teria na educação dos filhos e para a família. Se seria bom ou não. Como é que encara a evolução da mulher desde esse tempo até agora?
Encaro de uma forma muito positiva, porque foi na direção que todos nós preconizávamos e pela qual nos debatemos, mas não lhe escondo que pensei que, em 2024, estivéssemos mais à frente do que estamos. Sei que isto vai contra a opinião de muitas pessoas que acham que já atingimos a igualdade plena e, portanto, admito que algumas pessoas pensem, “pronto, ele está com 74 anos, está a ficar pessimista”, mas tenho que dar a minha opinião: acho que não atingimos a igualdade plena e, se falarmos em termos globais, pelo contrário, penso que há conquistas a nível da igualdade que considerávamos dados adquiridos, que não são, e que estão em risco. Veja, por exemplo, os Estados Unidos.
Em concreto, o que é que acha que falta? Em que temos de melhorar para atingirmos a igualdade plena? Quais são os pontos sensíveis?
Oiça, é assim, o politicamente correto é fácil. Os discursos, hoje em dia, são maioritariamente politicamente corretos, ponto final. O problema é que não vivemos no discurso, vivemos na realidade. Por outro lado, sou psiquiatra, a minha profissão também é falar com as pessoas mas, antes disso, é ouvir as pessoas e, com um bocado de sorte, escutá-las, que é mais do que ouvir. Aquilo que ouço é a descrição de uma sociedade que não é a sociedade patriarcal, às vezes ferozmente patriarcal, em que cresci, mas é uma sociedade em que dizer que os pratos da balança estão, completamente, equilibrados, é uma ingenuidade. Desde logo, porque as mulheres, no bom sentido, invadiram o mercado de trabalho — aquelas que o quiseram fazer, isto também não é obrigatório, uma mulher não tem de ter vergonha se disser: “quero ser só mãe de família”. Desde que seja uma opção. Mas o que aconteceu é que, em grande parte dos casos, isso fez com que as mulheres passassem a acumular dois trabalhos: o trabalho fora de casa, continuando com a maior parte do trabalho em casa.
É por isso que me rio sempre de nós, homens, pelo facto de dizermos com muito orgulho, “ajudo em casa”. As palavras contam. Em termos práticos, é ótimo, mas dizer, “eu ajudo”, dá a entender que isto, no fundo — estamos a falar de casais heterossexuais — é o trabalho “da minha companheira, mas ajudo.” Não, não é verdade: partilham-se as tarefas porque são as tarefas da casa que é dos dois, se estamos a falar de coabitação, como é evidente. Quando há partilha, é muito engraçado porque, aí, continua a haver um efeito de género: é muito mais habitual o homem tratar da revisão do carro, dos seguros, das finanças mas, por exemplo, a parte que, em geral, é mais pesada — leia-se a questão das crianças, de acompanhar o seu crescimento — tal continua a ser, maioritariamente, destinada às mulheres.
E como olha para a evolução do mundo masculino? Antes, um homem não podia chorar. Agora já pode chorar?
Oficialmente pode, mas os homens continuam a esconder-se muito a chorar: uns choram no automóvel, outros fecham-se no quarto de banho, e por aí adiante. Uma prova que continua a não ser igual é esta: continuo a ouvir pessoas no consultório, neste caso, homens, que dizem que isso é tudo muito bonito mas se, por exemplo, forem apanhados no emprego a chorar, não acreditam que seja muito provável serem promovidos. Depois dizem: “Se as minhas colegas forem apanhadas a chorar, as pessoas vão tentar consolá-las.” A ideia de que o homem — no fundo, o estereótipo — deve ser mais racional, mais forte, aquela coisa do cowboy da Marlboro, ainda não morreu, atenuou-se com uma consequência fascinante. Qualquer colega meu lhe dirá que há homens que nos aparecem e dizem assim: “As mulheres gostam de homens sensíveis mas, em contrapartida, não acho que gostem de homens frágeis, e eu não sei onde é a fronteira.”
Isso é muito curioso porque, às vezes, as mulheres também reconhecem isso, ou seja, são capazes de aceitar, perfeitamente, uma demonstração de fraqueza de um homem, mas há um limitezinho. Estou-me a lembrar de uma mulher que estava escandalizada consigo mesma porque se batia por essa possibilidade para os homens, mas tinha tido um pensamento, para ela, politicamente incorreto, tinha pensado assim: “Não posso confiar neste homem, se estiver em necessidade, que tome conta de mim.” Nesse momento, tinha ficado, “mas que é isto? Não estou a falar de um cuidador ou do meu pai.” Mas pronto, são coisas que que surgem.
Tendo em conta os anos 90 e tendo em conta os tempos atuais, acha que a população jovem está mais preparada e mais esclarecida em relação à sexualidade?
Acho que têm mais liberdade. Quanto a estarem mais esclarecidos estão, mas não estão o que poderiam estar. Repare, se não estou em erro, a nossa lei de Educação Sexual é de 1984. Posso estar enganado por um ano ou dois, mas não mais que isso. A lei foi aprovada, aliás, se bem me lembro, com o PS. Para quê? Para que a iniciativa não ficasse nas mãos do PCP, essas coisas. Mas não foi regulamentada. Ter uma lei que, depois, não tem consequências no terreno, não serve de nada. Isso fez com que, nomeadamente a nível das estruturas de ensino, a vertente da sexualidade da educação — eu digo sempre que a expressão “Educação Sexual” é uma expressão miserabilista, [A primeira lei de Educação Sexual em Portugal é, de facto, de 1984 e era o PS que constituía governo com Mário Soares como Primeiro-Ministro. Em 2009, estabeleceu-se a aplicação da Educação Sexual nos estabelecimentos do ensino básico e do ensino secundário do território nacional mas, 15 anos depois, a disciplina de Educação Sexual ainda não é uma realidade efetiva aplicada nas escolas. [Ler o seguinte artigo referente a Guia Prático para a Educação da Sexualidade da Associação Nacional de Estudantes de Medicina aqui. Ler a também a seguinte entrevista à ex-diretora de Saúde Sexual e Reprodutiva da ANEM Inês Lemos Fernandes aqui]
Já íamos chegar lá!
Mas é. Somos nós a dizer: “Olhe, há a educação e, agora, façam-nos o favor de falar, também, em sexualidade. Mas como é possível falar-se de educação em geral sem se falar em sexualidade?

Qual é a diferença entre dizer-se Educação Sexual ou Sexualidade?
Educação Sexual, o termo, é uma redundância, porque ao falar-se em educação, como falamos de tantas vertentes do nosso desenvolvimento, tínhamos de falar de sexualidade também, mas não era isso que acontecia. Quando chegávamos às escolas, com sorte, os alunos sabiam o que é que acontecia no processo da procriação mas, por exemplo, perguntávamos para que é que servia o clitóris e ninguém sabia. Como o clitóris não tinha a ver com a procriação, tinha a ver com o prazer, é pungente, nesse sentido, verificar a falta de conhecimentos que ainda hoje encontramos. Cuidado, não é só nos mais jovens, os mais velhos também, mas os mais jovens, em princípio, deviam ter tido, já, currículos mais adequados. Há demasiado tempo que isso foi deixado ao voluntarismo dos professores, a quem temos que prestar uma enorme homenagem, porque grande parte dos professores que tinham formação em sexualidade tinham de pagar para isso. Nenhum professor pagava, do seu bolso, a sua formação em Matemática ou em Português, mas não, os professores iam para cursos da Sociedade Portuguesa de Sexologia, para a Associação Planeamento da Família, e pagavam para, depois, poderem falar com os seus alunos. Qual é o problema? Isto são projetos voluntaristas. Basta que aquela pessoa saia daquela escola e vá para outra e acaba tudo. Essas coisas têm que ser estruturadas. E desde logo, respeito a opinião dos outros, defendi sempre que isto não se resolvia com uma disciplina de Educação Sexual. A sexualidade tem de ser discutida de uma forma transdisciplinar. Não percebo como é que se fala de Psicologia, Filosofia ou de Português sem se falar em sexualidade.
A violência no namoro ainda é um grave problema.
Só que antigamente ficava mais no silêncio. Agora vou falar do que vem nos jornais, nas estatísticas: há dois ou três anos, mas depois manteve-se, tivemos 1/3 dos alunos universitários — portanto, estamos a falar de uma elite em termos educacionais, de uma elite que vai ter, em princípio, nas suas mãos, as rédeas do país — a dizer que uma bofetada no namoro não é nada de especial. É confrangedor, sobretudo, porque há muito, maioritariamente nas mulheres, a nostalgia de que, depois, ainda no contexto dos casais heterossexuais, ele vai mudar. Não é o habitual. Quando há violência no namoro, o mais habitual é que haja, depois, violência na coabitação, no casamento ou na modalidade que se quiser — isso é, completamente, inaceitável. É evidente que os números, hoje, também nos impressionam mais porque, felizmente, há mais denúncias quando, antigamente, sobretudo as mulheres — e digo sobretudo as mulheres porque também há violência doméstica sobre homens —, mas sobretudo as mulheres tinham de comer e calar.
Focou aí uma parte interessante na sua resposta, quando se diz: “Espero que ele mude.” Ao se esperar que alguém mude, ao se constatar e admitir já isso mesmo, é porque a pessoa já está a confessar a si própria que está iludida com aquela pessoa.
Que engraçado. O que a pessoa está a dizer é: “Não quereria que a minha relação fosse assim.” Mas, no fundo, a nostalgia é: “mas o amor vai fazer com que ele mude o seu comportamento.” Mas se não mudou até aquela altura, porque é que há-de mudar mais tarde? Significa isto que não há pessoas que mudem ao longo da vida? Há. Mas, com toda a franqueza, estar à espera 20 ou 30 anos para haver, digamos assim, uma maior pacificação do outro, ou por uma resolução dos problemas, não me parece o ideal. Muitas vezes, porque gostamos do outro, porque temos a nostalgia de que a relação se mantenha, enganamo-nos a nós mesmos e há alibis: o futuro vai ser melhor, vai mudar com o casamento, ou quando formos pais. Mas há outras questões. Por exemplo, na violência doméstica, em quase 50 anos na prática clínica, fartei-me de ouvir mulheres dizerem-me: “Ele é um homem bom, ele gosta de mim. Não é ele, é o álcool.” Qual é aqui, portanto, a teoria? É, se ele não beber, então tudo vai correr bem. O que não é verdade. É uma tentativa enternecedora, mas que não corresponde nada à realidade, de ilibar o outro através de uma substância. Pronto, é um bocado, se quiser, a velha frase do povo acerca de alguém: “É mauzinho!” Portanto, é o: “Ele gosta muito de mim, mas de vez em quando…” Depois, isso, muitas vezes, entra num ciclo infernal: há a violência, se estamos a falar do homem, ele arrepende-se, pede desculpa e tal, e tudo continua. Normalmente, quando se começa, a tendência é para se manter, e não para parar.
Também é possível a paixão ser propícia a enganos?
[Risos] Agora vou dizer uma coisa que, se calhar, vai escandalizá-la: a paixão é, em si mesma, um engano. Abençoada! Quase todos nós, mesmo que as coisas não tenham corrido bem, lembramo-nos de momentos magníficos na paixão. Mas na paixão, se temos a sorte do outro se apaixonar por nós, nós não estamos apaixonados pelo outro, estamos apaixonados pela maneira como vemos o outro e vice-versa. E é por isso, com muita frequência, quando a paixão encaminha aquelas duas pessoas para uma relação que se projeta no futuro, de vez em quando temos as pessoas a queixarem-se e a dizer: “Mas ele ou ela mudou. Ele/ela não era assim quando nos apaixonámos.” Era, sim. Nós é que chutámos tudo o que era desagradável para o lado, e vivíamos naquele transe. É por isso que a paixão, quer se queira, quer não, tem um estatuto muito privilegiado, mas o amor é muito mais difícil.

Mas, por exemplo, também é mais difícil desfazer uma primeira impressão de uma pessoa? Uma primeira impressão que seja positiva?
Às vezes não. Há pessoas, por exemplo, que me dizem: “tive uma ótima impressão da pessoa, ela abriu a boca e foi a uma catástrofe.” Por exemplo, numa primeira impressão em termos visuais, muitas vezes impõe-se-nos: há qualquer coisa naquela pessoa, pode ser a beleza clássica ou pode ser outra coisa qualquer. A pessoa, por exemplo, pode ser sensual e ninguém consegue, muito bem, definir o que é a sensualidade. Mas, por exemplo, a pessoa pode abrir a boca, sai uma catrefada de asneiras, e a idealização cai imediatamente por terra. Há um ditado popular que diz: “Não há amor como o primeiro, nem luar como o de Janeiro.” Verdade, porque quer queiramos, quer não, não é por acaso que se diz amor e não paixão. Com frequência, depois descobrimos que, passado aquele estado de ebulição da paixão, depois temos uma pessoa que começamos a conhecer melhor, que tem as suas virtudes e os seus defeitos. Com todas as dificuldades que isso introduz na relação, depois temos de pensar: “Espera aí, isto não é só facilidades, mas o que sinto por ele ou por ela, e o que acho que ele ou ela sente por mim é suficientemente forte para continuar a querer estar na relação.” As relações projetarem-se no futuro, bom, isso tem-se vindo a tornar, digamos assim, menos frequente, também por boas razões. As pessoas, nomeadamente as mulheres, descobriram que, se não consideram estar bem numa relação, se não se consideram bem tratadas ou bem tratados, têm o direito de partir para outra relação ou, então, a estarem sozinhos ou sozinhas, esperando que venha outra. Geralmente diz-se: “Mas antigamente as relações duravam 30 e 40 anos.” Sim, mas que tipo de relação? Como é que as pessoas se sentiam? No calão da minha profissão, esses casais são chamados “casais cisnes”, porque os cisnes são monogâmicos, estão juntos até à morte. O Woody Allen tem uma famosa piada acerca disso em que diz: “Quem me dera ser como os cisnes ou os católicos”. Pronto, os católicos não são bem assim.
Sendo também um homem da comunicação, como é que encara as redes sociais como forma de comunicação? As redes sociais e as novas tecnologias.
Como uma extraordinária oportunidade, com os riscos inerentes. Tivemos um exemplo, há 2 anos, em plena pandemia, os mafarricos dos meus netos punham a família toda no ecrã. Era aquilo uma boa substituição de estarmos aqui à conversa ou, ali em cima, a jantar com a família toda? Nem de perto, nem de longe. Era bem melhor do que não ter a possibilidade de comunicar com eles. Hoje em dia, não é preciso ir para a pandemia, a quantidade de relações amorosas que, à distância, se mantêm porque as pessoas também têm a possibilidade de comunicar. Só tem vantagens? Não, também tem riscos. Olhe, desde logo — é de formação profissional, sendo psiquiatra —, o risco da dependência tecnológica que, hoje em dia, já implica tratamento, digamos assim. Mas não é só isso: os perfis falsos, os enganos, essa coisa terrível a que se chama vingança pornográfica — alguém que se sente enjeitado e que, enquanto as coisas corriam bem, houve troca de fotografias íntimas e põe um planeta inteiro a ver fotografias que eram privadas. Só estou a falar em termos de comunicação. Como médico, compreendo que há vantagens brutais, também com riscos brutais: de vez em quando esquecemos que o núcleo duro da medicina é a relação médico-doente não é a relação Inteligência Artificial-doente.
Como olha para a Inteligência Artificial nesse contexto?
Da mesma forma. Tem enormes potencialidades, mais em determinadas áreas do que em outras. Veja, por exemplo, na medicina, a área da Imagiologia: a Inteligência Artificial traz um desenvolvimento brutal. A capacidade que tem de analisar as imagens e ir comparando com milhões e milhões de dados, é brutal. Mas não é só isso, é a facilidade que tem em analisar dados, em quantidades brutais, que permitem uma maior facilidade diagnóstica. Contribui, também, para libertar-nos, aos médicos, de coisas completamente burocráticas, de maneira a que tenhamos mais tempo para o diálogo com o doente. As vantagem são, portanto, inúmeras, depois, há riscos também. Hoje em dia, temos artigos escritos por médicos a dizer que, no futuro, a Inteligência Artificial poderá, inclusivamente, substituir os profissionais de saúde em situações tão complexas, como dizer a alguém que tem uma doença terminal, com a justificação, por exemplo, de que a Inteligência Artificial é mais isenta. Tenho muita pena, isso somos nós a tentar evitar aquilo que a nossa profissão tem de menos tempo.
Tendo em conta a dicotomia entre o público e o privado, porque é que em psicoterapia é importante respeitar a privacidade do consultório entre um paciente e um terapeuta?
Mas atenção, não é só na psiquiatria. Se fosse dermatologista, estava ligado na mesma ao segredo médico. Mas compreendo o que está a dizer. Na psicoterapia, atendendo a que estamos a lidar com aquilo que há de mais íntimo nas pessoas, a ferida para essas pessoas, se não formos dignos da confiança que é depositava nos nossos ombros, é uma ferida muito maior — isso, sem dúvida nenhuma.

Um terapeuta também deve conseguir lidar com as suas falhas e impossibilidades quando, por vezes, há uma dificuldade em chegar a um paciente?
Sem dúvida alguma. É uma obrigação em termos éticos e é uma obrigação em termos de eficácia. Por exemplo, temos de analisar uma coisa que nós traduzimos num palavrão, que é a contratransferência: ou seja, é aquilo que não vem de lá para cá, da pessoa que trabalha connosco para o terapeuta, mas que vai do terapeuta para a pessoa. As pessoas também nos despertam sentimentos. Se não estivermos atentos a isso, podemos provocar muito mal as pessoas. Suponha que uma pessoa, por qualquer razão, desperta em mim reminiscências de situações desagradáveis da minha vida e eu, em psicoterapia, posso começar, entre aspas, ajustar contas com os meus fantasmas através daquela pessoa. Isso pode deixar marcas, portanto, evidentemente que temos de estar atentos ao que a pessoa nos diz. Temos de estar também muito atentos ao que se passa dentro de nós, perante aquilo que nos é dito.
A comunicação também pode ser uma forma de poder?
Se pode, de várias formas. Por exemplo, a informação distorcida, as famigeradas fake news, por exemplo. Há bocado estávamos a falar de tecnologia, e a verdade é que vivemos numa sociedade com um ritmo tão frenético, que já é difícil, mesmo que queiramos, triar a informação. Grande parte de nós, hoje em dia, já nem sequer se dá ao trabalho de triar a informação e engole aquilo que é posto nos ecrãs. Segunda-feira, estive numa sala de espera num hospital para fazer um exame e, toda a gente, de todas as idades, estava mergulhada no telemóvel a fazer scrolling. Está a ver, portanto, como se pode manipular através da informação. Agora, há outras formas a que eu nem me atrevo o chamar de desonestidade. Pode haver situações de desonestidade que é assim, e está muito na moda: se reparar temos, neste momento, influencers a torto e a direito e, a palavra influencer é uma palavra ajustada, porque temos pessoas que têm um prestígio, nomeadamente nas redes sociais, suficientemente grande para ter uma legião de seguidores que acreditam, piamente, no que são as teorias daquela pessoa. Isto é uma forma de poder sobre aquelas pessoas. Uma das situações mais habituais é: “Se tivermos suficiente autoconfiança, se acreditarmos em nós, vamos todos ser felizes.” Devo confessar que é um discurso, digamos assim, diplomático, excessivamente otimista, mas pronto. Mas se aquelas pessoas acreditam, verdadeiramente, naquilo, quem é o sumo sacerdote ou sacerdotisa daquele grupo, tem um enorme poder sobre aquele grupo. O que significa que aquele grupo pode, por exemplo, seguir um pensamento; pode interpretar o discurso daquela pessoa de uma forma que pode, inclusivamente, levar à ação — isso pode ser muito complicado.
Fazendo uma ponte com a pergunta das novas tecnologias e das redes sociais. Isso também não pode provocar em nós um sentimento de nos descartarmos da nossa responsabilidade em falar cara a cara com o outro, por exemplo, quando surge uma situação mais difícil?
Está sempre a acontecer, por exemplo, nas relações amorosas. Hoje em dia, os consultórios dos psiquiatras e psicólogos estão invadidos com pessoas cuja queixa é: “Não obrigo ninguém a ficar comigo, mas receber uma mensagem de SMS para acabar com a relação? Nem sequer há o direito de uma conversa para se explicar qualquer coisa?” Isto é uma falta de respeito e, ainda por cima — aí mudou-se pouco — muitas vezes, a mensagem é a velha lengalenga do “não te mereço, és mais feliz sem mim”, ou qualquer coisa. Na realidade, o que a pessoa está a fazer é evitar a angústia do face a face e, portanto, é muito mais simples. Outros, nem mandam nada, ou outras, e desaparecem e ponto final. Mas vamos ser justos, isto é um traço que acho que, também, é mais global do que isso na sociedade atual — o evitar os sentimentos dolorosos. Você deixa alguém, a pessoa continua a gostar de si, não percebe porque é que você vai embora, e pode desfazer-se em lágrimas à sua frente. Você não está muito entusiasmada com essa hipótese. Pronto, você faz isso pelo WhatsApp, por mail, por isto ou por aquilo, e fica assim.


