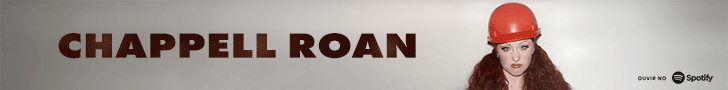‘Já não estamos na era da música em que existe algo genuinamente novo’

Os Ditch Days actuaram na passada Sexta-Feira na World Academy. Depois de um concerto aguerrido, José Crespo (teclas), Guilherme Correia (guitarra), Luís Medeiros (baixo e voz) e Rafael Traquino (bateria) deram uma entrevista à Comunidade Cultura e Arte em que discutiram o que de novo aconteceu desde o lançamento de Liquid Springs, o seu processo criativo, as suas inspirações e a história por trás de uma das músicas mais peculiares do álbum.
Como é que tem sido a vossa experiência desde que Liquid Springs foi lançado? Muita coisa mudou?
Fizemos coisas diferentes e coisas que não tínhamos feito antes. Antes do álbum, já tínhamos tocado fora de Lisboa (em festivais e assim), mas não tínhamos tido a experiência da tour no sentido de serem dois concertos seguidos ao fim-de-semana em locais mais pequeninos como Vila Real, por exemplo. Fomos melhorando o nosso concerto, perceber o que é que funcionava melhor e o que não funcionava tão bem. E é sempre diferente estar a dar concertos quando só tens uma música e parece que é a primeira vez para tudo. Agora já não estamos a tocar em festivais e quem está lá é porque nos quer mesmo ver e já ouviu mais do que uma música. Nota-se uma reacção diferente a isso, é diferente estar a tocar um álbum ou estar a apresentar músicas suportadas por um single. Mas o que nos surpreendeu mais nesta nova leva de concertos é que vimos mais pessoas a ir aos concertos. É progressivo mas há cada vez mais pessoas. Há duas semanas fizemos três concertos: Quarta, Quinta e Sexta-Feira em Santa Maria da Feira, Coimbra e São Pedro do Sul. Esteve sempre um tempo horrível, sempre a chover e tínhamos sempre mais pessoas nos concertos do que estávamos à espera.
Como é surgem as músicas?
Pontualmente, alguém faz a maior parte da música. A maioria das vezes alguém tem uma ideia; seja de acordes, melodia ou letra e depois é trabalhada pelos respectivos membros. E não é obrigatório contribuir para o respectivo instrumento. Na “In Films”, por exemplo, o Guilherme está a tocar uma coisa que o Crespo escreveu e o Crespo está a tocar uma coisa que o Guilherme escreveu. Vamos compondo a música e vamos percebendo o que fica bem em cada instrumento. É uma consequência de nós os quatro tocarmos vários instrumentos. No fundo, pensamos mais para a música. A parte de dividir pelos instrumentos é a segunda parte. É muito um processo de estúdio, estarmos em frente ao computador a gravar a demo, tirar e pôr partes. Não é muito ensaio e jam e ver o que sai no momento. É muito laboratório, muito a olhar para um ecrã com um instrumento de cada vez na mão.
Quais é que são as vossas maiores inspirações em termos musicais?
É muito por fases. A dada altura estamos os quatro a ouvir uma banda específica e automaticamente apetece-nos fazer algo parecido. Nós pegamos em muita coisa, é muito pastiche. Tão rapidamente estamos no estúdio a compor a música e pensamos “vamos meter umas guitarras como Pixies” ou “agora entrava um beat mais groovy tipo Orelha Negra”. Não é tanto uma questão de influências, é igual a como sempre foi, mas hoje tens tanta coisa que tens de ter sempre um referencial. Hoje em dia, qualquer banda parece-se com qualquer coisa. Já não estamos na era da música em que existe algo genuinamente novo. Não é de forma negativa mas as pessoas querem sempre atribuir referências. A consequência de estarmos sempre expostos a tanta coisa é por exemplo em “Back in the City”, uma música super pop e com um groove surf, pensamos “eu vi os Tame Impala a filtrar a bateria e é muito bom” e nós filtramos a bateria também, de uma ideia que captámos de Tame Impala numa música que não tem nada a ver com essa banda.
Para além das bandas que influenciaram a música, numa altura em que já tínhamos lançado o álbum tivemos de definir o que ia ser Ditch Days em termos estéticos e a abordagem ao público. Até a comunicação com o público é influenciada por bandas. Aí até temos referências mais óbvias do que a compor músicas, em que estamos abertos a tudo. Há uma pequena banda de uma vocalista brasileira sediada nos Estados Unidos, que se chama Winter, que, quando descobrimos, começámos a ver muitas coisas próximas de nós, eles que estavam mais avançados e que faziam muitas coisas que nós podíamos fazer bem e que ia tudo fazer sentido em tudo o que já é pós-música. Winter e Real Estate são duas referências.
Como foi fazer um álbum que, não sendo um álbum conceptual, tem um conceito associado?
Se olhares para a indústria da música e como as coisas se promovem ou tens um branding muito fixe em que ligas tudo ou passa ao lado. Já ninguém ouve álbuns, ouvem singles e se calhar ouvem o resto. Se queres cometer a “loucura” de impingir nove ou doze músicas a uma pessoa na actualidade, faz todo o sentido que cries um branding à volta daquilo, com uma onda de comunicação muito bem ligada e muito própria. Por exemplo, Capitão Fausto Têm os Dias Contados dos Capitão Fausto, um álbum onde as letras são super pessoais. Em todas as entrevistas, deram enfoque às pessoas que fizeram aquele disco e têm um videoclip em que os planos são quase fotografias e estão lá as pessoas bem escarrapachadas e exploradas. Conceito não sendo álbum conceptual. Acho que tem de ser, para vender o produto. Arranjámos um conceito e havemos de arranjar outro. Dois terços do disco foram músicas separadas feitas ao longo de vários meses em alturas diferentes com influências diferentes, e arranjámos uma forma de juntar as músicas.
“9 Tracks Make an Album”, a história por trás desta música?
Foi um momento auto-depreciativo. A música não foi para encher porque estava composta para o álbum. Decidimos foi torná-la numa música individual. Compusemos aquilo para ser parte de “Melbourne”, um outro, e era muito diferente. Mas quisemos dar um bocadinho mais de consistência e ter um alinhamento maior. E quanto ao Rhodes, o José nunca tinha tocado um a sério. O Luís (Moullinex) emprestou-nos para gravar. Aquilo é o melhor brinquedo de sempre. O José solou por cima e depois metemos umas guitarras e aquilo ficou feito num só take de um minuto e meio. Essa música é uma prova de que as coisas avançam em estúdio e muito. Tínhamos uma música para aquela parte porque a demo original de “Melbourne” tinha um outro gigante relacionado com a música, meio Fleet Foxes, muitas vozes porque não queríamos ser assim tão pop e acabar a música no refrão. Quisemos ter uma parte a seguir, fomos buscar o riff principal, era um riff antigo, estava na estética do outro anterior mas deixou de estar em estúdio porque como o Miguel Vilhena (Savana), quem produziu o álbum, fez aquela bateria e o outro não se adequava àquele groove. Andámos todos a viciar em Vulfpeck há duas semanas, uma banda funk, e a bateria dele puxou isso, o Rhodes puxava. Já que isto estava tão diferente, pusemos a sample dos Marretas porque era divertido.