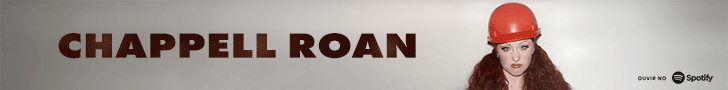Miguel Dores, realizador de “Alcindo”: A noite de Portugal no Dia de Portugal

Este texto foi lançado, em primeira mão, na newsletter semanal do Fumaça. Se quiseres receber estas crónicas, recomendações de reportagens, podcasts e filmes no teu email, subscreve aqui.
Na viragem para 2019 procurava o meu tema de tese em Antropologia. Tema, tema, até tinha, mas era ingénuo e academicista. O início do ano fora marcado pelo grande destaque dado a Mário Machado num programa de Manuel Luís Goucha, no contexto de uma mobilização da Nova Ordem Social denominada “Salazar faz muita falta”. Eu, como muitos de nós, perguntei-me “como é possível?”. O espanto era despropositado. Vim a compreender mais tarde que aquela era uma das primeiras etapas de um período de higienização de figuras e discursos fascizantes, inserida num contexto mundial de recrudescimento de projetos conservadores e nacionalistas. Em confidência a um amigo disse que deveria era fazer um documentário sobre o caso Alcindo Monteiro. Este respondeu-me que tinha em casa uma revista organizada pela Frente Anti-Racista, em 1997, com uma compilação de recortes de jornal sobre o caso. Abrir esta revista foi o início de Alcindo, documentário que estreio 24 de Outubro no Doclisboa.
Aos 14 anos, levado pelo meu irmão pela primeira vez ao Bairro Alto com um grupo de amigos mais velhos, foi-me contada a história de Alcindo Monteiro, in loco, com o dedo indicador apontado às esquinas onde não deveria passar sozinho, para o caso de estarem por lá grupos nacionalistas. Agora via, em letra garrafal: “Gang killing explodes myth of racial tolerance”, manchete utilizada pelo jornal britânico The Independent (16/06/1995). E, de facto, há alguma sumptuosidade nessa afirmação que supera o sensacionalismo jornalístico. A 10 de junho de 1995, sob o pretexto múltiplo de celebrar o Dia da Raça e a vitória do Sporting para a Taça de Portugal, um grupo volumoso de nacionalistas portugueses saiu às ruas do Bairro Alto com o objetivo de espancar todas as pessoas negras que encontrasse pelo caminho. O resultado oficial do evento foram dez vítimas, uma destas mortal, Alcindo, cuja trágica morte na rua Garrett atribui o nome ao processo de tribunal — o caso Alcindo Monteiro.
Esta é a primeira vez que o Ministério Público acusou alguém de genocídio em Portugal — um país que saia há duas décadas de uma guerra de ampla dimensão pela manutenção das suas colónias em África. Marracuene (1895), Pitdjiguiti (1959), Mueda (1960) Mocumbura (1971), Wiriamu (1972), Inhaminga (1973–1974) são apenas parte de uma galeria interminável de crimes portugueses contra a humanidade que nunca foram ao Tribunal de Haia. Mas, no caso Alcindo Monteiro, sim, o crime de genocídio foi a tribunal. Esse, em específico, haveria de cair durante o julgamento. Foi esta fenda na esfera pública portuguesa que aquelas páginas de jornal me fizeram observar. Um evento ímpar, na medida em que desafia o “carro da história” como um conjunto de eventos determinados por elos estruturais, e que se torna, também este, estruturante de novas relações. Uma irrupção, em domus metropolitana, da carnavalização da violência colonial — e do estado de exceção necropolítico que a caracteriza —, sinal contrário à auto–amnistia e ao estado de negação de Portugal, a que estava associado o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na altura, o PSD imite um comunicado em que considera que estes atos “ofendem a inteligência, a sensibilidade, a tradição portuguesa” (Diário de Notícias, 13/06/1995), enquanto o então Ministro da Administração Interna Manuel Dias Loureiro condena “veementemente este acto, que é lamentabilíssimo, e que nos envergonha como nação humanista e tolerante” (idem). O primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva acrescenta que dada a “específica e tradicional vocação portuguesa para contactar com povos e culturas diferentes isto a nós choca-nos especialmente” (Jornal de Notícias, 14/06/1995). Manuel Alegre, ainda deputado socialista, diz que o que aconteceu no Bairro Alto é “um atentado a uma certa imagem de nós próprios” (Público, 15/06/1995). Mário Soares, presidente da República, qualifica este ato como “uma importação” de atitudes racistas verificadas noutros países, e nota que o banditismo nacionalista “é uma moda sem representatividade em Portugal” (Diário de Notícias, 15/06/1995).

Vemos através destas páginas de jornal o terreno de perplexidade política acentuada, cujo sentido das declarações pende para uma interpretação individual, psicopatológica e estrangeirada do racismo, um fenómeno com o qual Portugal nem precisava de lidar, visto que era, por natural desígnio, o inventor do multirracialismo — como já explicava o bom e velho Salazar. Mas esta interpretação não colou. Nasce deste contexto a maior manifestação antirracista realizada em Portugal até ao Black Lives Matter de 2020, dizem-me os testemunhos que recolhi de quem lá esteve; fortalecem-se as recém-criadas SOS Racismo e Frente Anti-Racista; a inoperância da polícia é questionada; exige-se a demissão imediata de Dias Loureiro como coautor moral do linchamento do Bairro Alto; e, no ano seguinte, é apresentada a primeira proposta de lei contra a discriminação étnica e racial em Portugal. A interpretação imperial de um Portugal entrópico e tolerante foi abalada por um genocídio racial, ali no epicentro de tudo, na rua Garrett, entre a rua Ivens, a rua Anchieta, a Serpa Pinto, a António Maria Cardoso, a Brasileira, despindo todo este cortejo colonial da sua inimputável candura.
José Carlos de Vasconcelos descreveu este episódio para a revista Visão como “a noite de Portugal no Dia de Portugal” (Visão, 14/06/1995). Mas se o Dia de Portugal já não estivesse colocado num sistema de revisitação solar da colonialidade, como poderia um linchamento racial ser a sua antítese obscura?

Apesar de saber que seria o que mais esperam de mim, Alcindo não se constrói como um close up em 17 jovens neonazis, mas como um grande plano sobre Portugal. A 25 anos de distância, no país com a mais longa tradição colonial, os conflitos raciais parecem não perder a sua plena atualidade — o caso da esquadra de Alfragide, do Bairro da Jamaica, do Giovanni, da Cláudia Simões, do Bruno Candé, do Danijoy —, são apenas exemplos de uma conta não saldada.
Em 2020, Fernando Medina, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, utilizou o Dia de Portugal como pretexto para fazer uma homenagem tímida a Alcindo Monteiro na Rua Garrett, deixando uma pequena placa memorial num seu recanto. Na mesma hora e dia, o Partido Nacional Renovador (atual Ergue-te) fez uma concentração no Largo Camões. Subiu ao púlpito João Martins: “Façamos do nacionalismo, através do PNR, não apenas um escudo de Portugal, mas principalmente uma espada apontada ao coração daqueles que pretendem dissolver o nosso povo e a nossa terra.”
Quem é João Martins? A pessoa que, após a perda de consciência de Alcindo, lhe coloca os dois pés sobre a cabeça e os braços no ar, em gesto de vitória. Se alguma imagem precisássemos para falar sobre a imprescritibilidade deste crime contra a humanidade, escolheria esta. A prescritibilidade penal destes criminosos está extinta. Resta-nos, a todos nós, a responsabilidade política de levar a memória à luta.
Esta crónica foi publicada originalmente no Fumaça, nosso parceiro, tendo sido aqui reproduzida com a devida autorização.