‘Painted Ruins’, dos Grizzly Bear: uma pérola improvável que incentiva a cultura do álbum, sem recorrer a truques
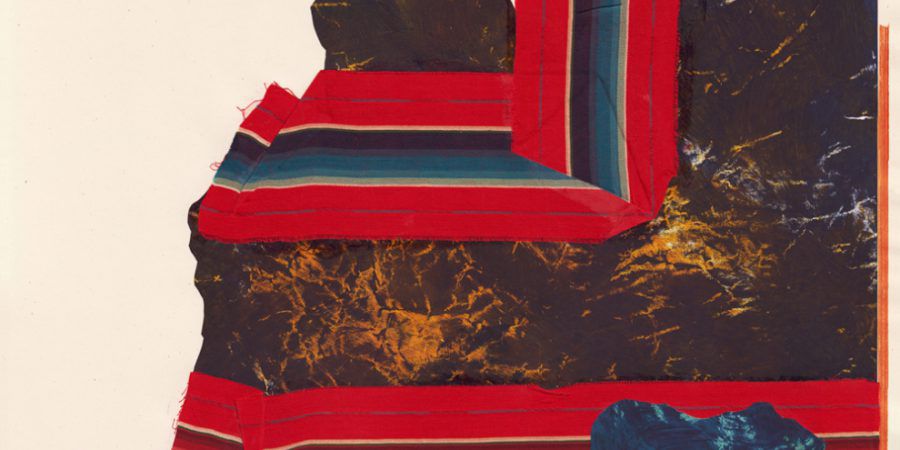
Cinco anos se passaram desde o maravilhoso Shields, disco que os Grizzly Bear lançaram em 2012. Na altura, pouco havia passado do zénite do estado de graça em que as bandas do chamado indie rock se encontravam. Desde então, muita coisa mudou. Eles mudaram. Nós mudámos. A indústria musical mudou. O mundo mudou. Entretanto, o público tem maior fluidez auditiva, as bandas encaixotam-se cada vez menos em géneros e não há uma supremacia de aclamação crítica do que é alternativo. 2017 já viu uma grande parte do cânone indie rock a regressar à ribalta musical, com mais ou menos sucesso, mais ou menos experimentação: Fleet Foxes, Dirty Projectors, Spoon, Real Estate ou Arcade Fire.
Com o lançamento de Painted Ruins marcado para o fim de Agosto, os Grizzly Bear, que sempre tiveram um som muito idiossincrático, intrincado e texturado, surgiam como uma das maiores incógnitas. Será que cederiam à pressão? Será que fariam uma pastiche desinspirada do que já haviam feito antes? Será que teriam um sample inusitado de Kendrick Lamar?
Pôr este álbum a dar é voltar às certezas de 2012, àquele passado que já conhecemos e que nos reconforta. Quiçá muitos ouvintes venham a este álbum em busca disso. No entanto, mesmo retendo as características próprias da música da banda, não é uma mera repetição. Assim, quem vem numa viagem nostálgica, fica pela qualidade das canções. As primeiras audições afastam logo este tipo de dúvidas constrangedoras, que por vezes limitam a apreciação da música em si. Assim, podemos perder-nos nas ruínas pintadas que remodelaram para nós, numa referência ao título evocativo do álbum, que é mais uma dica visual, segundo a banda.

O álbum abre com “Wasted Acres”. A sua aparente simplicidade torna-la quase numa espécie de prólogo, mas funciona como uma pedrada no charco, com as batidas programadas que são um dos maiores desvios sonoros do álbum. Prepara-nos ainda para quando o primeiro single legítimo, “Mourning Sound”, aparece de repente, com uma batida galopante e riffs distorcidos. Para uma banda que tem uma canção que apareceu em milhares de anúncios televisivos, esta talvez seja a vez em que são mais directos. Pode não ter o destaque de “Yet Again”, o grandioso single de Shields, mas o poderio sonoro e equilíbrio entre emotividade e despreocupação jubilosa desabrocham mais a cada audição.
Esse equilíbrio é bastante notório ao longo do álbum. As guitarras calorosas de “Losing All Sense” contrapõem-se à letra desoladora da canção sobre perder o controlo e os nossos objectivos a tentarmos estar com alguém que nos magoa. A melodia forte da canção e entrega vocal de Daniel Rossen em “Aquarian” são de uma efusão fantástica, que se vai dissipando até ao final mais silenciado e melancólico. O que é certo é que o equilíbrio funciona. Para tal, contribui ainda a dualidade das vozes de Rossen e Ed Droste, que muitas vezes se enrodilham nas canções, adicionando complexidade melódica e beleza. Até Chris Taylor dá uma ajuda na voz, com “Systole”, a primeira canção do espólio da banda em que é ele o vocalista principal, e facilmente uma das mais emotivas deste álbum.
“Cut-Out” pega na estrutura de “Southern Point”, do álbum de 2009, Veckatimest, e apresenta-nos uma versão mais limpa. Em menos de 4 minutos sofre diversas metamorfoses de ambiente. Apresenta um clímax glorioso no centro, mas o nosso destaque especial vai para a transição deliciosa, exactamente na marca do primeiro minuto, entre o primeiro verso de Droste e a subtil ponte dedilhada com bateria cavalgante de Rossen. É belo, sim senhor.
E por falar em clímax, o final fica a cargo de “Sky Took Hold”, um claro pináculo emotivo. A sua intensidade lembra-nos de “Sun In Your Eyes”, a canção que termina Shields. As guitarras abrasivas apontam ao céu, rasgando-o. As vozes são especialmente melancólicas, mas vigorosas. Não que outras canções não possuam todas estas qualidades, mas esta simplesmente enquadra-se maravilhosamente como término do álbum, até pela forma como se desintegra nos sintetizadores celestiais, que são a última coisa que ouvimos antes de carregar no botão do play novamente.
É interessante ver que ao fim de inúmeras audições, na generalidade não há uma especial inclinação para nenhuma das faixas. A coesão faz com que nenhuma canção seja deixada para trás e com que nenhuma outra se destaque do pelotão. Na era do advento dos serviços de streaming, que favorecem os singles e a audição desconectada, os Grizzly Bear fizeram um excelente trabalho que incentiva a cultura do álbum, sem ter de recorrer a truques como interlúdios ou transições.
Apesar da aclamação crítica generalizada, talvez a sua subtileza o faça passar despercebido. Aliás, neste mês que se passou desde o lançamento do álbum, pouco se tem ouvido falar dele. Talvez uma afirmação inflamatória de Ed Droste seja o necessário para repor a banda no radar da imprensa musical. Ou então tudo isto é uma bênção disfarçada da era moderna. Assim, esta pérola improvável, intemporal pela forma como se põe à margem dos tempos actuais, pode ser mais apreciada sem o escrutínio intruso da cultura da informação, que torna decisões como a de dar 5 estrelas a este álbum uma carga de trabalhos. Mas pronto, aqui vai.![]()

