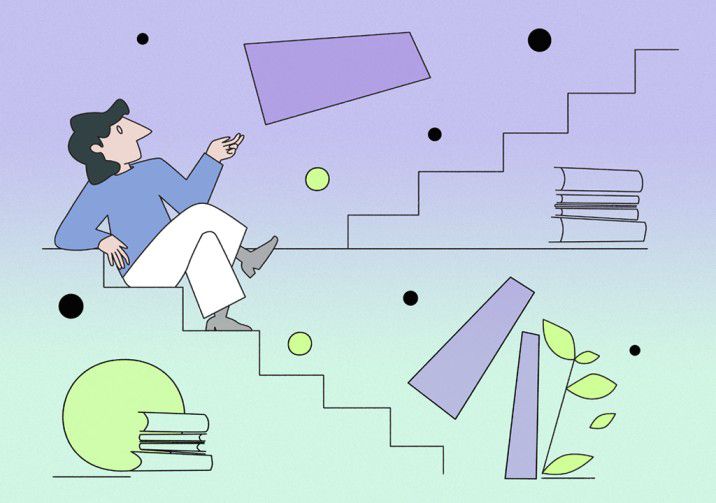Terapia de Divã: a adolescência com a psicóloga Rita Castanheira Alves
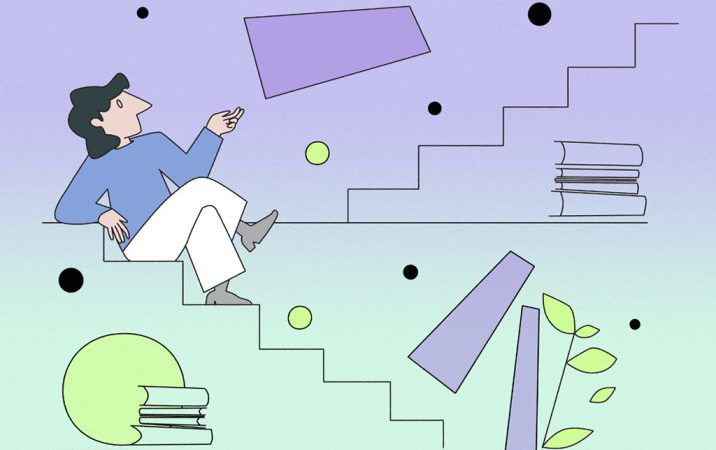
(‘Terapia de Divã’ é a nova rubrica da Comunidade Cultura e Arte dedicada à psicologia. Semanalmente, temos todos um encontro marcado neste divã, para, com o auxílio dos especialistas, discutirmos e entendermos melhor os mais variados assuntos – desde a sociedade até à criatividade – à luz do enquadramento psicológico. A adolescência, com a psicóloga Rita Castanheira Alves, é o tema desta quarta edição. Para a semana, o ‘Terapia de Divã irá abordar os efeitos psicológicos dos internamentos hospitalares prolongados.)
Rita Castanheira Alves, mais conhecida como a psicóloga dos miúdos, é psicóloga especialista na área clínica e da saúde e na área de intervenção precoce. Auxilia os adolescentes, atende as suas dúvidas e preocupações, ao mesmo tempo que ajuda os pais a ultrapassarem, em conjunto com os seus filhos, esta fase tão complicada mas necessária. Aqui fica a conversa sobre a adolescência neste ‘Terapia de Divã’. Todos já passamos por lá, mas as boas notícias é que sobrevivemos, mesmo com todas as dúvidas, crises existenciais, e com a constatação de que as nossas transformações corporais (o acne, o crescimento dos pêlos) podem-nos transformar em seres NÃO tão bonitos quanto a Brooke Shields e Christopher Atkins no filme ‘Lagoa Azul’ – contingências da vida. Vamos, então, recordar esta fase do desenvolvimento humano, sem a qual não seríamos os adultos que somos hoje. Para a semana, o Terapia de Divã trará mais boas notícias. Para já, fica a informação de que o próximo tema a tratar será ‘os efeitos psicológicos dos internamentos hospitalares prolongados’.

Rita Castanheira Alves/foto de Nicole Sanchéz
A adolescência é, talvez, a fase do desenvolvimento humano mais difícil de categorizar. Digo isto porque, no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, há um antes e depois da ‘Segunda Guerra Mundial’. Antes, passada a primeira infância, ou se trabalhava ou se trabalhava. Precisamente por causa disso, há quem diga de que se trata, apenas, de uma fase instituída na nossa contemporaneidade. Como psicóloga, como é que olha para essa ideia?
Sim, de facto havia a ideia de que a infância era uma fase em que as crianças eram adultos pequeninos. Não havia, portanto, a questão dos direitos da criança, o reconhecimento de que, na infância, as crianças têm direitos muito específicos, competências por desenvolver e outras características muito próprias. Há, no entanto, uma série de especificidades inerentes à infância. A adolescência, contudo – é importante referir -, tem muito a ver com o avanço das neurociências. Conforme nós vamos conseguindo estudar mais o cérebro e as suas especificidades nos vários momentos de vida, vamos conseguindo, por isso, perceber que, de facto, esta fase não é igual, em termos de neurodesenvolvimento, à infância nem àquilo que é o cérebro adulto. Isso veio ajudar, conjuntamente com a questão dos direitos da criança e a valorização da educação, no reconhecimento de que a adolescência tem, de facto, características muito específicas e, muitas delas, são biológicas. Tem muito a ver com uma fase específica de maturação cerebral que se espelha, depois, em termos comportamentais e sociais. Fase essa que aparece de uma determinada maneira que não é igual à infância nem é, consequentemente, igual no que será mais tarde na adultez.
Uma vez que focou o desenvolvimento e as especificidades a nível do neurodesenvolvimento, lembro-me de um documentário que passou na RTP2, ‘A Ciência da Adolescência’, que abordava isso, justamente. Salvo erro, teria a ver com a amígdala. Explicava como o processo de desenvolvimento cerebral influía, por exemplo, nas constantes mudanças de humor e nas respostas exacerbadas emocionalmente que os adolescentes dão e que, muitas vezes, os adultos não sabem contextualizar muito bem.
É engraçado porque todos nós passamos por lá, não é? Ainda que, depois, cultural e historicamente haja diferenças. Sim, mas ressalvando aqui uma coisa, a minha área é psicologia. A parte biológica ou da neurofisiologia interessa-me e é fundamental saber enquanto clínica, mas não é especificamente a minha área. Gosto muito, mas digo isto porque posso não estar a dizer tudo aquilo que lhe possa fazer mais sentido, ainda que seja, mesmo, importante perceber que há essas especificidades além da cultura.
Agora, sabemos que, quando nos tornamos adultos, é importante sermos um ser independente, autónomo, que consegue cuidar de si, que forma novas famílias. Por outro lado, pensando a adolescência tendo em conta a biologia, tem também uma função de sobrevivência animal e de continuidade da espécie. Manter a espécie e continuar. Por isso é que o adolescente, se não tivesse todas estas questões em termos de maturação cerebral – não só a parte hormonal, quando falamos de sexualidade e puberdade, tudo isso tem acompanhamento no desenvolvimento cerebral -, não se poderia transformar num adulto saudável. É muito engraçado falar com os pais, às vezes, porque, de facto, parece uma descoberta tão óbvia quando falamos dela mas isso normalmente não foi ou não é explicado aos pais. E explicar isso aos pais, por vezes, acaba por ser uma libertação enorme para eles – conseguem conformar-se e tranquilizar-se mais e perceber o porquê de algumas atitudes. Essas atitudes são, realmente, precisas para que o jovem saia do ninho tal como um pássaro que vai à procura da sua independência, da sua autonomia e garantir a continuidade da espécie.
Aqui é igual. Tudo aqui tem uma função e uma razão e, na adolescência, intensifica-se a conexão entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, sendo um momento em que começa um processo de integração entre processos cognitivos e emocionais. No entanto, é ainda um circuito muito imaturo e observa-se uma actividade límbica muito intensa. Do sistema límbico, faz parte, entre outras estruturas, a amígdala, responsável, entre outras funções, por sinalizar perigo, porque estão mais sensíveis e expostos aos riscos. Por que razão isso também acontece nesta altura? Eles estão mais autónomos, querem pertencer a grupos ou comunidades que não são seguras – seguras no sentido de não constituírem o porto seguro das famílias e das suas raízes – e, por isso, têm um sistema que está mais sensível a isso. Será uma das razões, por exemplo, do ponto de vista de sobrevivência. Se eu estou mais autónoma, se vou experimentar, “desconfinar” (utilizando a palavra do agora), é como se o meu cérebro estivesse mais sensível, mais alerta daquilo que pode acontecer. Por um lado, é isso. Por outro lado, a nossa parte frontal do cérebro que tem a ver com o controlo dos meus impulsos, como um filtro para tomadas de decisão, por exemplo, está um pouco mais “desligada” e, como referi, o circuito entre o sistema límbico e esta parte ainda é imaturo. Porquê? Para eu arriscar mais, para eu procurar mais fora. É esta dança que é preciso enquadrar. Parece quase mágico, mas não é nada mágico, é biológico e tem funções de sobrevivência, de continuidade da espécie.
Depois, há as questões culturais. Sabemos que nós somos um ser ‘biopsicossocial’ – há teorias que defendem o peso da biologia, outras do meio – mas sabemos, actualmente, que somos um conjunto de todas estas dimensões. Culturalmente, o nosso meio, as nossas experiências e o nosso ambiente vão, provavelmente, condicionar ou estimular, mais ou menos, a nossa parte biológica que está a acontecer ao mesmo tempo. A amígdala está mais sensível, há maior actividade límbica, temos a parte da frente do cérebro em grande desenvolvimento mas, ao mesmo tempo, é como se estivesse mais “desligado”, como expliquei há pouco. Tudo isto está a acontecer – vai acontecer independentemente do que fizermos – mas pode ser melhor ou pior, podemos estimular ou não, e aí é que entra a cultura, seja ela numa componente mais macro ou mais direccionada no contexto familiar, mais micro. Estamos a falar, por exemplo, das crenças que depois se expressam em comportamentos, em rituais, em regras, hábitos específicos de cada família. Esses factores podem facilitar ou dificultar tudo isto que está a acontecer a nível de maturação cerebral e que se traduz em comportamentos, por vezes, difíceis de compreender ou gerir.
Choques geracionais sempre existiram e vão continuar a existir, é normal. Mas acha que o facto das gerações anteriores não terem tido, propriamente, uma adolescência como, por exemplo, a minha geração teve, contribui para alguns desses choques e possível falta de compreensão para com as novas gerações?
Percebo o que está a dizer, sim. Como foi uma geração que estava já disponível para educar de uma forma que não aquela como foi educada, ainda assim, torna-se mais difícil entender certas vivências porque não viveu as mesmas experiências. Sim, isso é um desafio. Como disse, o choque geracional é comum, acontece, e pode até ser produtivo. Tem também o seu marco na história e faz com que as coisas vão mudando.
Talvez sim, esses pais não tivessem essas vivências, mas fica a questão que o meu pai me lançava muitas vezes quando era mais nova, adolescente, e que me a colocava, porque não teve a adolescência que quis ter mas que me permitiu ter, com maior liberdade, experiências das quais eu precisava, mas com negociação, responsabilidades e cedências mútuas. Lançava-me a interrogação, será que, quando eu tivesse um filho ou que quando a minha geração tivesse filhos – como conhecemos tanta coisa e estamos tão conscientes daquilo que pode acontecer -, será que isso se traduz em sermos, na mesma, capazes de negociar, de permitir e de flexibilizar? Essa é uma questão interessante, não é? Como é viver dessa forma e, depois, estar no papel de pai ou de mãe, estando mais consciente dos perigos e dos riscos do que pode acontecer? Essa questão interessa-me e fico sempre nessa dúvida. Interessa-me os vários factores que influenciam a forma como se é filho e como se é pai.
Isso levanta outra questão também importante. Para o adolescente ser e se transformar num adulto saudável, tem de existir aqui um certo jogo. Ele tem de ir à procura e ser detentor de uma certa rebeldia longe dos pais, e os pais têm de o chamar a atenção e de o puxar, quando preciso, para junto deles. É um jogo de opostos mas que terá de funcionar assim, não é?
Exactamente, trata-se da função do tal filtro que, naquele momento, está pouco “oleado” no cérebro e os pais, como porto seguro, cuidadores e figuras de referência de confiança e de protecção passam a exercer. É o equilíbrio entre “eu percebo que tu precises mas, ao mesmo tempo, há coisas que, se calhar, ainda não podes ou têm de ser graduais, porque estás a aprender.” Os adultos (pais ou outros cuidadores) podem e devem funcionar como esse filtro que o cérebro, nessa altura, não tem tanto, antecipando cenários, ir trabalhando a autonomia, criando momentos de cumplicidade e diálogo entre pais e filhos.
Nesta fase, o grupo acaba por ter a importância toda para o adolescente? A sua influência supera por completo a da família ou não?
Na verdade, ambas as influências estão lá. Como a Ana estava a dizer, e faz muito sentido, ainda assim, nesta fase, os pais são muito importantes – os pais, a família ou grupo/figuras adultas de origem/referência do adolescente continuam a ser muito importantes por este balançar, por toda a base, estrutura, segurança e bem-estar, ou falta dela. Os primeiros padrões de relação que estabelecem connosco, tudo o que foi feito desde o nascimento, infância e pré-adolescência até chegar a esta fase – essa tal base que vem desde os primeiros momentos – tudo isso é fundamental e tem impacto na forma como, depois, nós “adolescemos”.
Como estamos mais dispostos, mais disponíveis, fazemos esse equilíbrio entre a impulsividade que o cérebro tem e esta actividade mais intensa a nível emocional que já referi. É fundamental haver este balanço e costumo dizer que, nesta fase, é como se os pais estivessem mais nos bastidores, mas, na verdade, estão sempre lá no final do dia quando nós saímos do palco. É tão bom e é tão importante chegar a casa e ter ali, nos bastidores, os pais que relembram, que alertam e que fazem um curativo se houver uma ferida emocional. Acho, portanto, que é um misto.
É nessa fase, muitas vezes – em alguns casos até mais cedo -, mas é nessa fase que questionamos a nossa existência, nos tornamos mais críticos sobre aquilo em que acreditamos, o que queremos para nós e aquilo que são os nossos valores. Há, de facto, nessa altura, um debate interno, muitas vezes até de forma pacífica, porque, em casa, há espaço para isso, ou porque o adolescente criou dentro dele espaço para tal. O adolescente pode reflectir para ele, “ok, isto pode fazer sentido, até pelo o que os meus pais passaram, mas não defendo estes valores.” Outros adultos – por exemplo, professores, pais de amigos ou tios – podem igualmente contribuir para o adolescente questionar alguns valores ou ideais que em casa foram passados. Aí também entram os grupos de pertença – o grupo dos góticos, do metal, dos skaters ou do que for – que têm muito a ver com as nossas experiências de ensaiarmos novas identidades, novas formas de nos afirmarmos nos nossos comportamentos. Essas experiências de identidades fora do seio familiar são muito importantes para a definição da(s) nossa(s) identidade(s).
Por isso é que a noção de ídolo tem tanta importância…
Sim, por exemplo! Estão à procura de referências que, numa certa medida, vêm pôr em causa ou questionar aquilo que está na base deles ou na forma como cresceram. Diria, portanto, que é um equilíbrio entre alguns valores que ficam, que estão lá na origem, na base, que são passados pelos pais e nos quais são educados e, depois, sim, as questões resultantes da liberdade individual, havendo espaço e condições para que ela se desenvolva. Portanto, os pais estarem lá e haver valores transmitidos é fundamental, ainda assim, é comum e importante que o adolescente encontre formas de os questionar, procurar outro tipo de valores, conhecer outro tipo de perspectivas e, dessa forma, devagarinho, ir formando as várias identidades e aquilo que é mais seu.
Mas se um adolescente tiver uma boa estrutura, já não estará tão permeável ao lado negativo que a influência do ídolo pode exercer.
Sim, sim, exacto. Nós sabemos que há um conjunto de condições ou de características que ajudam a constituir uma boa estrutura para, depois, então como diz, procurarmos fora, pertencermos a novos grupos e arriscarmos mais mas em segurança, em certas experiências que, às vezes, até podem ser perigosas mas não em demasia – ou que não tenham consequências por aí além. Sabemos que há um grupo de condições para isso, mas não há uma fórmula matemática. Isso é assustador quando se está na prática, quando se é o pai, quando se tem um filho. No entanto, sabemos que há um conjunto de factores relativos aos nossos pais ou à nossa história familiar. O nosso padrão de vinculação, por exemplo, algo tão precoce que vem desde o início, tem muita influência na forma como, depois, nós nos relacionamos nas novas relações, no bem-estar subjectivo e no nosso auto-respeito nas novas relações. O padrão de vinculação – a forma como nos relacionamos precocemente com a nossa figura de referência ou com as nossas referências, as nossas figuras de vinculação e o padrão que foi estabelecido – têm extrema importância nas relações que estabelecemos mais tarde, nomeadamente na adolescência, e há muita investigação sobre esta relação.
Outra das coisas a reparar é na forma como esta família (ou esta pessoa) foi crescendo desde criança nas suas experiências. Será que foi criança? Que teve direitos de criança? Ao que foi exposta? Como a ajudaram a lidar com as emoções? A expressá-las? Como foi valorizada pela pessoa que é? Que autonomia ganhou, que oportunidades lhe foram dadas em termos de conhecer o mundo e, quando eu digo o mundo, pode ser dentro de casa, não é? Todas essas coisas e outras mais – o pensar sobre as coisas, o haver espaço para conversar e afirmar aquilo que pensa – sabe-se, contam para que, depois, o adolescente possa partir com uma base mais estável para este período arriscado (é arriscado mas muito importante) que é a adolescência. É, no entanto, sempre difícil os pais, na prática, saberem que o estão a fazer da melhor forma.
Quando se fala na questão do desconforto quanto ao desenvolvimento do corpo – numa certa medida é normal sentir-se isso na adolescência porque são transformações que ocorrem pela primeira vez e tem de ser feita uma adaptação – fala-se quase sempre do ponto de vista das raparigas. Há questões sociais e históricas bastante sérias para esse desconforto estar mais associado à mulher, foi quem sofreu mais com a ideia do corpo perfeito e é compreensível, mas quanto aos rapazes, eles também sentem esse desconforto ou podem ter problemas na aceitação do seu corpo?
Podem, sim. Podem e têm. E, muitas vezes, contam com um factor extra mais perigoso na hora de lidar com estas questões ou com outras que possam vir. Esse factor tem a ver, mais uma vez, com a nossa cultura ou com as questões dos papéis de género porque, histórica e actualmente, isso ainda acontece. Claro que muita gente já está mais consciente e muito se disputou, mas isso ainda acontece, frequentemente, sem se ter a noção de que está a acontecer.
Haverá excepções mas, tendencialmente, nós permitimos uma maior expressão emocional às raparigas em termos daquilo que são as emoções chamadas “internalizadas”, como a tristeza e o medo, e, muitas vezes, associamos tal a fragilidade. Não é fragilidade, no entanto, porque todos nós sentimos tristeza, o ficar com medo. Aos rapazes, por questões históricas muito, muito antigas, não legitimamos muito isso. Legitimamos muito mais – algo que não legitimamos, por outro lado, tanto às meninas – a raiva, o lado agressivo, as emoções mais “externalizadas” e a suprimirem muitas vezes a tristeza, o medo.
Como tal, o que acontece é que eles têm esta agravante de que, quando estão no momento da puberdade (e todos nós passamos por esse momento), em que o corpo não está muito agradável – não é só da cabeça nem é só porque estamos permeáveis a imagens que foram construídas socialmente, também há isso mas já lá vamos -, mas ou é o corpo que cresce muito rapidamente, no caso dos rapazes, ou a cara fica cheia de acne, ou vêm os primeiros pêlos, não é agradável. Ao não terem tido tantas oportunidades de legitimarem algumas emoções dentro deles desde cedo e as expressarem (o medo, o queixarem-se dessas coisas, a tristeza) – às meninas é que é mais estimulada e legitimada a ideia de brincarem com vestidos e de ligarem à imagem desde cedo, de cuidarem delas -, os rapazes têm esta agravante de não terem sido ajudados e estimulados a expressarem-se emocionalmente, ao invés suprimem. Têm esse medo, tendem a suprimir e ficam inseguros com a sua imagem, o que é uma condicionante.
É algo que têm de viver de forma mais solitária…
Solitária e, muitas vezes, aparece manifestada em outras formas, em outro tipo de comportamentos, como a agressividade.
Em bullying, por exemplo?
Pois, eventualmente. Sabemos que há vários tipo de bullying e tanto em rapazes como em raparigas. Pode vir e aparece, muitas vezes, como expressão de um sintoma. Pode ser a expressão de alguma coisa, a qual o bully não está a conseguir gerir dentro dele e, por isso, tem muito a ver com ele próprio. Aqui, estamos mesmo a falar de bullying, não estamos a falar de coisas pontuais, de afirmação no grupo, que é muito comum nesta fase.
Mas quanto à questão do bullying, como a sociedade deveria gerir a questão? Estamos a fazê-lo da melhor forma? Coloco a questão porque, por vezes, e até muito pela forma como as coisas chegam até nós – dá a sensação de que as coisas estão um pouco descontroladas nas escolas. Que, de alguma forma, não se está a fazer o suficiente.
Sim, sim, mas queria ressalvar aqui uma questão, foquei o caso dos rapazes porque a pergunta foi nesse sentido, mas há uma coisa que continua a manter-se, no que diz respeito a esta questão dos papéis de género e do estereótipo. Continuamos a ver, na nossa cultura e não só, uma grande hipervalorização e um estereótipo da imagem feminina, não é? Aquilo que é a valorização excessiva da imagem da mulher e um estereótipo dessa imagem. Isso continua a ser muito verdade em relação às raparigas. As perturbações de comportamento alimentar têm maior prevalência nas raparigas. Continuamos, apesar de algumas mudanças, a ter imagens veiculadas de várias formas, por exemplo, na moda que não correspondem à verdade.
A questão do marketing …
Continua a ser um influência grande e todos nós devemos trabalhar – nós técnicos e as escolas também – esta ideia de que são imagens que, muitas vezes, nem sequer são imagens realistas. Portanto, as miúdas ainda continuam a sofrer muito com isso na adolescência, especificamente, e até muito mais cedo, por vezes.
São imagens pensadas para um propósito, não têm de ser reais, e o adolescente ainda não sabe, muito bem, fazer essa distinção.
Sim, não só o adolescente mas todos nós. Há muitas coisas que nos rodeiam que são feitas de uma forma para, sem querer, subtilmente, nos levar a consumir. A questão da imagem, portanto, é uma questão importantíssima e um grande alerta que precisa de ser trabalhado. Ainda existe essa questão da hipervalorização e do estereótipo da imagem feminina, neste caso, com um impacto enorme na adolescência pelas características que define esta fase.
Quanto à questão do bullying, falando da forma como as coisas nos chegam, sabemos que, actualmente, as coisas também nos chegam com muito maior imediatismo não só pelas notícias – antes tínhamos momentos específicos do dia em que tínhamos notícias, os blocos informativos eram menores, os formatos eram mais reduzidos (era a imprensa escrita além dos canais televisivos), não éramos bombardeados a toda a hora com informação (ou até desinformação) -, como pela capacidade que temos de nos deslocarmos, de estarmos aqui, mas sabermos o que se passa em qualquer lugar e mesmo ir até lá, rapidamente. Tudo isso, com a globalização e tecnologia, faz com que estejamos muito mais atentos e, a todo o minuto, a saber o que aconteceu aqui, ali e em todo o lado. O estarmos mais conscientes também nos pode fazer pensar mais sobre isso, sobre o que podemos fazer. Antes, não existiam tantos dados sobre isso, agora temos, então temos de agir sobre eles.
No entanto, apesar de nos chegar mais informação sobre situações de bullying, não quer dizer que não existissem antes também. Não temos dados sobre isso, mas seria curioso estudar os adultos de hoje, relacionando os resultados com aquilo que foi a história deles a nível de percurso escolar, o histórico de bullying, e perceber que adultos são esses agora. Nós não temos isso estudado, actualmente, e não existia intervenção psicológica como existe hoje em dia. Mas, por isso mesmo, o que é que há a fazer? Há que continuar, há projectos dedicados a isso que são fundamentais, actualmente, englobando o ciberbullying que, esse sim, não existia, claro, e é bastante preocupante. Agora, o que me parece que é premente fazer, no que diz respeito ao bullying e às outras questões que falamos hoje, é uma intervenção desde o início – não começar só na adolescência ou fazer intervenções educativas que são minimamente pontuais, de alguém que vai à escola, pontualmente, falar sobre emoções ou, pontualmente, falar sobre sexualidade. Temos de fazer com que seja parte dos currículos, temos de focar o desenvolvimento emocional e tudo aquilo com que se relaciona – os problemas das relações sociais, o auto-respeito, a auto-estima – e, se isso for trabalhado desde o início, talvez possamos ter dados interessantes e que nos mostrem que uma literacia emocional que permite melhores relações previne o bullying e alguns dos sintomas que estão na sua origem.
Isso é uma parte, a parte da educação emocional e tudo o que ela engloba, vista até hoje em termos académicos como uma área de menor importância e que cada vez mais a investigação nas ciências humanas e sociais mostra que é fundamental e transversal a tudo o que fazemos na vida – principalmente e mesmo no desempenho académico. Por exemplo, sabemos que “um cérebro” numa sala de aula (ou em qualquer outro local, claro) a produzir stress diminui bastante a capacidade para estar a aprender, a raciocinar, a memorizar. A outra parte, e ainda não as temos de forma suficiente, mas temos de dar mais respostas às famílias. A escola é fundamental mas, muitas vezes, estas famílias também precisam e muito de ser ajudadas para melhorar a saúde mental como um todo – a saúde mental familiar e tudo o que com ela se relaciona.
Mas nós estamos a falar do adolescente tendo em conta o ponto de vista daquele que quer explorar, arriscar e fazer coisas novas sem o controlo total da família. Fala-se muito, no entanto, daquele jovem que está sempre no quarto, não quer sair, e quer estar sempre jogar online, por exemplo. Isso não acaba por inverter as coisas, do que deveria ser um adolescente?
Mais uma vez, vamos à cultura e ao momento histórico ou o que é a história. Percebo o que está a dizer, ainda assim, o que é que o adolescente está a fazer no quarto? Nós, se calhar, estávamos no quarto – e se calhar precisávamos de estar porque a adolescência também tem esta parte essencial da intimidade e da privacidade – porque precisávamos de estar sozinhos, connosco. Estávamos lá sozinhos com a nossa música, a ler, a escrever, a ouvir rádio ou ver televisão (quem tinha…). Agora, estão sozinhos fisicamente mas comunicam virtualmente, através das redes sociais – estão no quarto mas podem estar a comunicar ou, claro, querem e necessitam de estar sozinhos como adolescentes.
Enquanto técnica, preocupa-me e interessa-me, sim, perceber – e ainda não temos dados suficientes para entendermos o impacto que essa comunicação virtual tem – se isso trará mudanças nos padrões de relação entre eles, ou se pode ter consequências e quais. Pergunto se, pelo facto de as relações serem muito mais à distância, se os adolescentes convivem menos pessoalmente além da escola, conversam menos pessoalmente mas depois publicam. Se o “é assim, faz parte” está completamente banalizado – falamos da partilha nas redes, de fazer publicações nas diversas redes sociais ou aplicações – o que é que publicam? Publicam o que é real ou idealizado? Publicam porquê? E para quê? Querem ter “seguidores” para quê? O que é que eles vão ver mais tarde e como se vão ver? Quais são as memórias reais ou as memórias biográficas desta fase, que faz parte da história e do caminho deles? Acho que é uma coisa importante para pensarmos e poderá alterar ou poderá ter influência, não sei, mas creio que terá. Estaremos para ver porque isto ainda é muito novo, mas será importante averiguar o que é que isso implica no estabelecimento de novas relações e na forma como se relacionam frente-a-frente e consigo próprios. No fundo, como é que vivem estas experiências, estando muitas vezes fechados.
Muitas vezes fazemos a diabolização das novas tecnologias, por si próprias. Mas para o adolescente chegar a esse ponto extremo é porque, no seu ambiente, algo talvez já não estivesse bem.
Os estudos que existem – alguns que foram lançados até há pouco tempo e estou com eles mais presentes, embora esteja a ser feita mais investigação nesta área – mostram-nos que o uso das tecnologias, a forma como é feito e o impacto negativo que pode ter nos jovens – ou seja, mais do ponto de vista da adição ou do desenvolvimento de sintomas emocionais negativos fruto do excesso de uso e da falta de contacto com o exterior – sabemos que não é um factor que vem sozinho, como a Ana está a dizer. Relaciona-se com o que já está a acontecer antes. Há outro tipo de alertas, factores de risco – uma rede social pobre, dificuldades sociais, uma rede social pobre no sentido de não se desenvolveram laços de amizade fortalecidos, miúdos com pouca auto-estima, com poucas experiências e interesses, entre outros factores – esses adolescentes estão mais permeáveis para as consequências negativas das novas tecnologias, até pelas questões do cyberbullying.
Agora, isto é o que tem sido estudado. E sabemos que, em termos cerebrais, o que acontece noutro tipo de dependências (mesmo de substâncias) também acontece na adição à tecnologia, por isso pode mesmo tornar-se uma dependência. Enquanto técnica, interessa-me, preocupa-me e acho que começa a ser urgente que se estude como é que algumas plataformas, por si só, mesmo partindo de um adolescente que não tem muitos factores de risco, podem contribuir para consequências graves para a saúde mental do adolescente – há que ver a forma como chegam, o que chega, e de acordo com as características de um adolescente e as vulnerabilidades desta fase. Nesse sentido há, de facto, políticas até de revisão dos conteúdos de algumas plataformas que têm sido postos em causa, são duvidosos e podem ser, de facto, perigosos em termos de impacto na saúde mental dos adolescentes.
Acha que os adolescentes têm muita pressão, actualmente? Já podem ir para escola, não são obrigados a trabalhar ainda em crianças têm um outro tipo de liberdade. Mas, mesmo assim, são as actividades em excesso, são os hiperestímulos, é o bombardeamento do marketing, é a pressão do grupo…
Estava a ouvi-la falar e a pensar que nós vivemos, inclusivamente, na nossa sociedade ocidental, a hipervalorização da adolescência. A adolescência está na moda e isso vê-se, por exemplo, nas roupas e tudo mais. Tal, antes, não acontecia. Criam-se roupas para os pequeninos, para as crianças, que são mais próprias para a adolescência, não é? Nesse sentido, por vezes, pode-se criar uma certa pressão, porque passou-se a falar muito da adolescência, passou a ser uma fase extremamente valorizada, os pais estão muito mais conscientes e temem muito mais que adolescentes os filhos vão ser. Genericamente, aplicam-se e preocupam-se muito mais no início, na infância, preventivamente, para depois viverem bem a adolescência com os filhos. E isso pode trazer à tona algumas questões. Agora, é uma situação completamente diferente daquilo que acontecia antes, em que nem havia sequer espaço para esse tipo de pressões e, ao não haver espaço, creio que isso teve um impacto nos adultos que não foi assim tão simpático.
O que quero dizer é que era outro tipo de realidade e de dificuldades. Acho que houve coisas importantes que foram vedadas e isso, mais tarde, espelhou-se em alguns adultos aos quais a adolescência “não foi permitida” ou possível mesmo: não havia dinheiro para pagar os estudos, os próprios pais tinham tido menos oportunidades de educação e formação, havia a questão das mulheres e o seu papel, o que lhes era permitido ou não desde cedo. Acho que, nesse sentido, isso criou muitas lacunas.
Lá está, não lhes foi reconhecida essa adolescência porque tinham de ajudar a família, trabalhar ou a escola não era tão valorizada. Até mesmo por questões políticas, também, se pensarmos, por exemplo, no nosso país antes do 25 de Abril. A liberdade de expressão tão importante na adolescência (e não só!) era vedada, não só aos adolescentes mas a todos. Não havia acesso livre à cultura, essencial para a educação de um povo, quanto mais dos jovens e para a sua formação identitária. Por isso, era difícil ser adolescente também. São pressões diferentes, compreendo o que quer dizer, mas é mesmo diferente.
Consegue-se identificar a mágoa no adulto?
Consegue-se, acho que se consegue. Não direi mágoa, mas nota-se na estrutura do adulto, naquilo em que o adulto se transformou – na sua saúde mental, naquilo que são as suas conquistas, a sua auto-estima, a resiliência e capacidade de abstracção desse adulto. Se olharmos para os nossos avós, para os nossos pais, se lhes pedirmos para nos contarem, conseguimos perceber isto que refiro.
Pode ser um adulto mais inseguro.
Pode, pode ser. Não só por causa disso, mas sim, pode ser. Pode ser um adulto mais inseguro que tem um motor de motivação intrínseca que está desligado – conforma-se muito mais, não sabe do que é capaz. Acho que há essa ligação, não há estudos directos sobre isso, nunca vi, mas creio que há essa ligação directa. Muitas vezes – não se calhar nos pais dos adolescentes que vou tendo agora, mas na geração anterior, se calhar na dos meus pais – sou capaz de olhar para muitos adultos que conheço, e que têm agora 60 anos e são agora avós, e há muita coisa que tem a ver com a história dos pais deles e também com a história da sua adolescência e da forma como foi vivida. Não temos isso medido, no entanto.
Se não viveu essa fase, o adulto não teve a oportunidade de perceber quais os seus gostos reais ou qual a sua real motivação.
Sim, sim, porque não foi possível ou, muitas vezes, porque não foi mesmo dada, à pessoa, a oportunidade de fazer, experimentar, arriscar. Não acreditaram no adolescente em questão. Muitas vezes, não é porque não quisessem, é porque não sabiam, e, muito dificilmente, enquanto adulto, a pessoa terá a oportunidade de acreditar também. Sempre lhes disseram que tudo é muito difícil ou para se deixarem dessas coisas que são importantes na adolescência porque, lá está, há coisas ainda mais importantes. Às vezes, era a comida na mesa que não podia mesmo faltar. Não ficava bem uma menina sair, por exemplo, não havia tempo para estudar ou não havia dinheiro. Os pais, especialmente os homens, não eram educados para conversar com os filhos intimamente, escutá-los, partilharem, estarem próximos. Isso deixa marcas. É interessante pensar o que essas pessoas passaram e relacionar isso com o tipo de pais que foram, e por aí em diante.
Muitas vezes, nesta área parental, diz-se que antigamente é que era melhor, mas eu não vejo isso. Relativamente àquilo que é a adolescência hoje em dia, não vejo como pode ser assim. Acho que as pessoas tinham necessidades básicas mais ameaçadas, por isso tinham de se dedicar e preocupar mais com as mesmas, claro. Os pais estavam muito menos conscientes (por razões que compreendo perfeitamente, mais uma vez não é por não quererem) para pensarem estas questões da parentalidade, com menos capacidade de porem em causa certas noções, preconceitos, de se porem em causa e mudar, o quererem ser bons pais para o adolescente em si. Os filhos tinham muito mais medo do que pudessem dizer, fazer ou sentir, eram menos livres nas suas próprias famílias.
Os pais aparecem em consulta – obviamente não é assim em todo o lado do país -, mas aparecem em consulta mais cedo porque já reparam em sinais de alerta e têm medo quando chegar a adolescência. Seria impensável estarmos sensibilizados para estes tipos de coisas, antes. Por isso é que estava a pôr a tónica no facto de antes ser muito mais duro, por muito do que referi. Agora pode ser mais difícil, enquanto pais, porque estamos conscientes e temos mais noção dos riscos. A pressão que eu acho que existe, actualmente, e já foram escritos estudos sobre isso até por outros terapeutas e outros autores, tem a ver com a especialização e do querer ser bom a tudo. De ser o bom filho, o bom desportista, de ser o muito bom aluno. Se eu me especializo para ser o super-pai, tens de ser o super-filho.
Agora que fala na questão da especialização em excesso, é muito curioso que os estudos apontem que a principal diferença entre a geração millennial e geração z é, precisamente, o facto da geração z ser muito mais competitiva e ligar mais à objectividade e a resultados imediatos. Há uma resposta para isso, a geração z passou a infância e a adolescência com a crise de 2008 e, consequentemente, viram o dilema dos irmãos mais velhos.
Sim, sim, sim, sem dúvida! Há esta coisa da especialização em tudo. Andamos, portanto, aqui a especializar-nos todos e essa é uma grande questão. O adolescente ainda está em descoberta, ele sabe lá o que é isso do querer ser, “eu quero ser não sei o quê”, e vivem apavorados com essa ideia, como se fosse uma coisa estanque, para sempre. “Ah, o não sei quantos sempre soube o que quis ser. Sempre quis estudar para médico.” E o adolescente pensa que isso é que é o normal, o saber-se desde sempre o que fazer e ser. Estão perdidos porque, a cada dia, querem ser uma coisa diferente e têm muitas ideias ou, então, não têm. O que quer SER? Isso é uma questão enorme, não é?
Quer dizer, pode acontecer que alguém já saiba o que quer ser desde cedo, mas não tem de ser a norma, de todo. Não há mal nenhum, nem tem de se ter vergonha da indecisão.
Exactamente, não há problema nenhum nisso como pode ser uma oportunidade de a mente estar mais aberta e curiosa a várias coisas. Acho que a questão vem neste tipo de parâmetros, mais nesta questão da especialização e do querer ser muito bom em tudo, hiperprodutivo e especializado em tudo, até no ser filho, pai. E, quando se chega lá, nem sempre significa felicidade. Há que ajudar os adolescentes a não partir para a experiência ou para a decisão com todas as certezas, com tudo extremamente definido e planeado, como se fosse uma fórmula matemática, não lhes exigir isso. Há, sim, que ajudá-los a desenvolver competências para agarrarem com empenho e motivação, mas saber que há partes que não se controlam e que os caminhos nem sempre são a direito, ou raramente são, e que isso não tem mal, só bem. Há que ajudá-los nesta flexibilidade.
É importante dar oportunidades durante a infância e a adolescência para experimentar, para tentar e errar (e isso não faz mal). Para descobrir que quando experimentamos é pela curiosidade do processo, não é porque vou, obrigatoriamente, gostar ou ser o melhor. Há que desenvolver o pensamento crítico, o empenho, a persistência e a tolerância à frustração. Há que ter liberdade de escolha, de assumir que não se sabe tudo e não é suposto saber-se. Isto porque descobrir os nossos caminhos, descobrir-nos até a nível vocacional, é também frustrar, saber que podemos falhar, e que faz parte do caminho. É tentar saber que se tem medo do insucesso, estar consciente dele, e saber que faz parte do processo. E, acima disto tudo, a felicidade. Ser feliz, caminhar para a felicidade e permitir-se estar feliz, no dia-a-dia, não ser só uma busca contínua de um resultado. Acho que, no meio da pressão e da hiperespecialização, esquecemo-nos disto, da felicidade no caminho, no processo, e não sempre no fim, no resultado.