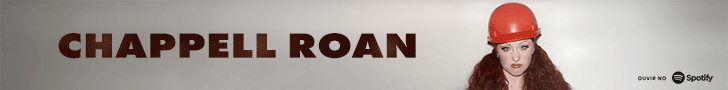Entrevista. António Raminhos: “A ansiedade, a depressão e os burnouts são questões reais — não são manias ou feitios”

A seguinte entrevista foi publicada, originalmente, no “Jornal, Os Mirandelenses”, aquando da ida de António Raminhos ao Centro Cultural de Mirandela, com o espectáculo “Não sou eu…é a minha cabeça”.
E se? E se de repente víssemos no telejornal uma notícia acerca das previsões do “Nostradamus” sobre o fim do mundo e essa dúvida nos ficasse a martelar na cabeça? E se o mundo acabar mesmo amanhã? E se colocarmos a mão na maçaneta daquela porta e ficarmos contaminados? E se tivermos uma daquelas doenças invisíveis que nos corrói por dentro, silenciosamente, e só descobrirmos daí a dez anos quando já for tarde? E se não formos suficientes? E se não formos suficientes para os nossos parceiros/parceiras? E se não amarmos o suficiente? E se, e se, e se?!?
Todos temos a necessidade de um certo controlo e planeamento sobre as nossas vidas, mas esse controlo nunca pode ser garantido na sua plenitude: é precisamente quando o “e se”, ou seja, a dúvida se instala e pode minar a nossa vivência do presente. Há sempre uma parte, em todos nós, que pode ter dificuldade, em certas situações, em lidar com essa falta de controlo. Para quem tem Perturbação Obsessivo – Compulsiva (POC), tal pode ser complicado, mas com os recursos certos e sem medo de recorrer a ajuda profissional e especializada, estamos a dar os passos necessários para lidarmos connosco mesmos. E isto não quer dizer que alguém não tenha direito às suas próprias dúvidas ou “e ses”, afinal de contas, essas dúvidas que nos podem causar ansiedade são, apenas, mecanismos de defesa humana para o tão poderoso “fight or flight”, “luta ou fuga”, mas os problemas começam quando são impeditivos de vivermos a nossa vida e de fazermos o que gostamos. É quando devemos recorrer a ajuda profissional.
António Raminhos, diagnosticado com POC e défice de atenção, vem do humor, é verdade, mas o bom desta sua abordagem da saúde mental, tanto com o espectáculo “Não sou eu…é a minha cabeça”, que está na sua segunda digressão, como com o Podcast “Somos Todos Malucos”, é demonstrar, numa partilha íntima, ao mesmo tempo séria mas regada de humor, que devemos falar e, essencialmente, partilhar, porque não estamos sozinhos: ou seja, não há medo, pensamento ou imagem que nos passe pela cabeça que seja tão exclusivo, que tenhamos de lidar com o “fardo”, “a dúvida” ou o “anseio” no singular. Daí ter dito em entrevista que, “se falássemos mais uns com os outros, percebíamos que o que pensamos não está só na nossa cabeça”, referiu.
No espectáculo que trouxe a Mirandela, dia 16 de Junho, — aliás, o único a ocorrer na proximidade — Raminhos deixou explícito que não é por um tema sério ser desconstruído à luz do humor que não se podem, igualmente, tirar ilacções que, efectivamente ajudam. Além de, por exemplo, falar sobre o estigma da ida ao psicólogo ou sobre o estigma da medicação que ainda prevalece. Uma das principais ilacções é esta: para estarmos no presente é preciso, tão somente, aceitarmos a dúvida.
És conhecido do humor e, agora, o trato da saúde mental já começa a ser indissociável de ti. Tens este espectáculo, tens o “Somos Todos Malucos”, e já tinhas espectáculos ou talks anteriores, creio, referentes à saúde mental. Como sentes que o teu público tem lidado com esta nova abordagem do teu trabalho?
Acho que foi uma mudança natural que foi acontecendo. Há uns tempos, dei um espectáculo na Madeira, estava lá um amigo meu com quem já actuei várias vezes no arquipélago e, no fim do espectáculo, ele veio ter comigo e disse-me assim: “Estava-se mesmo a ver, mais tarde ou mais cedo vinhas parar a isto.” Comecei a rir-me e, depois, percebi o que ele disse, porque os meus espectáculos sempre foram muito pessoais, com muitas partilhas pessoais, mesmo aqueles com histórias mais parvas, a abordar temas e histórias que me preocupavam. Acabou por ser, simplesmente, um trajecto natural.
Tens Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC) e descobriste esse diagnóstico já em fase adulta, creio, na casa dos vinte. Que diferente faz ter um nome para designares algo que, se calhar, já sentias antes que não estava assim tão bem?
Isso é uma identificação, certo? Permite-te identificar e perceber que não és a única pessoa. Aliás, tive o diagnóstico por volta dos 26 anos, mas a primeira vez que fui ao psicólogo, aos 18, agora olho para trás e percebo que o psicólogo, na altura, já me tinha identificado esta perturbação, pela maneira como me explicava as coisas, mas nunca me disse aquilo que tinha. Há psicólogos que têm essa atitude porque acho que é o não se colocar as pessoas num rótulo, numa caixa, mas ao mesmo tempo, as pessoas com quem eu falo, a maior parte, acha que isso é uma identificação, “afinal é isto que tenho, não sou eu, tem um nome, já existe.” Há mais pessoas que passaram por isso, mais pessoas sabem o que estou a sentir, isso traz essa identificação, mas isto é só o início.
“À medida que nos vamos afastando das nossas próprias tragédias, vamos ganhando distanciamento, as coisas deixam de ter o peso e o impacto que tiveram. E nós podemos começar a olhar para elas através de uma outra perspectiva.”
Mas porque achas que o psicólogo não te deu logo o diagnóstico? Talvez por estares ainda em formação e não te condicionar?
Já andava na faculdade, mas não sei. Era, se calhar, a maneira de agir dele, não sei.
Mas continuando na questão da ligação do humor à saúde mental. A saúde mental pode ser encarada com humor?
Claro, isso é quase como aquela história dos limites do humor. Acho que se pode falar de tudo com humor. Se os temas, por si só, já são tão pesados, já são tão difíceis, porque é que vamos colocar ainda mais peso neles? Porque é que vamos colocar mais peso nas situações? Há uma expressão que costumo usar que é, “tragédia mais tempo, igual a comédia”, e isto faz muito sentido. À medida que nos vamos afastando das nossas próprias tragédias, vamos ganhando distanciamento, as coisas deixam de ter o peso e o impacto que tiveram. E nós podemos começar a olhar para elas através de uma outra perspectiva. Claro que cada um tem o seu tempo. Quer dizer, depende da situação, mas às vezes, quando estou num processo obsessivo ou de ansiedade, claro que não consigo fazer uma piada logo na altura, mas, se calhar, consigo fazer no dia a seguir, ou na semana depois. Daí a um mês, porventura, tentar olhar para trás, ver realmente aquilo por que passei e pensar, “que idiotice”. Não faz sentido mantermos, sempre, a mesma carga emocional com o que nos acontece.
Acaba por tirar o trato da saúde mental do seu pedestal e, por isso mesmo, aproxima as pessoas, é isso?
Aliás, o objectivo do espectáculo acaba por ser esse. Estou ali uma hora, mais ou menos, a falar das minhas histórias, da ansiedade, da perturbação obsessivo-compulsiva, do meu próprio estigma com a psiquiatria e a psicologia, e brincar com tudo isso para criar aquele à vontade. Serve para as pessoas perceberem que, se calhar, muitas que estão ali passaram pelo mesmo que eu, ou situações parecidas e, dessa forma, podem perceber que não é assim tão fora do comum estas coisas acontecerem e que se pode olhar para elas de uma outra perspectiva. Isto não é banalizar, é trazer leveza, é diferente. O objectivo não é banalizar o tema ou retirar-lhe importância, mas retirá-lo do pedestal de tema super sério e que tem de ser tratado com todo o rigor. Claro que tem de ser tratado com todo o rigor, faz parte como tudo o resto, como a diabetes, os problemas cardíacos, como fez o covid, faz parte da nossa vida.
Os anos oitenta eram diferentes, falava-se muito menos sobre saúde mental, mas tinhas o estigma da doença?
Tinha o estigma, se calhar, em relação a ir ao psicólogo e psiquiatra, isso sim. Não contava que ia. Ou melhor, contava no seio familiar, mas lembro-me que, nas primeiras vezes, ia ao psicólogo e procurava, sempre, entrar no prédio quando não estava ninguém a passar. No andar de cima do prédio onde ia ao psicólogo era o dentista: cheguei a ir de elevador com pessoas para não sair no andar do psicólogo e sair no andar de cima, com vergonha. São atitudes normais, penso eu. Naquele momento, não conseguia fazer de outra maneira, era a maneira que eu tinha de lidar com isso. Hoje, já não acontece, felizmente. Muitos miúdos com quem já me cruzei nos espectáculos e, até, em conversas de rua, têm essa facilidade de dizer que vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra e tomam medicação. Isso, lá está, não é banalizar, é normalizar o tema.
“Não faz sentido mantermos, sempre, a mesma carga emocional com o que nos acontece.”
Nunca a comunicação social falou tanto sobre saúde mental, mal ou bem. Como olhas para a forma como a comunicação social lida e trata estes temas?
Pois, como é que eu olho. Acho que há um trabalho bom que está a ser feito, por alguns órgãos de comunicação social, e que, se calhar, já têm secções pensadas ou dedicadas à saúde mental. Há um crescente interesse mas, depois, os jornais e a comunicação social vivem das vendas. Há, portanto, esse lado mais de exposição, e de buscar aquilo que te preocupa para vender. Mas acho que, hoje em dia, a abordagem é muito mais saudável do que há uns anos, e isso tem sido muito positivo. Mas, por vezes, continua-se a ler artigos de opinião de pessoas que, depois, falam de saúde mental e dizem grandes asneiras: negligenciam, muitas vezes, aquilo que o outro está a sentir, como as manias, que acham que são manias, ou que são feitios. Quanto a mim, acho que passa muito por isso, por essa aceitação, ou seja, acho que muito funciona pela empatia e pela compaixão de acreditarmos que se a pessoa que está à nossa frente está a dizer que se sente ansiosa ou lida com a ansiedade, ou que não se está a sentir bem naquele sítio ou naquele lugar, isso é real. O que quero dizer com isto é que eu acho que há uma crescente vontade de acreditar que as questões sobre a saúde mental como um todo são reais — as questões da saúde mental, a ansiedade, a depressão e os burnouts são questões reais — não são manias, não são feitios, como se dizia nos anos 80.
Achas então que as novas gerações estão mais à vontade com estas questões do que as gerações mais velhas?
Não sei, já tenho tido esse feedback, sim. Trata-se de um espectáculo em que as pessoas acabam por participar. É engraçado que, ainda no outro dia, estive num espectáculo em que perguntei quem ia ao psicólogo: levantaram a mão montes de putos novos. Quando digo novos, com 16, 17 e 18 e isso é muito curioso. Se calhar, em outros tempos, eles não teriam esta coragem. Mas, por outro lado, já recebi e-mails, também, de malta nova que revelavam que tinham essa dificuldade em aceitar. Acho, portanto, que há aqui muito da história de cada um, como é óbvio, da própria maneira de ser e como se relaciona consigo mesmo. Há muitos factores em volta.
O podcast “Somos todos malucos” também te tem ajudado a descobrir mais coisas, aprofundar as questões e a conheceres-te melhor?
Tem, porque a premissa é muito simples, quando gosto de ler sobre o tema vou sempre encontrando novas ideias e penso assim: “Isto é interessante, gostava de saber mais sobre isto”, e assim levo alguém ao podcast. Se acho isto interessante, se gostava de saber mais sobre esta técnica, ou sobre esta doença ou esta questão, ou falar sobre questões mais existenciais, se eu gosto disso, mais pessoas, certamente, também podem achar isso interessante. A premissa é essa, a premissa nunca é, “vou levar pessoas conhecidas”, até porque, raramente, levo pessoas conhecidas. O objectivo é levar pessoas interessantes, que acrescentem algo. Se me acrescentam algo a mim, obviamente, acho eu, é natural que acrescentem, também, a outras pessoas que vão ter o mesmo interesse.
“A ansiedade, a depressão e os burnouts são questões reais — não são manias, não são feitios, como se dizia nos anos 80.”
E para essas entrevistas/conversas, há alguma preparação em especial?
Preparo todas as entrevistas e falo com as pessoas antes. Seja o convidado meu amigo ou não, temos sempre uma conversa prévia, até porque o objectivo do podcast não é ser uma entrevista, é ser uma conversa. A pessoa, portanto, tem toda a liberdade de me interromper se estiver a dizer alguma asneira,“olha não é nada disso”.
Então, há sempre esse cuidado.
Sim, sim.
Como tens já a experiência dos dois meios, a plataforma do youtube dá-te mais liberdade do que a televisão ou não dá? É melhor ou não é?
Dá mais liberdade. Já consegui fazer programas só no Youtube com orçamentos semelhantes aos da televisão e ganhos semelhantes aos da televisão. Dá essa liberdade. Por alguma razão, o podcast não tem patrocínio — também não o procurei — mas, também, porque sinto que se o não tiver, dá-me a liberdade para estar a convidar quem quiser, abordar o tema que quiser, e com a linguagem que eu quiser. Hoje em dia, acho que há plataformas que chegam a qualquer pessoa. Embora o podcast, no youtube, — está também nas outras plataformas — ter a imagem ali é um acréscimo. Mas pareceu-me, na altura, que fazia sentido.
E como é partilhar algo tão íntimo como a tua própria relação com a doença mental, numa sala cheia de pessoas que te conhecem, mas tu não conheces?
Tem sido muito curioso e, até, gratificante porque é um espectáculo de comédia mas, ao mesmo tempo, é uma partilha e tem momentos muito sérios. É muito engraçado, estou ali uma hora a fazer texto, mas são histórias verdadeiras e, depois, tem momentos mais sérios. Quando chega ali a altura da partilha, em que as pessoas podem colocar perguntas, demora sempre muito mais do que o estipulado, demora meia hora, 40 minutos. Às vezes digo, “já chega, vamos embora”, mas continua. Torna-se algo muito íntimo, essa partilha, então, saio sempre esgotado, mas acaba por ser gratificante.
Mas a participação do público, as perguntas, podem dar sempre um cunho diferente ao espectáculo.
Sim, sim. As perguntas vão variando, mas é engraçado que entre espectáculos não variam assim tanto. É mais um indicador de que se falássemos mais uns com os outros, percebíamos que o que pensamos não está só na nossa cabeça.