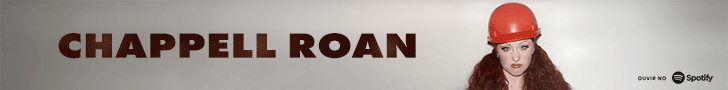Entrevista. José Oliveira e Marta Ramos: “Para fazer um filme tem de haver um compromisso com alguma realidade”

José Oliveira e Marta Ramos são uma dupla de cineastas em ascensão no panorama cinematográfico nacional. A sua mais recente curta-metragem — “Paz” (2021) — estreou em 2021 no festival de cinema Doclisboa e integra a programação do ciclo “Guerra e Paz” da 12.ª edição dos Encontros Cinematográficos do Fundão, que decorre de 11 a 15 de maio. A exibição do filme, considerado para a Comunidade Cultura e Arte a melhor curta-metragem de 2021, foi o mote para uma conversa com os realizadores. “Paz” será exibido nos Encontros Cinematográficos do Fundão, no dia 12 de maio às 14h30, 15 de maio às 18h e na Cinemateca Portuguesa no dia 18 de maio às 19h.
“Paz” inicia com uma citação: «Ouçam o que tem para dizer o homem que está em silêncio». Com o “Longe”, o “Guerra”(ler crítica) e agora o “Paz” procuraram dar voz a José Lopes e a todos aqueles que vivem na margem e que acabam por ser protagonistas no vosso cinema?
Marta Ramos: A citação é do José Lopes, e curiosamente deve ter sido das últimas coisas que ele nos disse. Foi no último encontro, no aniversário do José Oliveira em que nos encontrámos num jantar e ele estava muito calado, e nós, claro, estranhámos, porque o José Lopes era um furacão de animação e de palavras, sempre a perguntar como estávamos. Quando lhe perguntámos o que se passava, ele deu essa resposta. Quando pensámos neste filme, pensámos nessa frase.
Como foi o processo de selecção das imagens de arquivo da RTP referentes à guerra colonial? E de que forma definiram a sua colagem na montagem final do filme?
José Oliveira: Quando pensámos em fazer o “Paz”, o primeiro impulso foi porque havia muito material que tinha ficado de fora do “Guerra”. Nós estivemos a montar o “Guerra” dois anos e custou-nos muito cortar certas cenas. Chegámos a ter uma versão de 2 horas e 15 minutos que mostrámos a pessoas e amigos. E fomos retirando sucessivamente cenas por acharmos que empancavam o filme, ou o tornavam menos visível, até acharmos que ficava o essencial para o “Guerra”. Mas tínhamos muita pena por deixar de fora cenas, como as cantorias iniciais nos Amigos do Minho ou o monólogo fantasmagórico do José Lopes. Cenas onde o José Lopes estava magnífico.
M.R.: Tudo aquilo que tinha ficado de fora das cenas que gravámos nos Amigos do Minho, que foi o Quartel-general do arranque das filmagens, onde gravámos imensas cenas, que mesmo depois do “Paz” ainda estão de fora.

São cenas suficientes para fazer ainda um outro filme?
J.O.: Para mais um não dá [Risos]. Porque há cenas que são falhadas. Tudo começa no “Guerra”, que era o único filme que queríamos fazer, e o filme ia sendo construído numa base, nós tínhamos as ideias gerais, mais ou menos o início, o meio e o fim, depois íamos tentando unir aquilo com cenas. Filmávamos mais ou menos uma vez por mês, e tínhamos uma estrutura onde cada mês, antes de filmarmos, escrevíamos as cenas que íamos filmar e depois, como o filme funciona um bocado sem enredo, havia cenas que, chegados à montagem, não eram necessárias ou eram repetidas, mas sobretudo cenas falhadas. A utilização do material de arquivo foi no sentido de tentar que fizesse eco com as imagens do filme, conjugando as músicas cantadas pelos veteranos com a realidade da guerra colonial, com a memória e com o passado, tentando encontrar uma lógica narrativa naquilo. O filme foi feito durante o confinamento e foi algo muito importante para nós. Em vez de ficarmos deprimidos, tentámos fazer um filme, homenageando o José Lopes e os Amigos do Minho. Estávamos com saudades, o José Lopes faria anos entretanto, durante a montagem do filme, e pareceu-nos lógico.
M.R.: Relativamente às imagens de arquivo, fomos tentando fazer uma correspondência com aquilo que ia acontecendo, ou seja, tínhamos cenas que gostávamos que aparecessem e depois era uma questão de combiná-las com outras cenas do arquivo. Curiosamente, da pesquisa que fizemos em relação à guerra colonial, há um conjunto relativamente pequeno de imagens de arquivo. Começámos a reparar que as coisas se iam repetindo, ou seja, quando se fala em guerra colonial, normalmente mostram-se as mesmas imagens, que foram gravadas em determinada altura e a partir daí surgem diferentes abordagens ou aproximações à guerra. Lembro-me que há um vídeo que tem a ver com a defesa da nossa presença nas colónias, que acompanha uma operação, e daí parte também a opção de tirarmos o som, porque normalmente o som dessas imagens é sempre alguém a defender exaltadamente aquele que é o nosso desígnio [Risos] enquanto pátria. Isso foi logo uma opção. A opção era não ter o som original.
J.O.: Ou ser mudo ou ter uma banda sonora.
Ainda referente às imagens de arquivo é perceptível um desencontro entre as imagens e a montagem do som. Esta dissonância cria um desconforto propositado e bem conseguido. Como chegaram a este resultado?
M.R.: Houve uma altura em que nos cruzámos, através de um amigo, com uma espécie de paralelo entre aquilo que são as operações da guerra e o quotidiano das mulheres que ficam em terra. Então, na altura, surgiu a máquina de costura enquanto maquinismo para coser os corpos mutilados da guerra, e essa imagem ficou-nos muito gravada. A ideia foi começarmos a ir buscar sons que tivessem quase o mesmo ritmo, mas que não fossem naturais daquela imagem, que fossem de outro contexto. Daí a máquina de lavar, não sei se isso é perceptível para quem vê… mas há uma máquina de lavar, há uma máquina de costura, há um martelo pneumático, que tem aquele som também ritmado, mas que tem a ver com outro quotidiano. Foi essa mistura que depois estivemos a afinar, entre aquilo que são as imagens de arquivo, que têm aquela memória, e o contraponto com outros sons que também fazem parte da vida das pessoas.
J.O.: Na altura estávamos, por exemplo, a tentar que alguém compusesse eventualmente uma banda sonora original, uma coisa mais John Ford, mais exaltante, mas depois foi um amigo nosso, o Paulo [Faria], que nos leu uma escritora que esteve na I Guerra Mundial e que tem um livro que fala disso… quando os soldados chegavam triturados às tendas, eram cosidos, uniam-se os membros. Fechavam os soldados, reconstituíam as peças como um puzzle. E nós tentámos encontrar sons do quotidiano que pudessem evocar esse lado, quase de reconstrução, e daí encontrar o contraponto. Quando ouvimos os sinos na igreja, quando os soldados regressam e as suas mulheres estão à espera, como se fosse um milagre. Foi tentar construir, não ilustrando, tentar arranjar um contraponto.
M.R.: Sim, mesmo no choro da criança, ser uma coisa que não está exactamente colada à imagem, é uma coisa que entra antes e rasga um bocadinho. Acho que a intenção do som é estar ali em contraponto.
J.O.: Sim, e ao mesmo tempo há algo que nos escapa, fizemos isto de forma puramente intuitiva, sensorial e instintiva, não tentámos perceber tudo. Tentámos que tivesse alguma lógica, que para nós fosse forte.

Na costura do filme destaco um corte, que passa dos veteranos a cantar ao som de uma guitarra nos Amigos do Minho para a imagem de arquivo de um soldado a tocar o que parece ser uma guitarra improvisada, mantendo-se a música dos veteranos. Houve uma tentativa de correspondência entre o filme e o arquivo ou as associações acabaram por se ir manifestando livremente?
M.R.: Há elementos de correspondência e depois há outras alturas em que não, em que se introduzem, por exemplo, as mulheres. Há uma grande sequência com mulheres e crianças, que introduz uma outra parte da conversa. Normalmente, quando se fala de guerra colonial, só se fala dos homens que lá estiveram, nunca se fala do outro lado, das viúvas, das mães. Por exemplo, aquele momento de uma mãe a abraçar o filho que regressa, para mim foi sempre arrepiante, ou seja, é toda essa mistura de sentimentos, de qualquer coisa que existiu antes, que foi forte e que foi marcante.
J.O.: Algumas coisas às vezes aconteciam por tentativa, tentávamos pôr o som de um sino com as pessoas a abraçarem-se na chegada, para ver se resultava, um bebé a nascer, como se fosse o princípio de alguma coisa. Umas vezes resultava, outras não. Teve muito de instintivo.
O filme inicia com luz crepuscular, o José Lopes visitando uma campa no cemitério e posteriormente brindando com um amigo, mas a partir daí adquire bastante luz e vivacidade, principalmente nos Amigos do Minho. É seguro dizer que o filme se inicia com uma despedida a José Lopes e que depois lhe dedica uma série de momentos de camaradagem e convívio com os seus amigos?
M.R.: Eu já disse isto noutras ocasiões, o “Guerra” foi o filme que o José Lopes nos deixou. A todos nós, não só a mim e ao José Oliveira. E o “Paz” é o filme que nós lhe queremos oferecer. Como o José Lopes tinha toda essa carga, muito do processo de selecção e montagem teve a ver com um afunilamento para uma personagem. Há uma personagem que toma as rédeas do filme e que em função dela é que se foram fazendo escolhas, mas aquela personagem também é um amigo nosso, também foi uma pessoa, também nos deu uma série de coisas, e muitas dessas coisas têm a ver com essa camaradagem, com essa amizade profunda, com a facilidade com que ele entabulava conversas com toda a gente e facilmente começava uma amizade. E eu acho que é isso, não é totalmente paz porque tem outras coisas também, mas é carinho, é ternura.
Numa outra entrevista referiram que o José Lopes tinha participado muito na criação do “Guerra”. No “Paz” também subsistem cenas que ele fazia questão que fossem filmadas, como a cena da recriação da Pietà no final do “Guerra”?
J.O.: Sim, no sentido em que são imagens que sobraram do “Guerra”, e haverá cenas que foi ele a sugerir. Mas era o que a Marta estava a dizer, o “Guerra” é um filme em que o José Lopes escreve o seu próprio destino. É um filme em que só no fim de o termos montado, só depois de o José Lopes falecer, é que nós percebemos porque é que ele quis fazer aquelas cenas. É um bocado triste mas é a realidade, percebemos uma série de coisas, inclusive onde ele queria ser enterrado. Quando o José Lopes morreu percebemos, e depois no filme percebemos muito mais. É um filme que já me custa muito ver hoje em dia, porque o José Lopes escreve aquilo em que acreditava, quase como uma declaração de princípios, que era um homem livre e um homem que prezava certos valores antigos, a amizade, o companheirismo, a lealdade, a honestidade, a justiça. Mas ao mesmo tempo escreve o seu destino, alguém que quer morrer, que prefere morrer a vergar-se a estas normas da sociedade, ao desemprego, à precariedade. Prefere morrer e ir ter com a mãe, prefere ir ter conversas com a mãe, prefere morrer do que aguentar esta paz podre. E talvez só tenhamos percebido no final do filme que era isso. Enquanto o “Paz” foi mais uma tentativa de paz da nossa parte, porque o “Guerra” foi muito difícil, nós acabámos o “Guerra” quando o José Lopes ainda não tinha sido enterrado, estávamos a acabar o “Guerra” nesse momento, não se sabia ainda onde ia ser enterrado. O “Paz” foi o filme que nos ajudou a viver, literalmente, deu-nos muita paz. Tentámos fazer o melhor possível, podíamos ter falhado mas tentámos. Talvez nestas cenas que sobraram o José Lopes não tenha a mesma convulsão que nas cenas do “Guerra”.
M.R.: E há um sentido mais de colectivo, ou seja, aquelas que ficaram no “Guerra” foram completamente centradas na personagem do Manuel (José Lopes) e a maior parte daquelas que sobraram tinham a ver com o convívio nos Amigos do Minho. O “Paz” começa com a carta que é dita no fim do “Guerra”, que a título de curiosidade nos foi mostrada e oferecida por uma amiga, a Ana Petrucci, que é a psicóloga do “Guerra”, um aerograma do tio dela. E tem passagens incríveis de dureza e profundidade, que estavam tanto naquilo que nós encontrámos de antigos combatentes, como estavam na vida do José Lopes e naquilo que ele nos transmitia. Ou seja, é por aí que falámos que o “Guerra” tem muitas guerras e que não é só a guerra colonial. E, nesse aspecto, voltamos à questão do “Paz” enquanto resposta, quase: «nós (esta comunidade) estamos aqui». E foi por causa disso que foi tão importante para nós os dois, em especial no momento em que o montámos, passado um ano desde o início da pandemia, e na altura mais severa de confinamento. E em Janeiro e Fevereiro pegar naquelas imagens e vê-las outra vez, montá-las, acariciá-las… ao estar a vê-las também estás a vivê-las. E depois também tem a ver com o luto, com tu lidares com a perda de um grande amigo, a sua ausência inicial. E às tantas há outras coisas que ele te deixou e que foram maravilhosas. Aquilo que nós vivemos nos Amigos do Minho é uma espécie de paraíso perdido. Hoje em dia vemos os Amigos do Minho… aquelas pessoas que frequentavam a colectividade estão um bocadinho perdidas, porque o espaço fechou em 2018, como outros espaços em Lisboa, deixando muita gente ao deus-dará. E isso já era iminente na altura em que fizemos o filme, havia vários indícios de que isso ia acontecer. Ainda por cima numa altura em que vem a pandemia e as pessoas se isolam ainda mais e não estão juntas, o que torna ainda mais premente este agradecimento ao que viveste naqueles anos.

Como foi para vocês o processo de “ressignificar” as imagens que ficaram de fora da montagem do “Guerra”, utilizando o milagre do cinema?
J.O.: Saber que tínhamos imagens onde eles estavam muito bem, por exemplo a cantar a canção das mulheres – original da pessoa que a está a cantar –, ou as conversas, como ele a explicar o que era uma picada. Ou no final, quando o Nelson – a quem dedicámos o filme por sabermos que tinha falecido subitamente – canta aquela música da amora madura. Acabou por ser também a alavanca para fazermos o filme, a notícia da morte do Nelson. Os amigos do Minho ofereceram-se, dedicaram-se, sem ganharem nada, contaram as histórias, retrabalharam as histórias, construíram o guião connosco e com o José Lopes. Lembro-me de o Castro ter escrito 10 páginas de histórias que nós depois fomos aproveitando. Não sei se era responsabilidade, mas gostávamos que essas imagens não deixassem de poder ser vistas pelas pessoas, não ficassem para sempre apagadas. E como forma de agradecimento, porque eles deram-nos tudo, muitas reuniões, muitos ensaios, as histórias, tentar recuperar isso e homenageá-los.
M.R.: E principalmente a emoção. Eu estava-me a lembrar, nomeadamente, do Artur Lopes, o senhor que faz o discurso no “Guerra”, o senhor levanta-se e faz um discurso de companheirismo, em que passarem Natais juntos os tornou uma família. E ele foi uma das pessoas que viveu essa experiência, e passou, naquelas palavras, naquela emoção, naquelas lágrimas quase a saírem dos olhos, completamente a sua experiência. E é isso, uma tentativa de homenagear aquilo que nos deram, que foi de uma enorme dimensão humana e de coração muito grande. E era pena que essas imagens ficassem guardadas.
J.O.: Tínhamos a consciência de que desistiríamos se aquilo não desse. É por isso que ainda fomos buscar imagens do “Longe” para acabar o filme, porque não tínhamos nenhuma imagem que fosse justa. Porque o “Paz” é um filme de montagem, é um filme de arquivo, arquivos das imagens que sobraram do “Guerra” e das imagens da guerra colonial.
M.R.: O José Lopes entra no “Longe” com um olhar no espelho, cru, triste, amargurado. A canção que ele canta no “Longe”, ao espelho, e o olhar final é uma coisa completamente desesperançada. Havia ali uma carga emocional muito forte cada vez que víamos aquilo, transmitindo-nos muito daquilo que era a dor dele. E daí o facto de termos utilizado exactamente o mesmo olhar no espelho, não numa questão de manipulação, mas de irmos buscar coisas que estão lá. A determinada altura aquilo faz um “freeze frame”, porque entretanto ele ia começar a cantar. Mas tem a ver com aquilo que ele também nos deu, de ser leal a si próprio. A presença do José Lopes era isso, era agir verdadeiramente, às vezes até às últimas consequências, mas sempre convicto, com o coração, com tudo.
Ao rever o filme e ouvir as histórias de guerra contadas pelos veteranos, questionei-me se aquelas são histórias que vos foram partilhadas fora das filmagens e que, posteriormente, pediram para ser reencenadas para o filme, num processo idêntico ao de Pedro Costa, e que acaba por ser testemunho da proximidade que vão adquirindo com os vossos personagens/amigos.
J.O.: Tentávamos que assim fosse, mas nós não tínhamos dinheiro. Tínhamos o apoio da OPTEC Filmes, o próprio Pedro Costa também nos emprestava material, etc. E também não tínhamos o tempo que o Pedro tem para estar lá meses e meses. Nós tivemos a mesma coisa mas sem pensar em filmes. A primeira vez que fomos aos Amigos do Minho foi em 2013. A primeira vez que ligámos a câmara nos Amigos do Minho foi para o “Longe”, em 2015, e depois para o “Guerra”, em 2017. Portanto, estivemos anos e anos a conviver num sítio onde nos sentíamos bem, mas acho que nunca pensámos fazer um filme lá. Pensávamos, como pensámos ainda ontem quando fomos ali a um sanatório, que aquilo dava um filme magnífico. O objectivo era conviver com pessoas que adorávamos, que eram do Minho e falavam a mesma língua que eu, sentia-me mesmo à vontade, a Marta também, super acarinhados. E isso foi o filme. Depois foi talvez aquilo que o Pedro Costa talvez faça quando já está a fazer o filme, mas nós não sabíamos tanto que íamos fazer o filme, era uma relação pessoal.
M.R.: Uma relação que se ia construindo e depois, a determinada altura, pensámos num filme, que é uma ficção, que é importante para distanciar as pessoas de si próprias, mas ao mesmo tempo para incluir a experiência delas. Eu gostava de contar uma história de uma pessoa que só aparece numa fotografia, que é o senhor Benjamin, que também morreu entretanto, acho que até durante o processo de rodagem do filme, que era um dos fundadores da associação e cuja fotografia aparece no encontro dos veteranos, ao fundo. Esse senhor, por exemplo, a determinada altura, numa tarde bem regada, começa a contar uma história, quase como uma anedota, de um menino que pergunta à professora qual é que é o último limite do universo, a última parede. E faz ali uma efabulação cósmica, que não ficou no filme, mas que fazia parte dessas pequenas histórias que nos foram dadas através do convívio e dessa aproximação com as pessoas. De repente estavas ali, numa associação recreativa, no xadrez, no dominó, nas cartas e no futebol, e estavas a falar do infinito e do universo. E essa riqueza acaba por te fazer viver aquele mundo.
J.O.: Fizemos esse trabalho antes de pensarmos no filme.
Ou seja, o processo é diferente do Pedro Costa mas procuram algo semelhante, uma proximidade antes de filmar.
J.O.: Sim, conhecer bem as pessoas, conhecer bem as histórias, tentar não ser desleal, ter uma relação de confiança, que as pessoas se abram e que haja uma distância justa entre quem está à frente e quem está atrás da câmara. Não estamos ali simplesmente para filmar e ir embora, e demorou anos até conseguirmos fazer essa proposta.
Mas relativamente à encenação propriamente dita, das histórias que são contadas no filme, aquilo são histórias que foram sendo contadas e vocês foram escolhendo o que filmar?
J.O.: De todo o género. Tivemos essa primeira abordagem com o senhor Fernando Castro, que é o amigo dele no filme, que também morreu antes do filme estar pronto, antes do José Lopes até. Ele deu-nos 10 páginas sobre a experiência dele. O próprio José Lopes fez imensa pesquisa bibliográfica, tratados de psicologia, falou com psicólogos. O José Lopes era um homem ligado às fontes, das recolhas etnográficas, era daquelas pessoas que não fala daquilo que não sabe. Estava sempre a dizer: «se é para fazer, é para fazer a sério, não brincamos em serviço», uma coisa de tropa, nós tínhamos também de estar em sentido [Risos], porque ele levava as coisas muito a sério, quando era para trabalhar.
M.R.: Por exemplo, naquele momento da chamada dos ex-combatentes, alguns deles que já tinham estado efectivamente em reuniões de veteranos, aquela ideia de dizer o nome de alguém que já tinha morrido e todos eles responderem «pronto» foi deles, nós não sabíamos disso.
J.O.: Sim, eles reconstruíram o texto, nós levávamos uma ideia e eles muitas vezes alteravam, dizendo: «nós jamais diríamos isso», por exemplo.
No último plano do filme temos uma última homenagem a José Lopes, com um grande plano do seu rosto no espelho, já usado em “Longe”. “Fade to black” e depois optaram por colocar imagens de bombardeamentos na Palestina sob os créditos finais. Uma perspectiva pessimista de que depois da paz voltará sempre a guerra?
M.R.: Há um contínuo, nós temos noção, olhando para a história, que a paz é quase uma utopia, e nós pegámos naquelas imagens, para já porque foi a guerra que se foi prolongando ao longo dos anos e que parece que nos assombra, que é muito antiga e visceral. E depois há um fascínio equivalente à observação de um incêndio. Quando se vê um incêndio de longe, há qualquer coisa de espectacular, qualquer coisa da ordem do cósmico ao veres aquelas chamas.
No caso do “Paz”, o bombardeamento remete-nos até para o fogo-de-artifício.
J.O.: E toda a questão plástica da imagem, do espectáculo da guerra. Nós não queríamos acabar o filme com paz, decidimos pôr um contraponto, mais uma vez, quase “eisensteiniano”, isto é a paz e depois a guerra continua. Mas depois também é quase um comentário sobre o que se tornou a guerra, sobre o espectáculo estético. Se fores ver as imagens de arquivo da II Guerra Mundial, da guerra colonial, do Vietnam ou da guerra do Golfo há quase um progresso estético da guerra, uma plástica em que a guerra se torna espectacular, é transmitida em directo, torna-se uma coisa quase lindíssima. Lembro-me que nós até fomos ler um livro, que o nosso amigo Paulo Faria traduziu, o “Dispatches” do Michael Herr, que é o argumentista do “Full Metal Jacket” [1987], do Stanley Kubrick. Onde ele diz que aquilo é uma coisa espectacular, como um vulcão, é terrível mas maravilhoso, podes estar a olhar para mísseis a destruir cidades inteiras e aquilo é a coisa mais bela do mundo.
M.R.: E depois também há uma questão de distância, porque nós vivemos em directo a guerra mas vivemo-la à distância, as guerras que vamos acompanhando. E essa questão de ser à noite e parecer fogo-de-artifício também tem o seu lado irónico. Fogo-de-artifício ou guerra, vida ou morte. Se bem que a escolha não sei se foi tão pensada por nós como agora parece neste discurso [Risos].
J.O.: E também foi na altura da montagem do filme que essas imagens da Palestina apareceram. Nós estávamos a montar um filme sobre guerra e passavam imagens de guerra todos os dias na televisão, e decidimos que tinham que entrar, houve uma necessidade.
Numa entrevista ao site À Pala de Walsh referiste, José, que a Marta está mais na montagem, que tem mais calma, mais cabeça, e concebe melhor uma estrutura. Ela continua a ser no “Paz” a Danièle Huillet e tu o Jean-Marie Straub?
J.O.: Talvez [Risos]. Há um temperamento diferente, eu sou mais impulsivo, tenho menos paciência, tenho mais ideias pré-concebidas que depois são testadas, e a Marta faz mais essa parte, testa muitas coisas que eu penso, que depois estão erradas, e acabamos por chegar a qualquer coisa que é mais justa.
M.R.: Há muitos impulsos – no “Guerra”, se calhar mais do que no “Paz” – tanto do José Lopes como do José Oliveira para coisas que eu não entendia, na altura em que eu estava a montar, e mesmo quando estavam a ser filmadas, que tu tens de respeitar. Da mesma forma que queremos honrar a presença de alguém e perceber que aquilo que nos estão a dar é muito valioso, eu em relação aos Zés (José Oliveira e José Lopes) percebi que havia coisas muito valiosas. Agora, na fase da montagem, precisamente para honrar isso, havia cenas que iam ficando de fora. Nomeadamente no “Guerra”, o Zé dizia: isto não, esta cena não pode ficar de fora. Houve muita guerra [Risos], salvo seja, de coisas que eu dizia não, para o filme perseguir uma coisa, este bocadinho, por mais que custe, tem de ficar de fora. Eu lembro-me por exemplo do coveiro do cemitério, que é o nosso amigo Rui Carvalho, que faz o brinde no início do “Paz”. Toda aquela sequência da entrada no cemitério, do brinde, da caminhada deles tinha um diálogo de cerca de 3 minutos. Depois tu começas a pressentir qualquer coisa, porque é difícil para toda a gente que faz filmes, é difícil abdicares de uma cena em que a pessoa esteve e tu estiveste, em que pediste tudo, é quase como rejeitares uma parte do teu corpo, em relação ao filme. Quase como [Alberto] Giacometti (escultor), que vai até mesmo ao osso das personagens e houve muita coisa que ficou de fora. E depois também tinha muito a ver com o processo que estávamos a passar. O filme já estava quase montado em Dezembro, quando o Zé se vai embora, nós já estávamos a trabalhar no som, e foi muito influenciado pela partida dele. Depois, nestas coisas, acaba por aparecer uma nuvem em que tu não sabes muito bem distinguir umas coisas das outras. Eu, ao contrário do Zé, já vi partes do “Guerra” outra vez, recentemente, para rever a legendagem em espanhol, e há opções que tu tomas e que não sabes muito bem a razão, confias um bocadinho no instinto.
J.O.: Fazendo um filme sobre o irracional, tens também de tomar opções irracionais.
M.R.: E depois, passados uns anos, começas, não a entender, mas a sentir as coisas, a perceber que tinham de lá estar, que era justo que lá estivessem.
J.O.: Porque no “Guerra” o José Lopes toma conta do filme, é um movimento centrípeto, tudo converge para ele, é um furacão que varre todo o filme e tudo gira à volta dele. E a ideia inicial não era essa. O filho dele iria ter histórias paralelas, iria ser quase Griffith, uma história de gerações, com várias linhas narrativas que se iam cruzando. E muitas derivações, até o coveiro contava as suas próprias histórias. E temos muita coisa disso. Mas depois percebemos que a presença do José Lopes era uma coisa omnívora que absorvia todo o filme. E a montagem foi isso, foi tirar aquilo que, na minha cabeça, na cabeça do Zé, na nossa cabeça podia ser uma coisa muito mais geral, muito mais universal.
M.R.: Depois acabou por ser uma coisa super individual, se bem que, quanto mais fundamento individual, mais podes ecoar nas outras pessoas, na humanidade, os problemas da existência do Homem.
E como fazem a divisão de tarefas entre os dois?
J.O.: Mais uma vez tem a ver com esta ideia de família. Mesmo o José Lopes era um bocado encenador do filme, realizador mesmo. Havia cenas onde só tinhas que estar à altura dele, que o seguir, que seguir o corpo dele, o movimento dele, a partir daí não havia muito que inventar. Não havia propriamente uma ideia artística ou estética, era mais tentar contar uma história, por isso é que acho que é um filme clássico. Nesse sentido, era tentar fazer sempre o melhor possível dentro daquilo que tínhamos, do material, do texto, do actor, da movimentação, da situação. Portanto, todos éramos um bocado realizadores, eu, a Marta, o José Lopes, e é muito difícil estabelecer essa fronteira.
M.R.: Na verdade o que acontece é que nós partimos para a rodagem do “Guerra” na sequência do “Longe”, e o realizador era o Zé Oliveira, apesar de eu também ter participado, a escolher sítios, mostrar sítios ao Zé que ele não conhecia, a fazer ensaios com os actores. Ou seja, é como se eu tivesse estado sempre lá, e estive, num plano invisível, porque na verdade quando se fala em realizador fala-se no José Oliveira, e depois ele também tem outros filmes, e o realizador nunca é uma dupla de realizadores, agora já começa a ser assim, muito dificilmente, mas no princípio é o Zé Oliveira. A partir do momento da montagem, é uma coisa que o Zé sugere a determinada altura, que sejamos nós os dois a ser realizadores do filme. E na montagem nós estamos muito a par.
J.O.: Isso acontece muito, tem a ver com a sociedade, com os costumes. O Straub tem mais preponderância que a Danièle, o António Reis teve mais preponderância que a Margarida Cordeiro, etc. O que acontece é que é uma visão familiar, e por outro lado uma visão de cinema, ou seja, eu não distingo pessoalmente a filmagem da montagem, acho que é absolutamente idiota essa distinção, a escrita, da realização e da montagem. Ainda hoje disse aos alunos que a montagem é a última escrita, é a última realização. Na montagem reescreves o filme todo, a primeira cena – aconteceu no “Guerra” – estava quase no fim do filme. Até podes dobrar os diálogos, o que está de costas diz outra coisa, a voz off diz outra coisa, etc. Na minha perspectiva tudo é realização. O Eisenstein, a preponderância dele era muito mais na montagem do que na mise-en-scène, ou o Vertov, que trabalhava a partir de arquivos e é um dos grandes cineastas da história. Acho completamente imbecil a distinção da realização, do argumento, para mim realização é tudo. Sobretudo na montagem, sobretudo num filme como o nosso em que é tudo artesanal, em que é tudo muito pobre, e que depois a montagem é uma riqueza, estamos dois anos a montar, estamos a realizar o filme, até o próprio misturador de som [Felipe Zenícola] é um pouco realizador, no caso do “Guerra” muitíssimo. Foi ele que transcendeu em muito as cenas que estavam fracas, se as ouvisses sem som, e ele conseguiu transcender aquilo de uma maneira que nós não conseguiríamos. Esta noção de realização, sobretudo nestes filmes mais artesanais e amadores como os nossos, é muito perigosa.
A dada altura as imagens de arquivo são tomadas por soldados que regressam para os braços das famílias, mulheres e crianças que os aguardam. Este movimento de ida e volta, do peso do passado, do «resistir contra o esquecimento das pequenas coisas», é algo bastante presente no vosso cinema. De que forma vão continuar a explorar este tema?
M.R.: Esse apreciar das pequenas coisas, agradeceres por estas pequenas coisas, é algo que te é intrínseco, uma vez estando cá, vai de alguma forma surgir. Em relação a projectos futuros, neste momento estou à volta da reconstrução de um cineteatro no Fundão, onde são os Encontros Cinematográficos. No fundo é à volta do que sempre me fascinou, tem a ver com comunidade, pessoas juntarem-se – os Amigos do Minho e neste caso o cinema e o espaço de cinema – à volta de qualquer coisa, e das suas memórias, onde aconteceu o primeiro amor, onde olharam pela primeira vez para a pessoa com quem ficaram para toda a vida. Essas pequenas histórias que, no fundo, também são as histórias que estão nos filmes e que estamos à procura, de identificação com essas pequenas grandes histórias. O que o cinema faz é dar outra dimensão a esse quotidiano. Neste momento estou a filmar a reconstrução, a reabilitação desse cinema, que está a acontecer neste momento, todas as semanas vamos filmar esse reconstruir. Que é a matéria de um lugar que já existiu, que já foi muito importante para as pessoas e que eu depois também quero cruzar com essas memórias. Mas está em construção [Risos]. O cineteatro e o meu filme.
J.O.: Eu acho que nunca mais vamos fazer um filme como o “Guerra”, já disse isso muitas vezes. Foi uma coisa trágico-feliz, o percurso da pessoa que está no filme coincide com o percurso da personagem, e as duas coisas são inseparáveis, e a pessoa que está de fora está a escrever o próprio filme e o próprio destino. Acho difícil conhecer outra vez uma pessoa assim e fazer um filme em primeiro grau. Tudo ali é ficção e nada é ficção. Nem vamos ter esse compromisso, porque custou-nos muito, foi uma coisa muito feliz e muito dura. Portanto, agora é uma coisa mais do que ele nos passou, dos valores, tentar estar à altura daquilo que se faz, uma coisa bastante clássica, tentar estar à altura dos sentimentos das personagens e das pessoas. Mas não faço ideia, é tentar não fazer batota, tentar ser justo por aquilo que se filma. E essa ideia de comunidade, tentar recuperar certos valores clássicos que – não é saudosismo – de facto eram importantes, amizade, companheirismo, justiça. Não aquela coisa da cinefilia sequer, um problema da cinefilia, tu vês um filme do John Ford e queres fazer um filme como o John Ford, não é isso, é mais os valores que estão lá.
M.R.: E cenas que queres viver também, não é coisas que queres só pôr no cinema, coisas que em primeiro lugar queres tê-las para ti, e vivê-las, e passar por elas, e depois captá-las de alguma maneira.
J.O.: Essa ideia de que para fazer um filme tem que haver um motivo forte, tem que haver um compromisso com alguma realidade, com algumas pessoas, que é a ideia que o José Lopes nos passou.