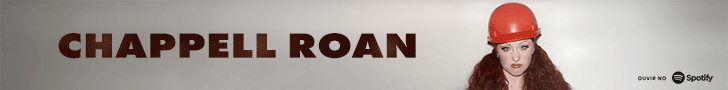Ermo: “Queremos continuar a fazer o que queremos e o que gostamos de fazer”

Com o lançamento do álbum Lo-fi Moda, o duo Ermo, difícil de categorizar musicalmente, gerou consenso junto da critica: um projeto diferente e disruptivo está a surgir. A Comunidade Cultura e Arte falou com António Costa e Bernardo Barbosa, as duas faces ocultas que dão corpo ao projeto. Numa conversa descontraída, falou-se da formação do grupo, do processo criativo que os levou até ao último álbum, bem como as influências estéticas que o distinguem, e ainda o que pretendem fazer depois de Lo-fi Moda. Houve também tempo para discutir a participação no festival Vodafone Mexefest, a acontecer no dia 24 de Novembro.
Começando pelo início, por que escolheram o nome Ermo? Não consegui encontrar em entrevistas anteriores nenhuma justificação.
António Costa – A sério, não conseguiste?! [risos] Costumava ser aquela pergunta da praxe que chegava sempre em primeiro lugar. A ideia para o nome surgiu logo da primeira vez que nos juntámos. É uma palavra que nos diz muito. Pelo seu significado, que na nossa perspetiva representa um bocado o lugar que nós queremos tomar: um pouco à parte, fazer algo diferente; mas ao mesmo tempo também é uma palavra que soa bem. Tem duas sílabas, é limpo, ’tás a ver?
Bernardo Barbosa – Acho que foi uma boa decisão que tomámos no passado. Na altura, foi uma cena imediata que chegou quase de forma intuitiva. Ainda me lembro do momento em que o António sugeriu o nome. E pensei: “sim, é um bom nome, é um ótimo nome”. Muita coisa mudou, mas continua a fazer sentido, e isso é algo que nos faz felizes. Ficamos felizes por não ter assim um nome fatela que só ficava bem dantes.
Inicialmente, quando se juntaram, a vossa parceria resultou facilmente? Juntaram-se muito novos, existiam com posições definidas para cada um de vocês?
A.C. – O primeiro sinal de que ia ser fácil foi o facto de, nos dias em que nós nos conhecemos, começámos logo a falar imenso. Já partilhávamos imensos interesses sem nunca termos falado. Conhecíamo-nos de vista da escola secundária, mas foi imediato na medida em que, quando tu te dás bem com a pessoa com quem estás a trabalhar, a sinergia acontece muito mais facilmente.
B.B. – Sim, acho que apesar de todas essas nuances em termos de método – por exemplo, no facto de, no início, mesmo nos primeiros concertos, existir uma guitarra acústica que era o António que tocava – passámos por várias fases, mas, no fim de contas, se avaliarmos bem todo o percurso, sempre foi um trabalho partilhado em todos os aspetos, e um trabalho criativo a dois. Sempre funcionou de uma maneira saudável desde o início. Vamos fazendo a nossa evolução enquanto artistas e enquanto músicos juntos, e acho que isso é interessante. Ajuda-nos também a que essa evolução seja mais rápida e funcione melhor.
Em termos de tarefas, há expetativas do que cada um tem que fazer ou simplesmente é um processo colaborativo o suficiente para isso nem existir?
A.C. – A expetativa é cada um de nós ter um input criativo de valor. Obviamente, ambos damos contribuições diferentes de personalidade, ’tás a ver? Ambos estamos à procura de uma visão diferente na mesma música, mas o que estamos à procura é de um input para ele [o Bernardo] numa letra e para mim num instrumental, e vice-versa.
B.B. – Ya, acho que é fazer o possível para fazer boa música. Não importa de onde vem o quê. Estamos a trabalhar para que soe bem e é um bocado isso o nosso objetivo.

Em entrevistas anteriores, disseram que se sentiram “os gajos despidos e um bocado totós, o patinho feio” que não se inseria, relativamente à incursão brasileira no festival DoSol. Porquê?
A.C. – Começa logo pela natureza do festival. Nós já tínhamos feito algumas tours lá fora… e honestamente, a expetativa que nós tínhamos para as tours em que participamos, era de ser logo à partida o patinho feio, porque somos o patinho feio em todo lado para onde vamos. E isso é algo que nós até carregamos como uma medalha, gostamos disso. Neste caso foi diferente, porque era um festival segmentado originalmente para o rock, hardcore e semelhantes. Nós termos chegado lá e eles estarem à espera que nós tocássemos o Amor Vezes Quatro ou o Vem Por Aqui chocou logo à partida. Nós queríamos levar o Lo-fi Moda feito para lá. Na altura ainda nem tínhamos sequer bem a ideia do que é que ia ser o disco. Chegando lá, chocamos com as expetativas que eles tinham para nós e com as expetativas que nós tínhamos do festival. Basicamente foi assim um imbróglio um bocado chato, mas que, no final, é quase a razão do Lo-fi Moda existir, o termos lá ido.
B.B. – Concordo.
Foi aqui que pararam para pensar no Lo-fi Moda e no que é que pretendiam? Passar a escolher o lugar que pretendiam nos próximos festivais?
B.B. – Foi o momento em que tomámos uma decisão que pode parecer óbvia, mas que não é, se tu realmente a levares a sério. Foi a decisão de trabalhar até fazermos o disco que queríamos exatamente fazer. Fazermos a cena que queríamos mesmo fazer. Não deixar nenhuma ponta solta nem nada por limar. Acho que foi um bocado meter na cabeça que agora temos mesmo que fazer a cena que vem, a cena que nós queremos estar a fazer. Acho que conseguimos.
A.C. – Deixar de ser tão indecisos. Ermo continua a ser uma banda difícil de catalogar, mas neste momento é muito mais fácil inserir num slot de festival, por exemplo, às onze e meia, porque temos strobes e existe um kick do início ao fim. Antigamente, o show era muito mais flutuante.
Também disseram anteriormente que encontrar um fio condutor para o Lo-fi Moda foi muito complicado. Em que medida?
A.C. – Foi mais complicado talvez no final, quando as músicas já estavam feitas. Porque nós queríamos que cada uma tivesse a sua valência diferente; ser especial por razões diferentes. No final, se calhar, dar um nome ao disco, por exemplo, ou conseguir pô-lo todo debaixo do mesmo teto, não era tão óbvio como noutros discos. Mas resultou, lá está, pela dimensão do digital.
B.B. – Acho que as músicas partiram muito de espaços diferentes e universos diferentes. O desafio nessa tal última fase de produção acabou por ser aquele: fazer com que tudo colasse bem. Cimentar as músicas, tornar aquilo – que até tinha começado com algumas ideias um bocado fora, uma aqui, outra ali – num único objeto coeso e que funcionasse bem do início ao fim.
“Somos nós, os nossos instintos, aqui representados.” Porquê que usaram esta frase para descrever o último álbum?
A.C. – Não me lembro de dizer isso, por acaso. [risos]
B.B. – É uma descrição um bocado fiel daquilo que aconteceu. Anteriormente, havia muito aquela cena de uma música surgir com base, por exemplo, num texto. As primeiras músicas que fazíamos tinham essa base poética e havia já esse conteúdo, e esse texto já ditava um bocado a aura. No Lo-fi Moda começámos com ideias que ao mesmo tempo são mais concretas, mas mais difíceis. Como por exemplo, um som. ‘Tás a perceber? Como é que tu interpretas aquele som, aquele som tem uma letra que diz o quê? E tudo isso teve que partir do nosso instinto. Saiu um bocado no imediato e depois foi muito calculado. Quase como atirares qualquer coisa contra a parede e depois tentares dar significado.
A.C. – Exatamente.

Encontrámos referências vossas a residências artísticas que parecem, pelo menos, ter sido importantes no processo criativo do álbum. Podiam explicar como é que ocorreram?
A.C. – Nós ‘tivemos em residência no GNRation em Braga, antes de ir para o Brasil. Na altura, o nosso objetivo era musicar o portefólio dos Encontros da Imagem, que é um festival de fotografia em Braga. E por acaso alguns dos produtos que fizemos nessa residência artística encontraram lugar no disco. Mas a maior parte ou sofreu alterações gigantes, ou ficou ali. A residência artística é uma coisa à qual as pessoas dão esse nome, mas muitas das vezes tu nem estás propriamente a fazer uma residência artística, ou a ter o apoio do Estado para o fazer. Nós, por exemplo, no mês de outubro decidimos ir para o Gerês. Pagámos uma casa e lá ficámos, não tínhamos ninguém a fazer o backing disso. Mas foi uma residência artística no mais puro dos sentidos.
B.B. – Para ser sincero, acho que sempre que não estamos em concertos, estamos em residência artística. Acho que a nossa vida é uma permanente residência artística.
No primeiro álbum, falava-se muito da vossa relação com Portugal e a Portugalidade. De algum modo, no Lo-fi Moda mostraram ter outra abordagem. A relação mudou? A vossa passagem no Brasil e a lusofonia tiveram impacto no vosso modo de trabalhar?
A.C. – Honestamente, a relação com a Portugalidade tinha muito que ver com aquilo que o Bernardo estava a falar há pouco, da ideia de uma música partir de um conceito. Por exemplo, Portugalidade era das poucas coisas – ou dos poucos conceitos – que nós podíamos cantar que realmente nos dissesse alguma coisa e viesse mesmo das entranhas. Neste momento, como a abordagem é muito mais musical e artística do que poética, no seu sentido mais lato, não existe essa relação direta; não há uma linha óbvia que se possa criar, acho eu.
B.B. – Sim, é a mesma cena de, tipo, não existirem referências musicais ou influências de literatura claras, tal como existiam no Vem Por Aqui, onde tínhamos algumas referências presentes, como textos de Pessoa ou discos do Zeca Afonso. Essa cena clássica de Portugal, ainda achamos que é muito boa, obviamente, tudo são obras de grande qualidade e fez-se cenas muito fixes em Portugal, mas agora era um bocado, tipo, deixar de parte tudo o que que se anda a fazer em todo o lado e dedicar-nos à nossa cena, tentarmos explorar o nosso som, encontrar-nos naquilo que fazemos.
A.C. – Nós costumamos brincar e dizer que este é o nosso primeiro disco, muitas vezes nem sequer estamos a pensar nisso e dizemos “o nosso primeiro disco”.
Esperavam, de alguma forma, o consenso gerado em torno do Lo-Fi Moda? (“Impossibilidade de lhe ficarmos indiferentes” – Público / “Provavelmente a melhor banda portuguesa do momento” – Bodyspace)
A.C. – Epá, era uma coisa que almejávamos, claramente. Tu não fazes um projeto a tentar quebrar barreiras sem querer um bocadinho disso. Mas nunca foi um objetivo nosso, ou sequer uma coisa que considerássemos sequer meter num press release.
B.B. – Sim, acho que não temos que concordar ou discordar, temos que ficar felizes com isso e agradecer, não é? Que o pessoal curta a nossa cena e, especialmente, que a imprensa curta a nossa cena. Queremos continuar a fazer o que fazemos, o que nós queremos fazer, e o que gostamos de fazer. É um bocado isso.

A estética vaporwave parece patente no Lo-fi Moda. Vocês, de algum modo, trazem essa bandeira para Portugal? Os agachamentos na capa do álbum, o estarem tapados e o som digital inserem-se muito neste movimento pós-2000. Foi intencional ou consideram o sabor dos tempos?
A.C. – [risos] É o sabor dos tempos, provavelmente. Não foi intencional, tipo “bota mandar aqui uma estética vaporwave que é para o pessoal curtir”. É uma estética que nós gostamos; mais do que gostar, apreciamos. Somos apreciadores desse tipo de música, não é uma coisa que nós queiramos colar, até porque a própria ideia de estarmos tapados é algo exclusivo a este disco. Não prometemos que vamos continuar tapados para o próximo. É uma bandeira que se calhar carregamos desta vez, sim.
B.B. – Ya, acho que é isso.
Irão brevemente tocar no Vodafone Mexefest. Não sei se já tiveram oportunidade de ir ao festival enquanto espetadores, mas existem várias salas. Alguma onde gostassem de tocar ou ver alguém em especial?
A.C. – Quero ver os Primeira Dama ao vivo e gostava de ver Liniker. Vou de certeza gostar da garagem da EPAL, que é onde vamos tocar.
B.B. – Eu ainda não tive tempo para olhar para o cartaz, para todos os nomes, mas acho que o objetivo vai ser tocar e sair um bocadinho, divertirmo-nos e aproveitar essas cenas. É sempre fixe estar em festivais, ver outras bandas, conhecer outras bandas. Acho que é a cena mais fixe do festival quando vais tocar: poder falar com pessoas de outros sítios e não saberes bem o que é que vai acontecer, onde é que vais parar. Estamos bué ansiosos por essa data, é uma data especial, obviamente.
Quanto podemos ainda esperar dos Ermo? Já estão a trabalhar alguma coisa? Este caminho eletrónico é para continuar?
A.C. – A música será sempre mais digital porque é esse o nosso modus operandi. A alma da música provavelmente levará um grande shift para o próximo disco. A base continuará a ser digital, mas se calhar andamos a namorar um bocadinho mais aquelas ideias orgânicas, mesmo na estrutura de canção; gostávamos de ser um pouco mais orgânicos. E na própria evolução da nossa mestria do digital, o último patamar será soar orgânico; o digital bem feito é a isso que soa.
B.B. – Eu acho que estamos, pela primeira vez enquanto banda, numa posição extremamente confortável em que estamos a trabalhar no sentido de promover uma cena que já fizemos, que é o Lo-Fi Moda, e que ainda curtimos. Ao mesmo tempo, já estamos a tentar desenvolver novas ideias, e acho isso fascinante. Não sei bem como é que vai ser o som, ainda não podemos dizer nada acerca disso. Mas podemos dizer que vai ser outra vez uma cena que ninguém vai estar à espera e acho que vai ser – ou pelo menos queremos que seja – outra vez um passo em frente em termos de evolução, principalmente enquanto músicos.
Fotos de Tiago da Cunha